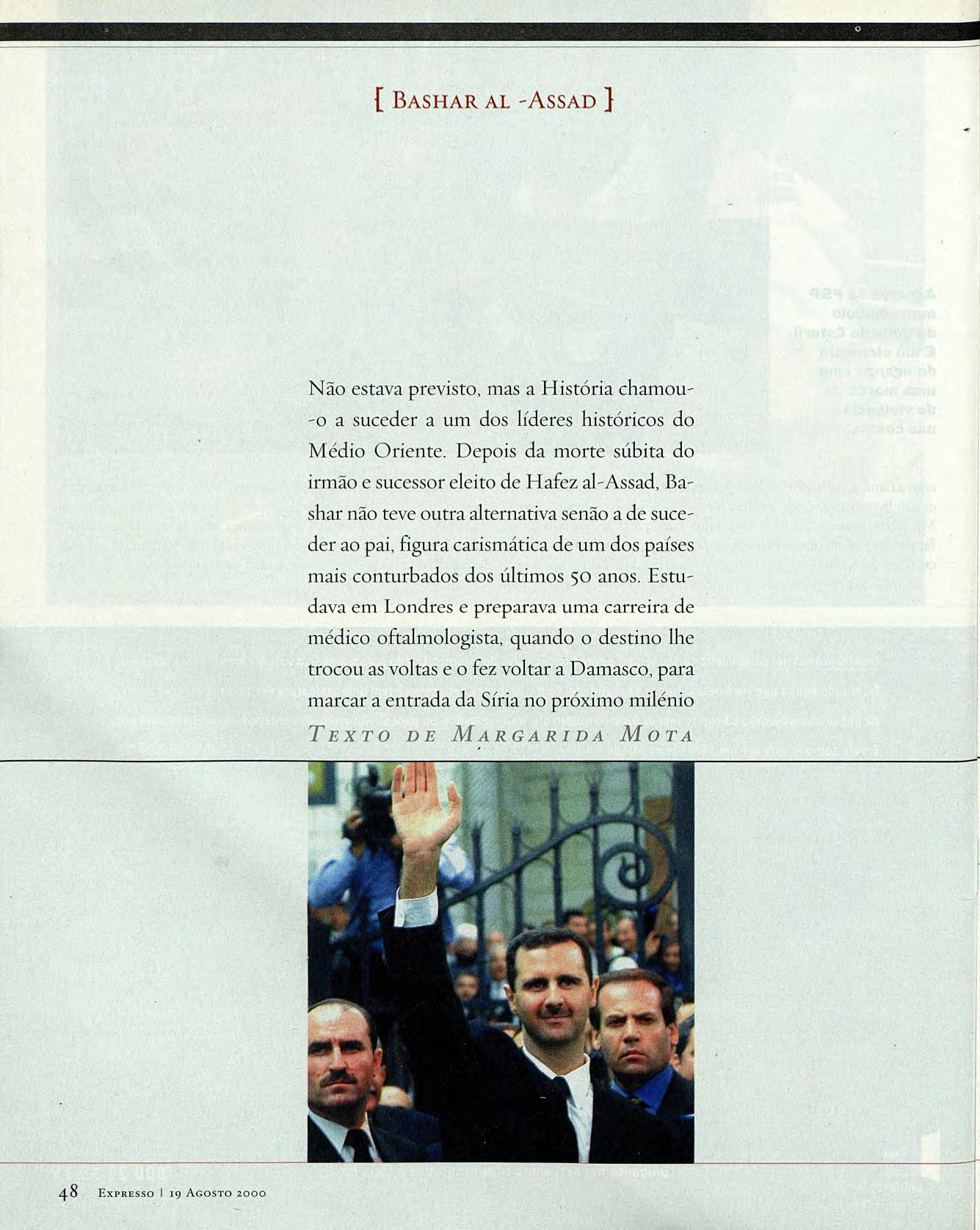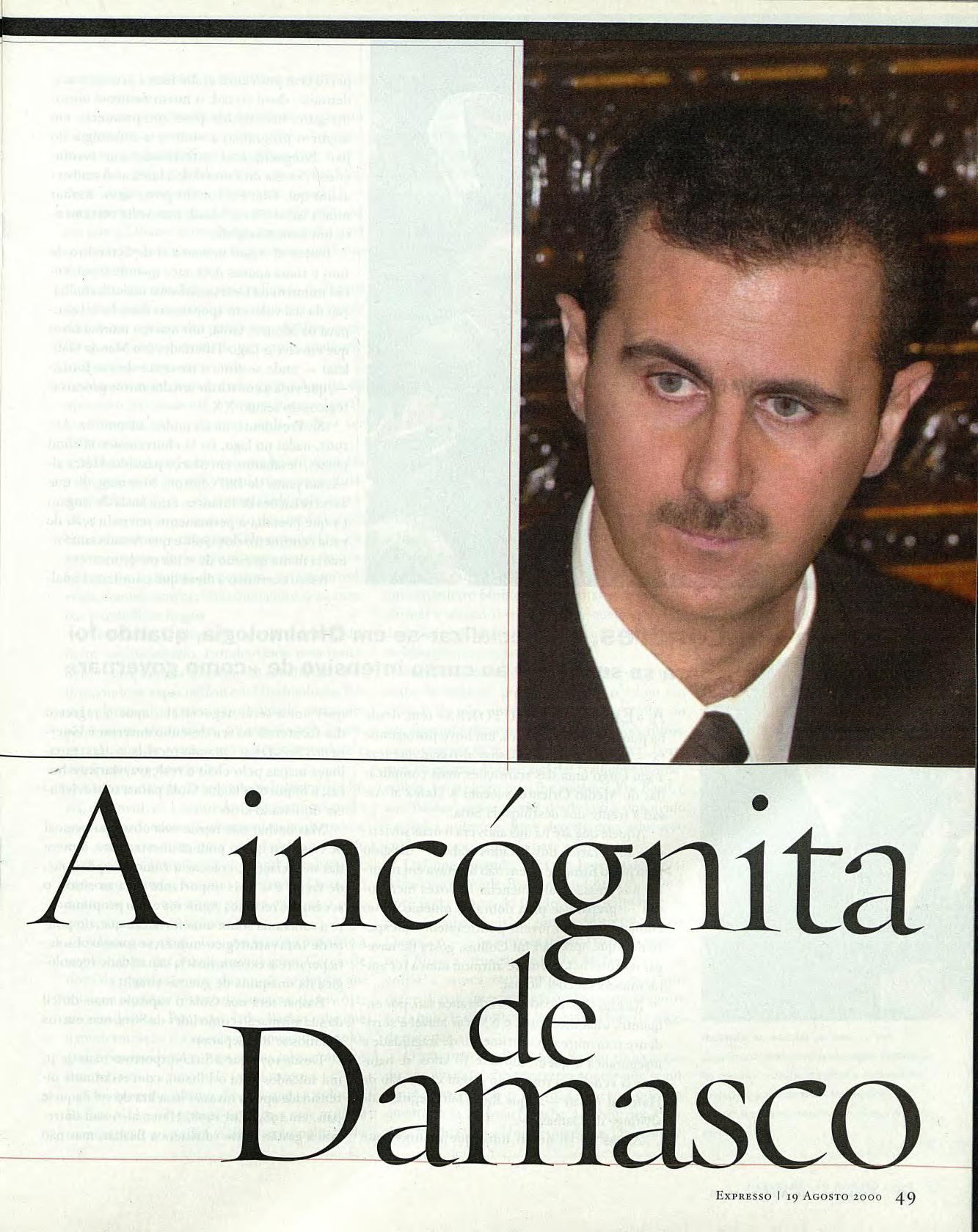Não estava previsto, mas a História chamou-o a suceder a um dos líderes históricos do Médio Oriente. Depois da morte súbita do irmão e sucessor eleito de Hafez al-Assad, Bashar não teve outra alternativa senão a de suceder ao pai, figura carismática de um dos países mais conturbados dos últimos 50 anos. Estudava em Londres e preparava uma carreira de médico oftalmologista, quando o destino lhe trocou as voltas e o fez voltar a Damasco, para marcar a entrada da Síria no próximo milénio

A “era dos doutores” tem, desde há pouco mais de um mês, um novo protagonista — o oftalmologista Bashar al-Assad que terá a seu cargo uma das transições mais complicadas do Médio Oriente: suceder a Hafez al-Assad à frente dos destinos da Síria.
Aquele que até há uns anos era o mais soviético e autocrático dos Estados árabes — dirigido pelo pulso firme de quem não hesitava em recorrer à repressão para silenciar as vozes incómodas — prepara-se para dobrar o milénio sob o comando de um jovem politicamente inexperiente, que aprecia Phil Collins, gosta de navegar na Internet e sempre afirmou nunca ter ambicionado suceder ao pai.
As suas capacidades de liderança são, por enquanto, uma incógnita, e o seu ar afável e sorridente transmite um sentimento de fragilidade e insegurança a quem, durante 30 anos, se habituou a venerar o rosto frio e sem expressão de Hafez al-Assad — o que lhe valeu o epíteto de “Esfinge de Damasco”.
Assad foi “o único líder que manteve um perfil cem por cento árabe face a pressões ocidentais”. “Sem Assad, o nosso futuro é muito inseguro, mas Bashar já se comprometeu em seguir o programa, a visão e a estratégia do pai. Ninguém está interessado em revoluções.” No dia do funeral de Hafez al-Assad era assim que falava a voz do povo sírio: Bashar nunca substituiria Assad, mas seria certamente um bom discípulo.
Bashar al-Assad nasceu a 11 de Setembro de 1965 e tinha apenas dois anos quando o pai, então ministro da Defesa, sofreu a maior humilhação da sua vida: em apenas seis dias, Israel ocupava os Montes Golã, um maciço montanhoso que envolve o Lago Tiberíades (ou Mar da Galileia) — onde se situa a nascente do rio Jordão —, que viria a constituir um dos mitos geoestratégicos do século XX.
“Sr. Presidente, eu sei onde é a fronteira. Até 1967, nadei no lago, fiz lá churrascos e lá comi peixe”, desabafou, em Março passado, Hafez al-Assad junto de Bill Clinton. Mas mais do que as recordações de infância, era a ânsia de vingança que presidia à permanente reivindicação de cada centímetro dos Golã e que Assad transformaria numa questão de “vida ou de morte”.
Assad costumava dizer que com Israel qualquer coisa seria negociável… após o regresso das fronteiras ao seu desenho anterior à Guerra dos Seis Dias. Quando recebia visitas, espalhava mapas pelo chão e realçava, durante horas, a importância dos Golã para a sobrevivência do Estado sírio.
Mas Bashar não herda essa obsessão pessoal de Assad, o que o poderá libertar para, à mesa das negociações, colocar a tónica naquilo que, de facto, é o mais importante para os sírios: o acesso aos recursos aquíferos e não propriamente a soberania sobre uma fortaleza que, do ponto de vista estratégico-militar, se tornou obsoleta perante a extraordinária capacidade tecnológica da “máquina de guerra” israelita.
Bashar terá nos Golã o capítulo mais difícil da sua afirmação como líder da Síria, mas outros desafios se lhe deparam.
Desde 1976 que a Síria “exportou” mais de 30 mil soldados para o Líbano, com redobrada intensidade após a invasão israelita do sul daquele país, em 1982. Em 1998, Hafez al-Assad entregou a gestão deste “dossier” a Bashar, mas não será por já conhecer a matéria que ele terá a vida facilitada.
A recente retirada de Israel do território libanês deitou por terra o mais sólido dos argumentos que justificavam e legitimavam a presença dos sírios. Timidamente, a imprensa libanesa — que já rotulou Bashar de Assad II — vai trazendo o assunto à liça, ansiando pelo dia em que o Líbano deixe de funcionar como uma “província” da Síria e se assuma como um Estado soberano.
Paralelamente, coloca -se a questão do futuro do Hizbullah, o grupo terrorista que, a partir do Líbano e sob o alto patrocínio da Síria, combatia o inimigo sionista e que agora, aparentemente, ficou sem motivação.
Mas se, com Assad, tudo girava à volta da oposição permanente e sistemática a Israel, com Bashar, por natureza, tudo poderá ser diferente.
Antes de Assad era o caos e a lei em vigor era a dos golpes de Estado. Assad trouxe estabilidade política à Síria — a estabilidade pela opressão e pelo terror —, mas não o desenvolvimento e muito menos a prosperidade económica. Faxes e computadores não faziam parte do ambiente de trabalho dos sírios, os telemóveis eram completamente desconhecidos e as antenas parabólicas ilegais.
A este nível, Bashar tem o perfil de um verdadeiro revolucionário. Familiarizado com o ocidente europeu, por força da sua estadia em Londres, onde se especializou em Oftalmologia, Bashar desenvolveu uma sensibilidade particular pelas novas tecnologias, sobretudo pela Internet, da qual se tornou um adepto entusiasta e um frequente navegador.
Estava em Londres, a especializar-se em Oftalmologia, quando foi chamado à Síria para se submeter ao curso intensivo de “como governar”
Da presidência da Sociedade Informática Síria, desenvolveu a maior das pressões para que o governo procedesse à informatização do país, o que começou a ser uma realidade a partir de 1998, com a introdução de 7 mil terminais de Internet. Ainda há duas semanas, Damasco anunciou que, até 2001, espera ampliar a rede em 200 mil novas ligações.
A Síria constitui, aliás, um terreno propício à implantação das novas tecnologias. Cerca de 60% da população tem menos de 30 anos e anseia que o país se liberte das amarras da história e se modernize. Por outro lado, Bashar sabe que a modernização e a aposta na inovação tecnológica é fundamental para atrair os investimentos financeiros de que o país tanto carece.
Um quarto e último desafio que se coloca a Bashar al-Assad prende-se com a sua própria manutenção no poder. A afirmação política do pai fez-se lutando contra um sentimento de inferioridade que o acompanhou desde o nascimento. Hafez al-Assad veio ao mundo em 1930, no seio da uma família alauita — cerca de 12% dos mais de 15 milhões de sírios —, da minoria xiita, vista pela esmagadora maioria dos sírios (sunitas), como uma seita herege, e consolidou o poder aglutinando à sua volta representantes de várias outras minorias, nomeadamente ismaelitas, cristãos, curdos, drusos, laicos…
Partindo desta base de apoio, Hafez al-Assad construiu e controlou a máquina do poder e garantiu a lealdade do Exército — onda a maioria das unidades de elite é composta por alauitas — e dos serviços secretos.
Se, por um lado, Bashar está legitimado por ser um Assad, o facto de ser um alauita granjeia-lhe, automaticamente, um conjunto de inimigos, designadamente dos Irmãos Muçulmanos, um grupo sunita exilado na Jordânia que se tem oposto violentamente ao predomínio alauita em Damasco. E o facto de ser solteiro, torna-o ainda mais vulnerável, pois não existe qualquer aliança matrimonial que o possa socorrer — contrariamente ao pai que, ao casar com uma alauita oriunda de um clã diferente, capitalizou apoio.
Talvez este aspecto não venha a constituir um verdadeiro problema se Bashar se conseguir afirmar e alterar o tradicional esquema de solidariedade tribal através de reformas políticas e da liberalização económica.
Bashar herda tudo por resolver e vê-se prisioneiro da falta de preparação para o cargo em virtude de não ter sido a primeira escolha do pai. Quando nasceu, Assad tinha já dois filhos: uma rapariga (a mais velha) e um rapaz, Basil, que, na esteira da mais fiel das tradições monárquicas, foi o eleito para lhe suceder. Foi Basil, e não Bashar, quem se viu, desde cedo, envolvido nas lides militares e foi alvo de uma educação cuidada e vocacionada para a liderança.
Daí que, quando, a 21 de Janeiro de 1994, Assad surpreende Bashar, em Londres, com a notícia da morte do irmão — na sequência de um acidente de viação, perto do aeroporto de Damasco — e o convoca para o regresso urgente à Síria, a situação se tenha assemelhado ao voltar à estaca zero porque tudo estava por fazer: havia que formar Bashar rapidamente para que ele cumprisse a nobre missão de suceder ao pai.
O percurso académico de Bashar tinha seguido por um caminho contrário àquele que seguiria se tivesse sido o eleito. Começou por frequentar o liceu franco-árabe Al-Hourriet, estudou Medicina na Universidade de Damasco e, entre 1988 e 1992, Oftalmologia no hospital militar de Techrin, igualmente na capital síria. Depois, seguiu-se o refúgio londrino, para os estudos especializados — de onde lhe advém a alcunha de “o doutor” — e de onde é arrancado em 1994, para ser submetido a um curso rápido e intensivo de “como governar”.
Sem qualquer preparação militar — algo inaceitável para as elites governativas de um país do Médio Oriente —, logo ingressou na Academia Militar de Homs e em Janeiro de 1999, foi graduado coronel. Momentos após a morte do pai, o Parlamento promoveu-o a general e nomeou-o comandante-chefe das Forças Armadas.
Paralelamente, multiplicaram-se pelas ruas os seus retratos, ele que aos olhos do povo era um ilustre desconhecido, contrariamente ao irmão Basil que já tinha conquistado o afecto dos sírios.
A herança de Bashar é pesada: uma Síria economicamente frágil e um Estado pródigo em coleccionar inimigos — com Israel e Iraque à cabeça
Ainda o pai era vivo, quando Bashar nomeou o seu primeiro inimigo a abater — a corrupção, dando início a uma espécie de “operação mãos limpas” e banindo do governo e do exército o mais pequeno vestígio de corrupção, ainda que tal significasse o afastamento de alguns dos mais antigos colaboradores do pai.
A morte de Hafez al-Assad, a 10 de Junho de 1999, precipitaria todo o processo de legitimação de Bashar, num país que, sendo uma república, estava prestes a reconhecer uma sucessão dinástica. E eis que à legitimidade sanguínea se junta todo o processo de legalização burocrática vertiginosamente acelerado: horas depois do pai falecer, o Parlamento reúne-se de urgência e altera a Constituição, passando a idade mínima para ascender a Presidente de 40 para 34 anos (a idade de Bashar); em meados do mês, o Partido Baas — partido único, no poder também no Iraque — reúne-se em congresso e escolhe Bashar como o seu candidato à presidência; dias depois, o Parlamento nomeia-o Presidente; a 10 de Julho, num referendo popular, 97,2% dos sírios aprovam-no e uma semana depois Bashar al-Assad toma posse, tornando-se, assim, o “Presidente de todos os sírios” e, aos 34 anos, o mais jovem Chefe de Estado em todo o mundo.
A herança de Bashar é pesada: herda uma Síria que ainda é olhada com desconfiança mas que, a partir de 1996, deixou de constar da lista do Departamento de Estado norte-americano de países que apoiam o terrorismo; herda um país economicamente frágil, mas jovem e com vontade de explorar os caminhos da revolução informática; herda um Estado pródigo em coleccionar inimigos — com Israel e Iraque à cabeça —, mas que se tornou um actor incontornável da paz no Médio Oriente.
Se Assad foi “o protector dos leões” (o significado, em árabe, de “Hafez al-Assad”) — fiel ao lema de que “mais vale ser temido do que amado” —, Bashar tem a aparência de um pequeno cachorro a quem se exige, porém, a força e garra de um felino.
Ascendeu ao trono por unanimidade, mas só o tempo dirá se o instinto de Thomas Friedman, um articulista do “The New York Times”, estava certo quando, imediatamente após a morte de Assad, escreveu: “A lápide deveria dizer: ‘Hafez Assad, Presidente temido e feroz. Durou demasiado tempo e morreu cedo demais’.”
OS PRÓXIMOS LÍDERES
Quem se seguirá? É esta a pergunta que com maior insistência paira no subconsciente de todos quantos se interessam pela conturbada história dos países árabes do Médio Oriente e Norte de África.
Em pouco mais de um ano, Jordânia, Bahrain, Marrocos e Síria despediram-se de líderes carismáticos e experientes e sentaram na “cadeira do poder” jovens na casa dos trinta anos. As atenções viram-se agora para os veteranos ainda em acção e os palpites sobre quem será o próximo a claudicar dispersam-se. Será o palestiniano Arafat ou o líbio Kadhafi? O egípcio Mubarak ou qualquer um dos soberanos dos pequenos reinos do Golfo?
Não há analista que se atreva a fazer previsões — há anos que a saúde do Rei Fahd, na Arábia Saudita, está por um fio —, mas um facto é incontornável: no Iraque, Saddam Hussein já tratou de introduzir um dos filhos na estrutura política do país. A 27 de Março, Uday Hussein — um engenheiro doutorado em Ciência Política pela Universidade de Bagdade — foi eleito para a Assembleia Nacional iraquiana com… 99,99% dos votos. Aos 35 anos, acumula uma quantidade impressionante de cargos, desde o comando das milícias Fedayin de Saddam até à presidência do sindicato dos jornalistas, passando pela direcção de inúmeras associações juvenis, estudantis e desportivas e pela administração de vários órgãos de comunicação social. Essa concentração de poder fê-lo coleccionar inimigos com fartura. Em 1996, sobreviveu como que por milagre a uma chuva de balas que crivaram o automóvel em que seguia e o atingiram em dez pontos do corpo.
A sua recuperação foi lenta e demorada, mas quando voltou a televisão iraquiana fez questão de passar imagens suas a nadar no rio Tigre, para que não houvesse dúvidas de que o “enfant terrible” estava de volta e em grande forma.
No clã Hussein, as disputas, por vezes, só se resolvem à lei da bala. Em 1995, Uday esteve na origem da fuga de dois genros de Saddam para a Jordânia. O episódio humilhou o patriarca da família de tal forma que logo Uday procurou redimir-se: atraiu os cunhados a Bagdade e… participou, pessoalmente, na sua execução.
A entrega do lugar de “delfim de Saddam” a Uday não é unanimemente aceite. Qusay, o filho mais novo de Saddam, desempenha importantes funções ao nível da estrutura militar do regime, pelo que nem sempre a coexistência entre os dois irmãos é fraterna.
Poucos conhecem Uday de perto, mas muitos dos que com ele se cruzaram arrependeram-se para toda a vida. Quando a selecção iraquiana de futebol falhou a qualificação para um campeonato do Mundo, Uday — que adora futebol — mandou prender os jogadores. Depois, chicoteou-os e torturou-os. Se vier a suceder ao pai, como se espera, Uday passará a personificar, entre a nova geração de “príncipes” — a “geração Internet”, como já é chamada —, uma nova modalidade de liderança. Será a subida ao poder de “playboys” assassinos e sanguinários, sedentos de poder e apenas preocupados com o estatuto pessoal, por oposição a figuras tais como Abdallah II da Jordânia ou Mohammed VI de Marrocos, por exemplo, que não só conquistaram de imediato os súbditos como as simpatias do Mundo.
Artigo publicado na Revista do “Expresso”, a 19 de agosto de 2000