Fawzia desafiou os códigos sociais para ser algo mais do que mera esposa. Enaiat foi abandonado pela mãe para não ser usado como moeda no pagamento de uma dívida. Dois relatos de vida do Afeganistão para o mundo

Ela chama-se Fawzia Koofi, tem 36 anos, é tajique e quer ser Presidente do seu país. Ele chama-se Enaiatollah Akbari, tem “mais ou menos” 22 anos, é hazara e sonha reencontrar a mãe. Ambos são afegãos, nascidos num contexto sociocultural que os transformou em ‘filhos de um Deus menor’: Fawzia, por ser mulher, nasceu destinada a uma vida subserviente; Enaiatollah, por ser hazara, cresceu com o estigma da discriminação.
Fawzia e Enaiatollah nunca se cruzaram, nem mesmo em Lisboa, onde estiveram recentemente, com poucos dias de intervalo, para promover as respetivas biografias.
Fawzia viajou acompanhada pelas filhas — Shaharzad (12 anos) e Shuhra (11 anos) —, para quem escreveu “Às Minhas Filhas com Amor…” (ASA). No livro, conta como os seus primeiros anos de vida foram moldados pela tradição que estipulava que nas casas de família existissem divisões reservadas aos homens, que obrigava as mulheres casadas a tornarem-se ‘invisíveis’ na presença de homens que não fossem seus parentes, que não previa a comemoração dos aniversários das raparigas e que, na vida conjugal, justificava os maus-tratos como uma prova de amor.
“As raparigas, para a cultura da minha aldeia, não tinham valor. Mesmo hoje em dia, as mulheres rezam para ter rapazes, porque só um rapaz lhes confere estatuto e garante a felicidade dos maridos”, comenta Fawzia. Quando ela nasceu, a mãe ficou desalentada com o sexo do recém-nascido. “Virou a cara para o lado e recusou-se a pegar em mim”, conta. “Embrulharam-me num pano e deixaram-me ao sol abrasador. Fiquei lá fora quase um dia inteiro, a gritar.”
Fawzia sobreviveu a esse atentado, facto que lhe vincou a personalidade. Pediu à família para ir à escola, trabalhou como professora de inglês, resistiu a usar burqa, não abdicou de pintar as unhas e de usar saltos altos durante o regime dos talibãs e enfrentou-os sempre que prendiam o marido sem razão.
Até que em julho de 1998, com 23 anos, foi mãe. “Quando a minha primeira filha nasceu, toda a família ficou feliz. Quando ela tinha seis meses, fiquei grávida pela segunda vez. Não se esperava que nascesse outra rapariga, mas nasceu. O meu marido não me falou nos momentos a seguir ao parto. A pessoa que ficou mais infeliz foi a minha irmã.”
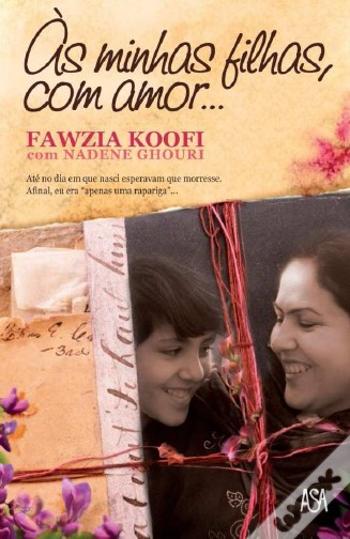
Na origem deste tratamento dado às mulheres está, segundo Fawzia, todo um sistema social que reconhece o homem como “o proprietário da família”. “Mas tudo está a mudar. Eu nunca alterei o meu nome mesmo quando era casada [hoje é viúva]. As minhas filhas têm o meu nome de família. Sobretudo nas cidades, há cada vez mais mulheres a ir à escola, a trabalhar e a ganhar dinheiro.”
Fawzia reconhece que as afegãs são vítimas. “Mas ao mesmo tempo somos lutadoras, contribuímos para a mudança, dentro da própria família.” Por experiência própria, garante que “os afegãos tendem a confiar cada vez mais nas capacidades das mulheres.”
Filha de um membro do Parlamento e neta de um chefe tribal, Fawzia transporta nos genes o dever e a honra de prestar serviço público. Em 2005, foi eleita deputada por Badakhshan — a província mais setentrional e uma das zonas mais pobres e conservadoras — e em 2010 foi reeleita. “O estatuto da mulher é a minha maior batalha. Fui a primeira mulher da história do Afeganistão a ser vice-presidente. Nas eleições de setembro passado, fui a mulher mais votada [atualmente, há 69 deputadas]. Fui a primeira mulher da minha família a estudar e a seguir a política. Sinto que abri o caminho para outras…”
Fawzia não quer ficar por aqui. Em 2014, quer candidatar-se à presidência do Afeganistão. O país está em guerra, mas considera a ambição realista. “As pessoas votam em quem trabalha para que haja mudanças e melhorias na vida quotidiana: clínicas e escolas, por exemplo, para que as crianças não tenham de andar horas a pé para ir às aulas.”
Abandonado aos 10 anos
Durante oito anos — após ser abandonado pela mãe numa estalagem de Quetta, no Paquistão, e assim ficar só no mundo —, Enaiatollah Akbari massacrou os pés de tanto andar. “No Mar Há Crocodilos” (Objectiva) descreve a sua odisseia desde a aldeia natal — Nava, na província de Ghazni, onde um dia viu o professor ser executado pelos talibãs por se recusar a fechar a escola onde, acusavam os talibãs, eram ensinadas “coisas que Deus não quer que sejam ensinadas” —, até Turim, na Itália, onde hoje vive como refugiado político.
O pai de Enaiat trabalhava como camionista e, por ser hazara — xiitas, como os iranianos —, ficou incumbido de transportar mercadorias para o Irão. Um dia, foi assaltado e assassinado. O patrão, exigindo ser ressarcido pelos prejuízos sofridos, exigiu que a viúva lhe entregasse um dos filhos. Por ser o rapaz mais velho, Enaiat era o mais vulnerável. Para o proteger de um futuro como escravo, a mãe optou por abandoná-lo, longe dali.
Enaiat ficou entregue a si próprio “mais ou menos aos dez anos”. Em Ghazni, “não havia registo civil nem nada que se parecesse” para que saiba com rigor o dia em que nasceu. Fabio Geda, o autor da biografia, explica como foi possível reconstituir toda a viagem. “No início, tentei reavivar-lhe a memória. Ele recordava-se de algumas coisas, mas não de forma cronológica. A internet facilitou o trabalho. Há fotos, filmes, mapas, imagens de satélite dos sítios que ele percorreu.”
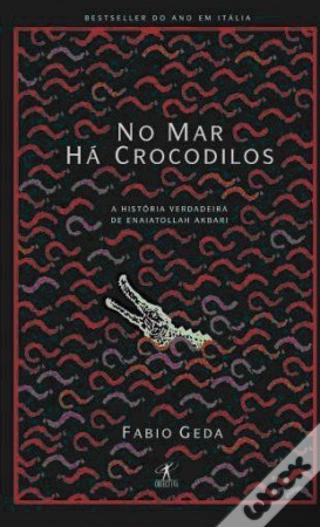
Aos poucos, Enaiat recordou-se como, no Paquistão, trabalhou como vendedor ambulante, dormindo na rua e lavando-se nas mesquitas. Depois seguiu para o Irão, onde trabalhou três anos na construção, dormindo no estaleiro. Um dia, a polícia apareceu de surpresa para prender os ilegais e Enaiat foi repatriado para Herat, uma cidade afegã “cheia de traficantes à espera de repatriados” para os levar de volta ao Irão.
Para cruzar fronteiras, Enaiat colocava-se à mercê de traficantes a quem pagava com o dinheiro que ganhava a trabalhar. Viajou em autocarros, furgonetas de caixa aberta, camiões — escondido entre as mercadorias ou esmagado num fundo falso — comboios, ferrys e mesmo num bote insuflável. Mas foi a pé que atravessou as montanhas entre o Irão e a Turquia, juntamente com 76 afegãos, curdos, paquistaneses, iraquianos e bengaleses, andando de noite e dormindo de dia. Ao 18º dia viu “pessoas sentadas”, mortas por congelamento. Ao 26º dia, a montanha finalmente acabou. Dos 76 companheiros, 12 tinham morrido pelo caminho.
Os crocodilos do Mediterrâneo
Enaiat recorda ainda como viveu em parques de Atenas à mercê de pedófilos e de como, durante a travessia do Mediterrâneo a caminho da Grécia, com mais quatro crianças, a bordo de um bote de borracha, surgiu o medo dos crocodilos… “Naquele dia em que aqueles miúdos tiveram medo dos crocodilos — que não existem no Mediterrâneo — recordei-me dos meus tempos de infância, quando eu tinha medo que dentro do armário ou debaixo da cama houvesse um monstro”, explica Fabio Geda. “Os meus pais diziam-me que o monstro não existia e explicavam-me quais eram os verdadeiros perigos da vida. Naquele dia, aqueles miúdos enfrentaram, verdadeiramente, muitos perigos: as polícias turca e grega, os barcos grandes… Mas o que os assustava era o monstro dentro do armário…”
Para Enaiat, “todos os dias foram difíceis”, porque “não tinha identidade, bilhete de identidade ou passaporte”. “Era um estranho para toda a gente. Quando a polícia grega nos bateu na esquadra e começamos a fugir, parecíamos os maus da fita, após termos feito algo de errado. Mas não era assim! Tinham-me dito que na Grécia, mal nos prendessem, tiravam-nos as impressões dos dedos e a partir desse momento qualquer clandestino estava lixado, pois não podia pedir asilo político noutro país da Europa.”
Para passar do Irão para a Turquia, Enaiat andou 26 dias a pé. Viu pessoas sentadas, congeladas pelo frio. Eram 77 homens, mas 12 morreram no caminho
Em Itália, Enaiat foi acolhido por uma família e enfrentou o processo de legalização como o início de uma nova vida. Começou a ir à escola e investiu nas aulas de italiano para lidar com as autoridades por boca própria. “Daniele Mastrogiacomo, um jornalista italiano, fora raptado pelos talibãs e o seu intérprete afegão fora degolado por um rapaz de 13 anos. A fotografia desse miúdo foi publicada num jornal. No dia em que a comissão ia decidir o meu futuro, levei esse jornal. Começaram a fazer perguntas para me colocar em dificuldades. Então, mostrei-lhes a foto: ‘Se eu tivesse ficado no Afeganistão, talvez me tivesse tornado neste rapaz’. Tenho pena do intérprete que foi morto, mas tenho quase a certeza que fiquei em Itália em grande parte por causa da sua história.”
Com a legalização, Enaiat volta a pensar na mãe. “Foi muito difícil aceitar o abandono da minha mãe, sobretudo nos três primeiros meses. Tive de começar tudo do zero e estava só num mundo que eu não conhecia. Mas isso fez-me bem. Ao não ter uma família que me acolhesse não corria o risco de ficar o dia todo enfiado num quarto a pensar: ‘Mamã, porque é que me abandonaste?’ Tinha de trabalhar, tinha de pensar em formas de resolver os meus problemas. E seguir em frente.”
Ao longo do livro, o leitor questiona-se várias vezes se o encontro com a mãe acontecerá. A resposta chega na última página. Enaiat chega à fala com a mãe, ainda que do outro lado do auscultador escute “apenas uma respiração”, recorda. “Percebi que também ela estava a chorar.”
Desde então, telefonam-se uma vez por semana. O reencontro está dependente de burocracias. Como refugiado político, Enaiat não pode regressar ao seu país. Teoricamente, poderia viajar até ao Paquistão, onde a família vive. “Mas não me dão visto. Teria de corromper alguém”, diz. A lei italiana prevê a figura da reunião familiar, mas os dois irmãos de Enaiat teriam de ficar para trás.
Ao telefone, Enaiat e a mãe nunca falaram do dia fatídico em que ela o abandonou. “Nem eu quero falar disso”, diz. “Ao lembrar-se desse momento, a minha mãe iria sentir-se muito pior do que eu.”
Artigo publicado no “Expresso Online”, a 9 de abril de 2011



