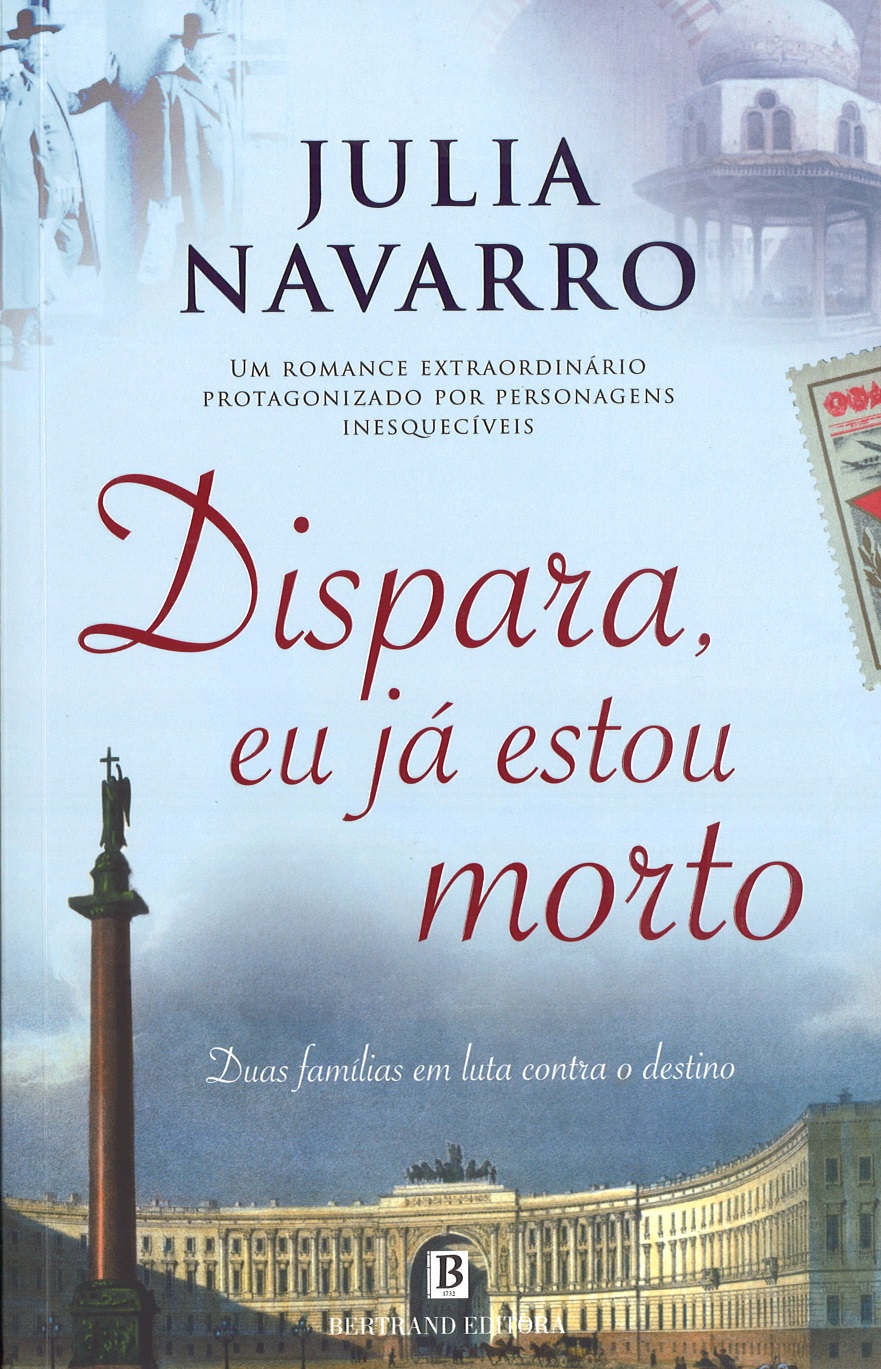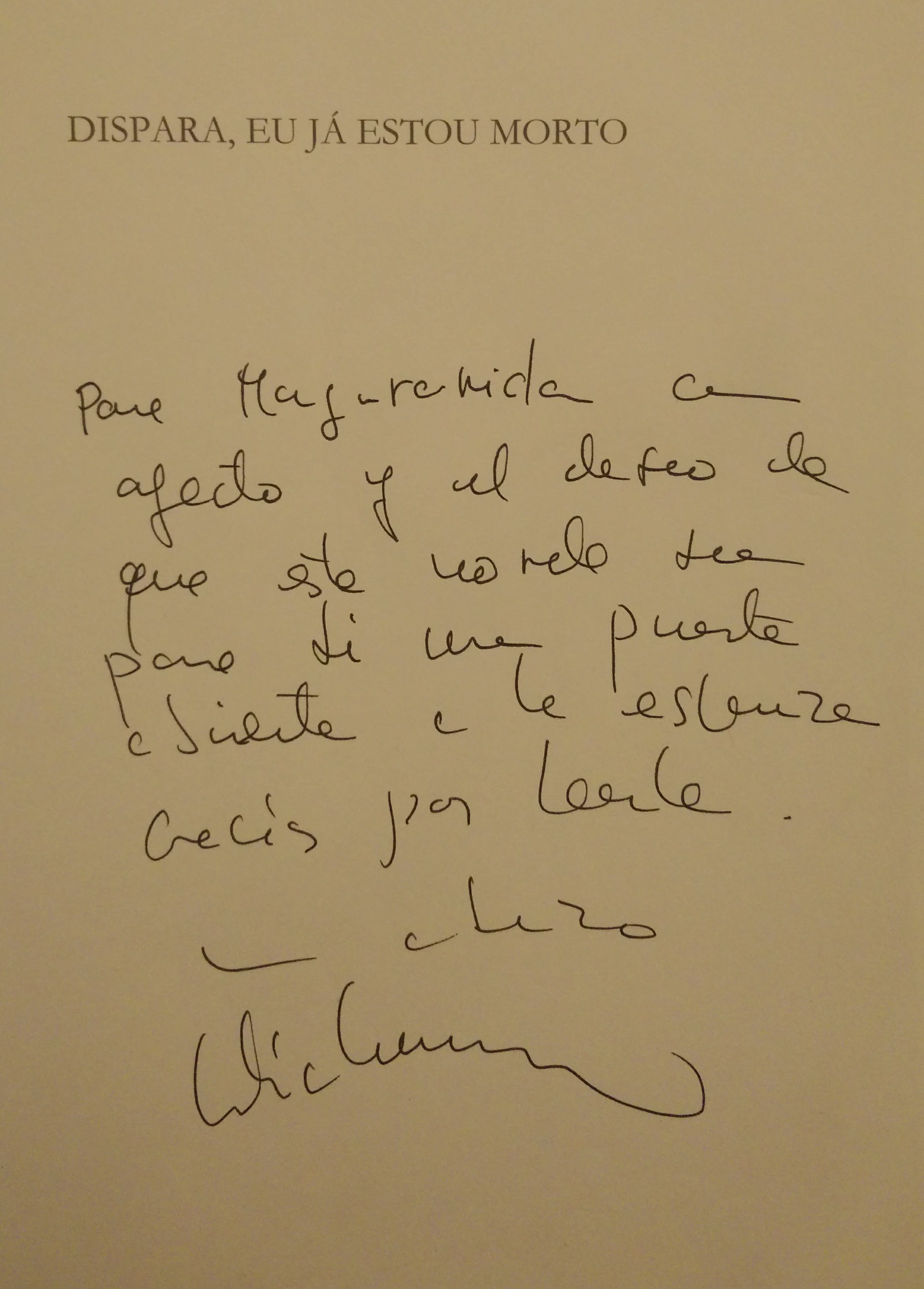Nem sempre judeus e palestinianos viveram de costas voltadas. “Dispara, Eu Já Estou Morto”, o mais recente livro da escritora espanhola Julia Navarro, versa o tema. Um “romance de personagens”, como ela o qualifica, passado entre finais do século XIX e meados do século XX, centrado no judeu Samuel Zucker e no árabe Ahmed Ziad e na luta de duas comunidades contra as armadilhas da História

Ruanda, Jugoslávia, Palestina… Quando as personagens começaram a ganhar vida na cabeça de Julia Navarro, a escritora espanhola hesitou sobre em que contexto histórico as situar. “Queria escrever um romance sobre a luta do homem contra as suas circunstâncias. Não elegemos onde nascemos e só essa circunstância já nos marca e determina que tipo de vida vamos ter. Não é o mesmo nascer-se em Portugal ou no Ruanda. Não é o mesmo nascer-se em Jerusalém-Leste ou Jerusalém-Oeste, onde há apenas uns metros de distância mas que significam nascer-se com uma cultura diferente, uma religião diferente e uma forma de ver a vida diferente. Queria escrever sobre como as circunstâncias marcam os homens e como os homens lutam para mudar as circunstâncias. Não sou determinista, acho que as coisas se podem mudar.”
A familiaridade da escritora com a região do Médio Oriente, que visitou várias vezes quando trabalhou como jornalista, desfez-lhe a dúvida. “Viajei pela região, conheci gente de uma e outra comunidade, ouvi muitas histórias e testemunhei outras e tudo isso me deixou marcas. Na hora de construir uma história, todas essas pegadas são importantes.”
“Dispara, Eu Já Estou Morto”, publicado em Portugal pela editora Bertrand, conta a história de duas famílias — a do judeu Samuel Zucker e a do árabe Ahmed Ziad — e de como as vidas de ambas se cruzaram numa época crucial para o desenvolvimento de um conflito que se arrasta até hoje sem fim à vista.
A narrativa começa em finais do século XIX, na Rússia cristã e czarista, onde ser judeu era uma maldição. Perseguido pela polícia política (Okhrana), suspeito de participar em reuniões clandestinas, Samuel — que em criança vira a mãe, a avó e dois irmãos serem assassinados durante perseguições aos judeus (pogroms) — foge do país onde nasceu rumo à Palestina, a Terra Prometida sonhada pelos seus antepassados e que então era uma província do Império Otomano. “Filho, no próximo ano em Jerusalém”, repetira-lhe o pai Isaac, vezes sem conta, antes de morrer, sob tortura, nas masmorras da Okhrana.
Quando o judeu Samuel desembarca no porto de Jaffa, a primeira pessoa que conhece é o palestiniano Ahmed, que ali esperava a chegada do sayyid Aban, o rendeiro da horta que cultivava e onde vivia com a família, para lhe prestar contas. Oriundo de uma família rica, poderosa e instalada em Constantinopla, Aban queixava-se do escasso rendimento que obtinha daquelas terras próximas de Jerusalém e decide vendê-las.
Samuel, que procurava um chão para recomeçar a sua vida, compra a horta que Ahmed trabalhava e que acabara de perder. “Sabes bem que na Palestina alguns judeus estão a construir pequenas quintas”, diz o judeu ao árabe. “É o que faremos aqui, mas respeitando a tua horta.” Durante décadas, os Zuckers e os Ziads desenvolvem sólidos laços e vivem como uma verdadeira família na “Horta da Esperança”, como os judeus a batizam. O natural crescimento das duas famílias e, sobretudo, a contínua chegada de judeus em fuga aos pogroms na Europa, vão enchendo a herdade de personagens, que Julia Navarro vai introduzindo na história.
“Eu não queria escrever um romance de bons e maus”, explica a autora. “Queria contar uma história de gente comum, em que ambas as comunidades expusessem as suas razões. Queria dar um passo atrás, como narradora, e deixar que as personagens resolvessem as coisas por si. Preocupava-me o resultado final, porque toda a gente tem uma opinião sobre o conflito no Médio Oriente…”
A escritora, nascida em Madrid, em 1953, recorda o momento em que essa preocupação se dissipou. O livro estava nas bancas em Espanha havia uma semana e, num encontro num clube de leitura, coincidiram uma judia e um palestiniano. “Pensei que me ia dar um ataque cardíaco… Mas quando ambos, separadamente, me disseram que não tinham nada a apontar-me porque eu tinha mantido uma atitude equidistante e correta relativamente ao problema, nesse momento fiquei tranquila e percebi que tinha cumprido o meu objetivo, que era contar uma pequena história dentro da grande História.”
O romance não ilude os atritos entre as duas comunidades, mas valoriza aquilo que as aproxima em detrimento do que as afasta. E ao faze-lo desconstrói mitos, nomeadamente o de que árabes e judeus são inevitavelmente inimigos. “Muita gente pensa que judeus e árabes têm estado sempre em confronto, o que não é verdade”, defende a escritora. “Puderam viver e tiveram uma convivência razoável durante séculos. Quando os judeus foram expulsos de Espanha, Portugal, França, Inglaterra e de outros países encontraram um sítio novo onde viver em países muçulmanos. Estabeleceram-se comunidades judaicas em Bagdade, Constantinopla, Cairo, Damasco e eram muito importantes. Não havia qualquer problema religioso.”
O livro mostra também como, antes de serem vítimas uns dos outros — porque hoje, efetivamente, há ódio de parte a parte —, palestinianos e judeus foram vítimas da própria História e de decisões políticas tomadas por outros em seu nome e que acabaram por ter um efeito devastador nas vidas dos cidadãos comuns. “Este livro está cheio de política, porque as personagens são filhos do seu tempo. Não se pode compreender o que se passa hoje no Médio Oriente sem ter em conta o que aconteceu durante a I Guerra Mundial e as decisões tomadas pelas potências da época, França e Inglaterra, após a derrota do Império Otomano, de que a Palestina era uma província havia 500 anos”, explica Julia.
Durante o conflito, os britânicos prometeram um lar aos judeus (Declaração Balfour, 1917), cada vez em maior número na Palestina. Simultaneamente, prometeram um grande Estado aos povos árabes, algo em que estes confiaram ser possível sobretudo após o empenho do famoso Lawrence, tenente do exército britânico, ao lado dos exércitos árabes. Com esta ambiguidade, os britânicos ganharam o apoio de ambos na luta contra os turcos e um quebra-cabeças que nunca conseguiram deslindar após ficarem com o mandato da Palestina.
No livro, palestinianos e judeus inquietam-se perante a posição dúbia dos britânicos. “A Inglaterra comprometeu-se com todos os que pudessem servir os seus interesses, que, a curto prazo, passam por ganhar a guerra. Também se comprometeu com os árabes. Poderá cumprir todas as suas promessas?”, interroga-se o judeu Samuel.
“A França quer ser a potência mandatária da Síria e do Líbano. Reclama o Líbano para os cristãos maronitas. Em Paris (conferência de paz de 1919) estão a pressionar Faysal para que aceite o mapa acordado pelos senhores Sykes e Picot em nome dos respetivos governos, o britânico e o francês, mas o príncipe resiste e defende a causa pela qual lutámos: uma nação árabe. Foi por isso que combatemos os turcos”, comenta o árabe Yusuf.
O romance não ilude os atritos entre as duas comunidades, mas valoriza aquilo que as aproxima em detrimento do que as afasta. E ao faze-lo desconstrói mitos, nomeadamente o de que árabes e judeus são inevitavelmente inimigos
A traição dos europeus e as promessas não cumpridas por parte de Londres tiveram eco na “Herdade da Esperança”. Aos poucos, os Zuckers e os Ziads começam a sentir-se pressionados pelos nacionalismos que despontam de parte a parte e que ameaçam a sua sã convivência diária. E começam a sentir-se cada vez mais indefesos. “Há momentos na vida em que a única forma de nos salvarmos é matando ou morrendo”, é um pensamento que partilham à vez.
Julia Navarro define a sua obra — que demorou muitos meses a pensar e três anos a escrever — como “um romance de personagens”. “Sou uma apaixonada pelos escritores russos do século XIX, como Leon Tolstoi e Fiodor Dostoievski, autores que são capazes de mergulhar na alma humana e, ao mesmo tempo, contam uma história dentro de um contexto. As suas personagens são filhos do seu tempo, mas são universais. Aspiro a contar pequenas histórias em que as minhas personagens também são filhos do seu tempo.”
A história de Samuel Zucker e de Ahmed Ziad é contada, no livro, pela boca de terceiros, num diálogo que decorre em pleno século XXI. Marian Miller é cooperante numa organização não-governamental financiada pela União Europeia e vai a Jerusalém com a missão de elaborar um relatório sobre os colonatos judeus em território palestiniano. Após recolher a história dos Ziads, vai a casa de Ezequiel, filho de Samuel, para ouvir a versão dos Zuckers.
Marian vai apresentando a versão árabe dos acontecimentos e Ezequiel — provecto avô de um acérrimo defensor dos colonatos e de uma pacifista convicta — conta-lhe a perspetiva dos judeus. Os episódios de convívio e tensão que as duas famílias experimentaram durante décadas vão-se encaixando como um puzzle e ambos, à vez, vão preenchendo as lacunas de duas histórias paralelas.
“No início, Marian e Ezequiel nem simpatizam um com o outro”, refere Julia. “Nada têm em comum, ela não o convence e viceversa. Mas acabam por sentir uma empatia porque se escutaram. Se fizermos o exercício de nos escutarmos e tentarmos colocar-nos nos pés da pessoa que temos à nossa frente, as coisas serão mais fáceis.”
Os dois narradores colheram frutos por se terem escutado, da mesma forma que Samuel e Ahmed sempre viveram em paz porque se respeitaram. Hoje, perante a total paralisação do processo de paz israelo-palestiniano, a realidade entre as partes não podia ser mais distante. “As duas comunidades vivem de costas voltadas. No dia em que voltem a olhar-se nos olhos, perceberão que têm muitas mais coisas em comum do que a separá-las”, comenta a escritora. “Sou uma acérrima defensora do diálogo. Acho que através do diálogo é possível resolver-se todos os problemas. E acredito que a paz é possível, porque palestinianos e judeus estão condenados a entender-se, não têm outra opção. Partilham um território onde ambos vivem mal. Os judeus vão ganhando as guerras, mas não se pode viver bem quando se vive num estado de guerra permanente.”
“Palestinianos e judeus estão condenados a entender-se, não têm outra opção. Partilham um território onde ambos vivem mal. Os judeus vão ganhando as guerras, mas não se pode viver bem quando se vive num estado de guerra permanente”
Para compreender o título do livro, o leitor precisa de ler as suas 830 páginas, a que se segue um glossário e uma lista de personagens históricas. Só na última página — em bom rigor na última linha —, é reproduzida a frase do título. Julia Navarro admite que é uma característica sua enquanto escritora. “Sim, só explico o título no fim. Procuro sempre surpreender o leitor no sentido de que nada seja aquilo que parece e deixo sempre os finais em aberto. Tem de ser o leitor a decidir o que acontece. Conduzo-o até a um clímax e, a partir daí, deixo a porta aberta. Há muitos leitores que me escrevem desesperados sobre o fim do livro. Respondo sempre: ‘É o que o senhor quiser. Não lhe vou dizer qual é o meu final’. Cada leitor decide o seu.”
Artigo publicado no suplemento Atual do “Expresso”, a 27 de dezembro de 2014