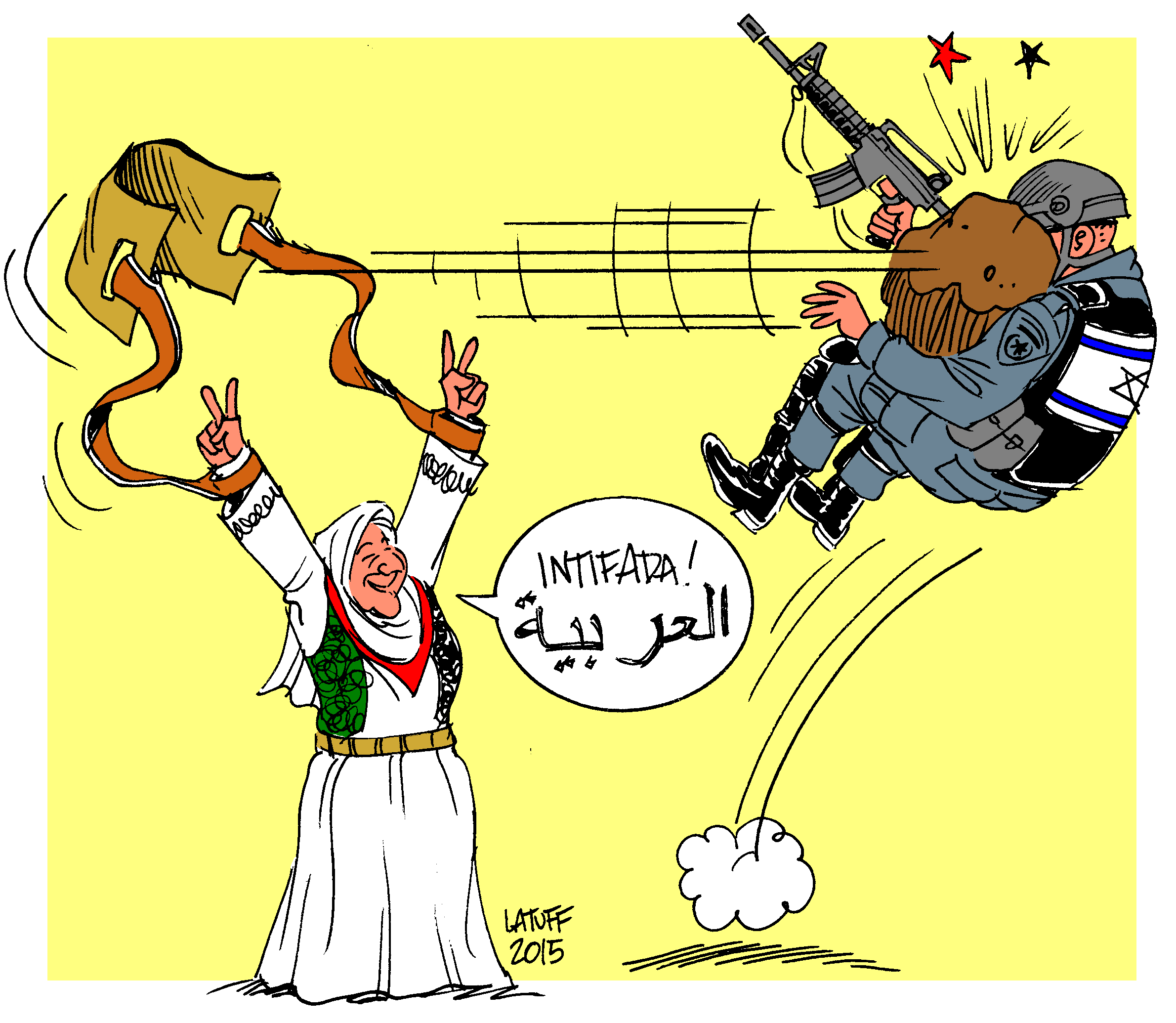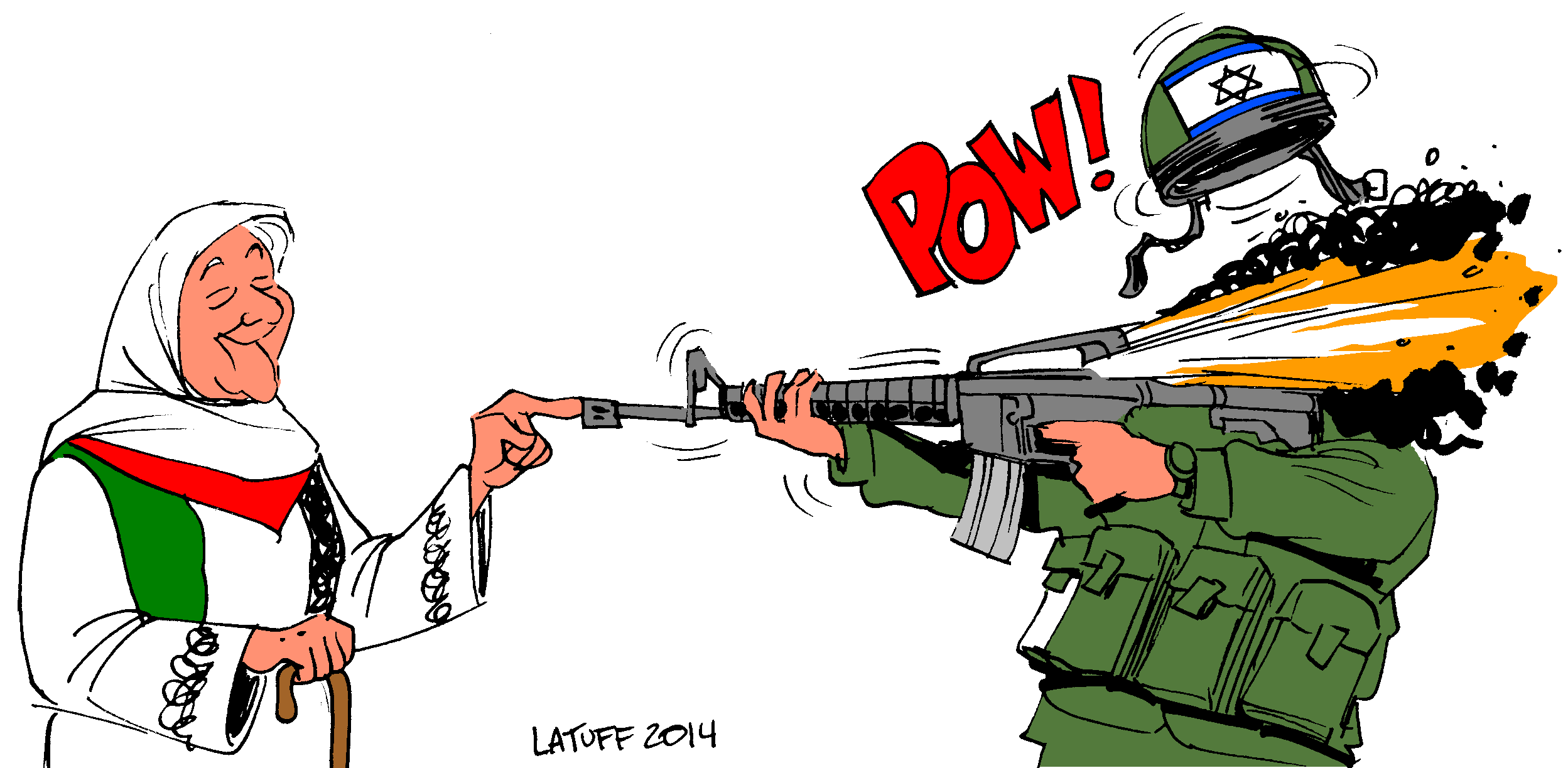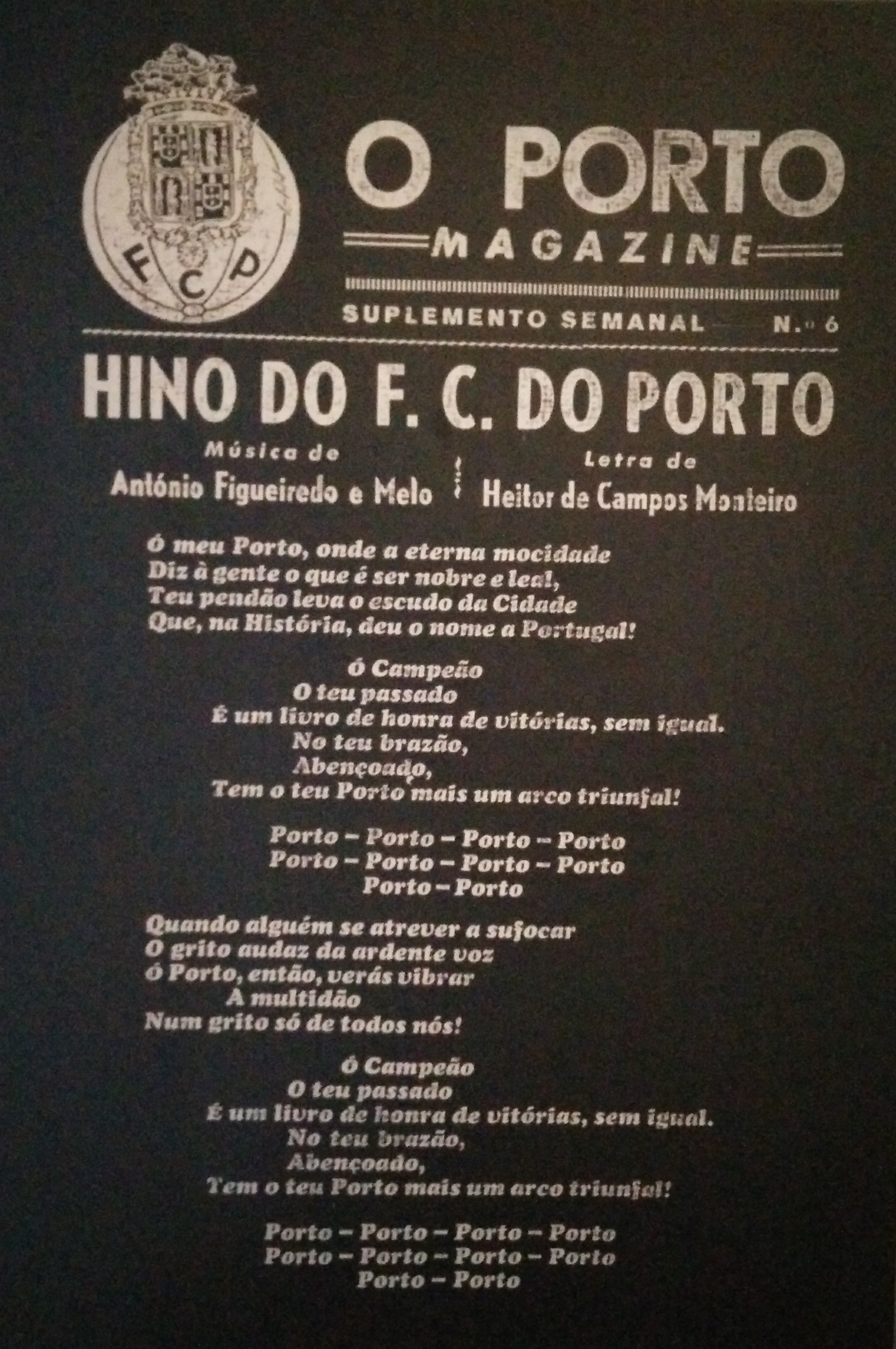A história registará que um dos dias mais importantes para Israel coincidiu com mais um banho de sangue na Faixa de Gaza. Esta terça-feira, começaram a ser enterrados os 60 palestinianos mortos durante protestos junto à fronteira no dia do 70º aniversário do Estado judeu. Entre eles está um homem que tinha ficado sem pernas num bombardeamento israelita anterior

É assim há 70 anos. Ano após ano, os palestinianos vivem cada 15 de maio como um dia de luto, em memória da “Nakba”, a “catástrofe” que para eles significou a fundação do Estado de Israel e o êxodo de mais de 700 mil palestinianos das terras onde sempre viveram. Este ano, a catástrofe foi sentida duplamente.
Esta terça-feira, na Faixa de Gaza, começaram a ser enterrados os 60 palestinianos abatidos na véspera por atiradores israelitas posicionados no outro lado da fronteira, naquele que foi o dia mais sangrento desde a última guerra entre Israel e o Hamas, em 2014. Munidos com o mais sofisticado equipamento militar, tinham ordem para alvejar quem ousasse aproximar-se da fronteira para reclamar o que é seu — as terras ocupadas por Israel.
No outro território palestiniano, a Cisjordânia, a solidariedade manifestou-se sob a forma de uma greve geral que parou lojas e escolas. Em várias cidades, as sirenes tocaram durante 70 segundos para assinalar a “Nakba” e homenagear as vítimas.
Na segunda-feira, morreram 60, mas desde o início da Grande Marcha do Regresso, a 30 de março, que tombaram pelo menos 108 palestinianos. “Parece que qualquer um está sujeito a ser morto”, reagiu o porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Rupert Colville. “Não é aceitável que [Israel] diga: ‘Isto é o Hamas, por isso [a nossa reação] está bem’”, acrescentou. “Que ameaça representa um duplo amputado para quem está do outro lado de uma cerca altamente fortificada?”
O Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu-se, esta terça-feira, para debater a situação em Gaza, e escutou a embaixadora dos Estados Unidos defender o indefensável: “Nenhum país nesta sala agiria com mais moderação do que Israel”, afirmou Nikki Haley. Na segunda-feira, nos corredores da ONU, os norte-americanos saíram em defesa dos israelitas e bloquearam uma declaração que apelava a uma “investigação independente e transparente” às ações de Israel junto à fronteira.
Aos microfones da rádio, a ministra da Justiça, Ayelet Shaked — defensora da pena de morte e da amputação de direitos à população árabe de Israel em nome da maioria de judeus —, tranquilizou os israelitas dizendo que Israel não tem medo do Tribunal Internacional de Justiça de Haia. “As Forças de Defesa de Israel estão a atuar muito, muito bem, ao abrigo dos protocolos de uso de fogo real e dentro da lei e do direito.”
O governo israelita considera que os protestos junto à fronteira constituem um “estado de guerra” pelo que a lei humanitária internacional não se aplica.
O mais recente massacre na Faixa de Gaza motivou reações em todo o mundo, mas poucas ações. África do Sul e Turquia mandaram regressar os seus embaixadores em Telavive e expulsaram os diplomatas israelitas nos seus países. “Netanyahu é o primeiro-ministro de um Estado de apartheid… Tem o sangue dos palestinianos nas suas mãos”, acusou o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
Na Europa, a Bélgica convocou a embaixadora israelita no país para uma reunião, esta quarta-feira, no ministério dos Negócios Estrangeiros. Dos outros países ouviram-se as condenações vagas habituais. “Israel tem de respeitar o direito aos protestos pacíficos e o princípio da proporcionalidade no uso da força”, disse a chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini. “França condena a violência”, disse a presidência. “Estamos preocupados com relatos de violência e perdas de vidas em Gaza”, reagiu o gabinete da primeira-ministra britânica.
“Chocada e profundamente preocupada”, a Alemanha disse que “Israel tem o direito a defender-se e a garantir a segurança da vedação [na fronteira] contra incursões violentas. Porém, deve aplicar-se o princípio da proporcionalidade.” O Governo português apelou “à contenção de todas as partes envolvidas, no sentido de pôr fim à violência”.
Portugal não se fez representar na inauguração da embaixada dos EUA, como a esmagadora maioria dos 28 Estados membros da UE. Entre os 32 países que assistiram à cerimónia, quatro europeus quebraram a unanimidade europeia: Áustria, Hungria, República Checa e Roménia.
Em Jerusalém, estiveram presentes também Angola e três países que, no rasto dos EUA, vão transferir as suas embaixadas de Telavive para Jerusalém: Guatemala, Paraguai e Honduras.
Esta terça-feira, o dia foi de ressaca também em Telavive. Ontem à noite, a capital de Israel recebeu em êxtase Netta Barzilai, a vencedora da Eurovisão que, acabada de chegar de Lisboa, subiu ao palco, apresentada pelo presidente da Câmara, Ron Huldai, e cantou “Toy” para dezenas de milhares de pessoas que encheram a Praça Rabin. A 70 quilómetros de distância, enquanto se choravam os mortos, crescia o ódio a Israel.
Artigo publicado no “Expresso Diário”, a 15 de maio de 2018. Pode ser consultado aqui