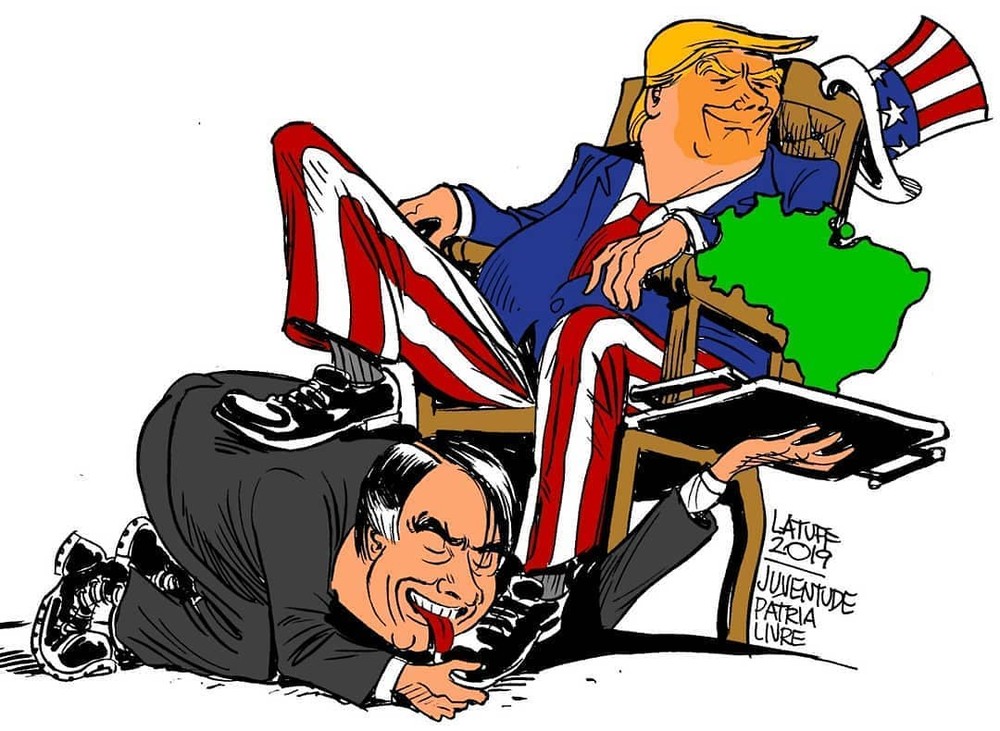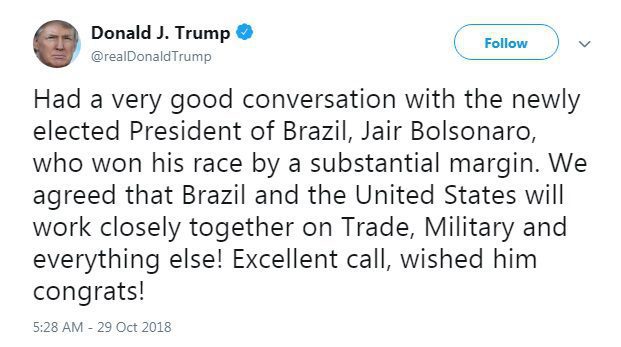Avizinha-se o fim do conflito na Síria. Mas a presença militar da Rússia e do Irão está para durar
O fim da guerra na Síria está à distância de uma batalha. Idlib, uma província no noroeste, é o último quinhão de terra em posse de grupos rebeldes, alguns de orientação secular, a maioria islamitas. Por estes dias vive-se uma trégua na área, ditada por um acordo assinado a 17 de setembro entre a Rússia (o principal apoio do regime sírio) e a Turquia (o país vizinho mais exposto ao conflito).
O pacto prevê a criação de uma zona tampão de 15 a 20 quilómetros entre Lataquia e Alepo, províncias que ladeiam Idlib. Se tudo correr como planeado, essa zona desmilitarizada, desenhada para afastar forças governamentais e rebeldes, ficará estabelecida até à próxima segunda-feira.
Se, num primeiro momento, esta pausa nos combates teve o condão de conter uma ofensiva militar sírio-russa que parecia iminente sobre o último reduto rebelde, falta perceber se o silêncio das armas é o princípio do fim do conflito ou a calmaria que antecede a tempestade.
“Em Idlib alcançou-se uma trégua precária para evitar uma crise humanitária de consequências incalculáveis, já que nessa província vivem dois milhões e meio de pessoas”, comenta ao Expresso Ignacio Álvarez-Ossorio, professor de Estudos Árabes e Islâmicos na Universidade de Alicante (Espanha). “Mas nas próximas semanas poderá desencadear-se uma ofensiva militar para tentar quebrar a resistência.” Em todo o caso, “parece evidente que se está a entrar na última fase do conflito sírio”.
Bashar al-Assad controla atualmente dois terços do território da Síria e governa três quartos da população. Além de Idlib, também a área a norte do rio Eufrates — cerca de um quarto do país — escapa ao seu controlo. A zona está em paz, mas nas mãos de forças curdas, as chamadas Unidades de Proteção Popular (YPG), que contam com o apoio dos Estados Unidos. Os norte-americanos têm ali pelo menos 2000 efetivos.
A incógnita curda
Terminada a guerra, o futuro desta região será uma grande incógnita. “As milícias curdas aproveitaram a luta contra o autodenominado Estado Islâmico (Daesh) para estenderem a sua influência para lá das zonas de maioria curda”, recorda o académico espanhol. “Chegaram a controlar a cidade árabe de Raqqa [os curdos não são árabes], cujos arredores acumulam uma grande riqueza em hidrocarbonetos.” Raqqa foi, durante anos, a capital do ‘califado’ decretado pelo temido e impiedoso Daesh em vastas áreas da Síria e do Iraque.
À semelhança do que aconteceu no Iraque, onde o fim da era de Saddam Hussein significou para a minoria curda mais autonomia do que aquela que tinha conquistado após a Guerra do Golfo (1990-91), os curdos sírios vão querer transformar as conquistas da guerra em ganhos políticos.
“O Partido da União Democrática curdo [PYD] vai tentar aproveitar esta posição de força sobre o terreno para arrancar concessões ao regime e conseguir que este aceite o estabelecimento de um Estado federal, como aconteceu no Iraque”, diz Álvarez-Ossorio. “Julgo que o mais provável é que Assad e os curdos não se enfrentem diretamente e alcancem uma solução negociada que obrigue o regime a conceder ampla autonomia aos curdos”, prossegue o docente.
A evolução da questão curda fará com que a Turquia — que combate, dentro de portas, um projeto separatista curdo — continue a seguir a situação na Síria com rédea curta. Neste conflito, “a Turquia apostou no campo perdedor e dificilmente manterá o enclave que controla, juntamente com o Exército Livre Sírio, a norte de Alepo. A intervenção militar turca justificou-se pela necessidade de evitar que as milícias curdas, que Ancara acusa de darem apoio ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão [PKK, turco], controlassem a fronteira. Mal o regime sírio seja capaz de dominar a fronteira, a Turquia poderá retirar os efetivos mediante garantias de segurança”.
Mas se a presença turca na Síria tem os dias contados, a Rússia e o Irão estão no país para durar. “A sua saída colocaria Assad numa situação vulnerável”, prevê Álvarez-Ossorio, autor do livro “Siria — Revolución, sectarismo y yihad” (publicado em 2016 e não traduzido em português). Acresce que o exército sírio está esgotado, “numa situação de extrema debilidade, pelo que continuará a precisar, durante muito tempo, do apoio das milícias xiitas enviadas pelo Irão [o Hezbollah libanês e grupos iraquianos, afegãos e paquistaneses] e também da polícia militar russa”.
A sombra da Líbia
Esta necessidade de uma ajuda militar externa duradoura e, sobretudo, a proliferação de grupos armados que agem em obediência à agenda de quem os financia — dos Estados Unidos aos Países do Golfo — obriga a uma comparação com a Líbia, onde, após o desaparecimento de Muammar Kadhafi (em 2011, ano em que deflagrou a guerra síria), a lei que se impôs no país foi a das milícias. Esta semana Ghassan Salame, chefe da missão da ONU na Líbia (UNSMIL), disse que ainda há 200 mil milicianos em ação no país. “Recebem salário do Estado, mas só recebem ordens de senhores da guerra”, disse.
“São casos muito diferentes”, explica Álvarez-Ossorio. “Na Líbia não existe um Estado central capaz de impor a sua autoridade sobre a totalidade do território, que está em mãos de diferentes milícias que controlam os poços de petróleo, o comércio e as rotas migratórias. No caso da Síria, o regime desarmou todas as milícias rebeldes à medida que restabelecia a sua autoridade sobre as partes de território que escapou ao seu controlo durante o conflito.”
Descida aos infernos
A guerra que se aproxima do fim espalhou a morte e condenou milhões de sobreviventes a um êxodo desesperado, internamente e através da fronteira. Arrasou o país e descaracterizou-o: perseguida pelos grupos radicais, a minoria cristã, por exemplo, passou de 10% para 3% da população. Em termos políticos, tornou subserviente uma entidade que já foi o centro do mundo árabe. Entre os anos 661 e 750, Damasco foi a capital do califado omíada, o segundo de quatro califados islâmicos estabelecidos após a morte de Maomé, que ia da Península Ibérica ao Afeganistão.
“A Síria de Assad converteu-se num protetorado russo-iraniano”, conclui Ignacio Álvarez-Ossorio. “Além das milícias xiitas comandadas pelo Irão, a Rússia aproveitou a conjuntura para ampliar a sua base naval de Tartus e construir a base aérea de Al-Hamaymin, que controlará durante os próximos 49 anos.”
REPRIMIU E RESISTIU. SERÁ JULGADO?
Bashar al-Assad recorreu a métodos brutais para reprimir o povo. Rússia e China protegem-no da perseguição da justiça
Do rol dos países mais fortemente afetados pelo movimento de contestação popular conhecido como Primavera Árabe, a Síria foi o único a manter o líder no poder. Ben Ali (Tunísia) desertou, Hosni Mubarak (Egito) foi afastado, Muammar Kadhafi (Líbia) foi morto na rua e Ali Abdullah Saleh (Iémen) saiu pelo próprio pé. Na Síria, Bashar al-Assad escapou inclusive à fúria de Donald Trump que, segundo “Medo: Trump na Casa Branca”, de Bob Woodward (sai em novembro na Dom Quixote), terá defendido o seu assassínio, porventura para marcar a diferença em relação a Barack Obama, que poupou Assad apesar de este ter pisado a “linha vermelha” (o uso de armas químicas), indiciando assim que talvez fosse “um mal menor”.
“Durante todos estes anos de guerra, praticaram-se muitos crimes de guerra e crimes contra a Humanidade por parte dos vários atores: assassínios, deportações, torturas, violações, desaparições, bombardeamentos sobre civis, destruição de hospitais, utilização de armas químicas…”, recorda Ignacio Álvarez-Ossorio, da Universidade de Alicante. “Segundo diferentes estimativas, o regime sírio e seus aliados são responsáveis por 90% das vítimas civis, repartindo-se as restantes entre o Daesh e os grupos rebeldes.”
90% das vítimas civis da guerra da Síria são atribuídas às forças afetas ao regime de Bashar al-Assad e seus aliados. Aos jiadistas do Daesh e demais grupos rebeldes são imputadas as restantes
Para Assad — que castigou o seu povo sitiando povoações, cortando abastecimentos, recorrendo a uma estratégia de terra queimada nas zonas rebeldes e a armas devastadoras para reprimir o mínimo resquício de contestação, como as bombas de barril (compostas por fragmentos metálicos e explosivos TNT) —, foi crucial a entrada em cena da Rússia. Os caças russos começaram a bombardear a 30 de setembro de 2015, quando Damasco acumulava perdas significativas.
A proteção russa à Síria estende-se à ONU. “Em 2016, a Assembleia Geral aprovou a criação de um mecanismo internacional para julgar os responsáveis pelos crimes desde março de 2011”, recorda o professor. “Não avançou grande coisa por falta de colaboração das autoridades e pelas reticências colocadas por Rússia e China [com poder de veto no Conselho de Segurança], temendo que o precedente se voltasse contra elas próprias no futuro.”
Pária no Ocidente, Assad terá escancaradas as portas de Moscovo, Teerão e Pequim.
JOGO REGIONAL
IRÃO — A sobrevivência de Assad (alauita, xiita) é quase uma questão de segurança nacional. Como o Hezbollah no Líbano, Assad garante a extensão da influência iraniana na região
ARÁBIA SAUDITA — Fomentou o wahabismo (sunismo conservador) apoiando grupos rebeldes. Derrotar Assad seria ganhar terreno ao arquirrival xiita Irão
TURQUIA — Com 910 quilómetros de fronteira com a Síria, está exposta ao conflito. Quer evitar a autonomia curda
QATAR — Contribuiu para fortalecer a frente extremista ao financiar grupos salafitas, como o Exército do Islão
ISRAEL — Enfrentou diretamente a Síria pela última vez em 1973. As manobras do Hezbollah e do Irão junto à fronteira obrigam a um alerta permanente
(Imagem: NICOLAS RAYMOND / FLICKR)
Artigo publicado no “Expresso”, a 13 de outubro de 2018 e republicado parcialmente no “Expresso Online”, no dia seguinte. Pode ser consultado aqui