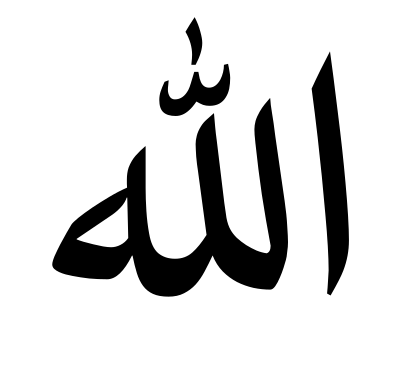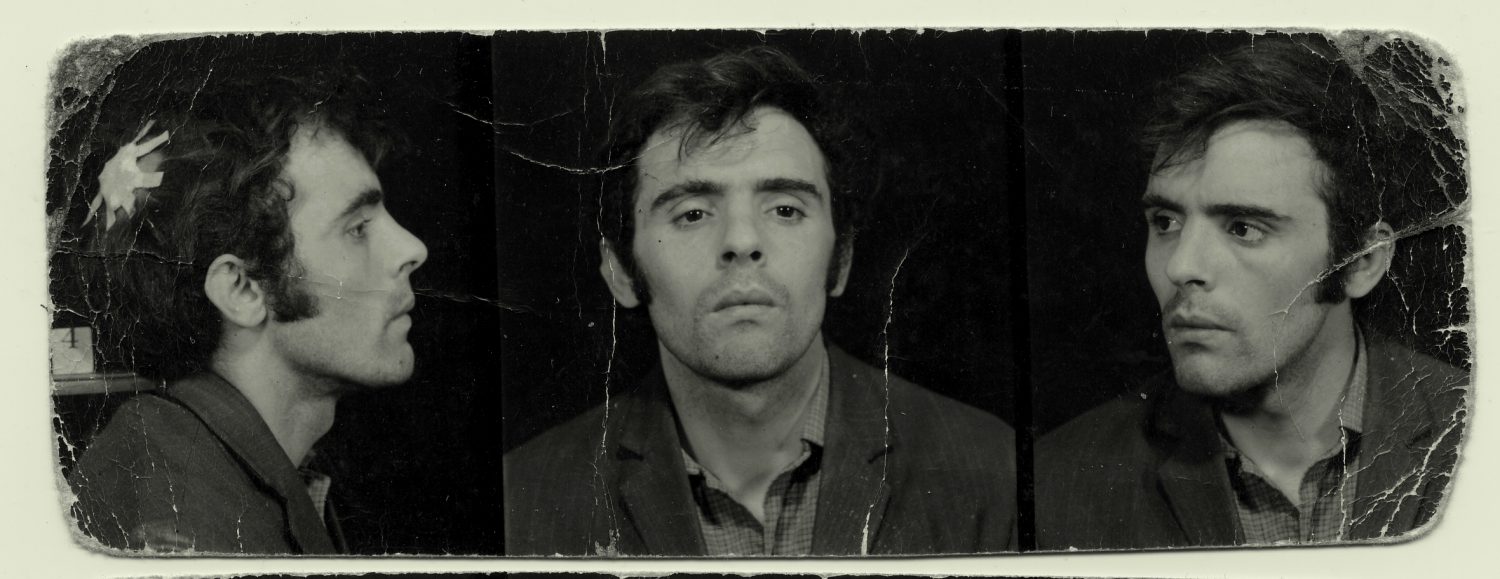Serão uns 370 milhões em todo o mundo. Vivem do que a natureza lhes dá e dela extraem curas para as suas maleitas. Os indígenas são dos povos mais vulneráveis à face da Terra. Ao Expresso, uma ativista da Survival International denuncia a apropriação ilegal de terras. E diz temer pelas tribos do Brasil
Sergio Rojas Ortiz sabia que tinha a cabeça a prémio. Já tinha tido um primeiro aviso em 2014, quando escapou ileso a uma rajada de oito tiros. No passado dia 18 de março, a sorte foi diferente. Era já noite escura quando este costa-riquenho de 55 anos foi surpreendido no segundo andar de sua casa, no território indígena de Salitre, e alvejado com 15 tiros. A sua morte foi noticiada em todo o mundo.
Ortiz era um conhecido líder bribri, um dos povos indígenas da Costa Rica. Horas antes de ser executado, deslocara-se ao município de Buenos Aires, na província de Puntarenas, para acompanhar uma denúncia apresentada na procuradoria local por usurpação de terras, ameaças e ataques direcionados ao povo bribri. A Frente Nacional de Povos Indígenas da Costa Rica (Frepani) responsabilizou o Governo do Presidente Carlos Alvarado Quesada pela morte de Ortiz.
“Em muitos países, empresas mineiras, madeireiras, agrícolas e agroindustriais invadiram e/ou roubaram terras indígenas com a conivência governamental”, acusa ao Expresso Fiona Watson, da organização não-governamental Survival International. “Nalguns países, como o Brasil, há muita apropriação de terras. Especuladores, muitas vezes com o apoio de políticos locais, apoderam-se de terras indígenas ilegalmente e vendem-nas, depois de saquearem os recursos.”
Na sexta-feira passada, fez-se história no Equador. Os Waorani venceram na Justiça um processo contra três organismos governamentais que efetuaram um processo de consulta deficiente à comunidade antes de disponibilizarem as terras indígenas num leilão internacional para exploração de petróleo. O tribunal decretou a suspensão imediata da vendas das terras e, com essa decisão, estabeleceu um precedente importante que irá proteger todas as outras tribos que vivem na floresta amazónica do sul do país. “Os interesses petrolíferos do Governo não têm mais valor do que os nossos direitos, as nossas florestas, as nossas vidas”, reagiu Nemonte Nenquimo, representante dos Waorani.

A diretora de Campo e Pesquisa da Survival International coloca os interesses económicos à frente das alterações climáticas no rol de ameaças às populações indígenas. “Projetos de desenvolvimento megalómanos muitas vezes financiados pelo Banco Mundial ou pela União Europeia, como barragens hidroelétricas, ou projetos como o Grande Carajás [um plano de exploração mineira que se estende por mais de 900 mil km2, ou seja, um décimo do território brasileiro], abriram muitos territórios indígenas a estradas, projetos de colonização e à exploração madeireira. Os impactos foram e continuam a ser devastadores.”
E com a mesma naturalidade com que aponta o dedo a governos, a ativista denuncia a cumplicidade de organizações ambientalistas como a World Wide Fund (WWF), a Conservation International, a Wildlife Conservation Society (WCS) e a African Parks. “Têm uma longa história de expulsão de populações indígenas das suas terras ancestrais para criar parques ou delimitar áreas em nome da proteção ambiental.”
Nos Camarões, por exemplo, guardas financiados pelo WWF ameaçam os pigmeus Baka que tentam entrar na floresta de onde foram expulsos em busca de comida. Na Índia, há indígenas expulsos de reservas de tigres ao mesmo tempo que as autoridades encorajam o turismo e a caça de animais de grande porte nessas áreas.
Famosas áreas protegidas como o Yellowstone (EUA), o Serengeti (Tanzânia) ou a Amazónia (Brasil) são terras ancestrais de milhões de pessoas que as têm estimado e protegido ao longo de gerações. São também alvo de uma cobiça crescente.

As Nações Unidas estimam que, atualmente, existam 370 milhões de indígenas espalhados por 90 países. Correspondem a menos de 5% da população mundial mas a 15% dos mais pobres.
Herdeiras e praticantes de culturas únicas, mais de 100 tribos vivem exclusivamente do que a natureza lhes dá. Verdadeiras guardiãs das florestas, são as suas melhores conservadoras e protetoras, funcionado como barreiras ao avanço das atividades de desflorestação.
“Necessitamos do conhecimento indígena e precisamos de o compreender e valorizar. Eles são botânicos e zoólogos incríveis e desenvolveram os seus próprios medicamentos e métodos de cura eficazes baseados em plantas e animais”, explica Fiona Watson. “Dados científicos demonstram, cada vez mais, a importância do conhecimento dos povos indígenas na conservação da biodiversidade e das florestas, o que ajuda a atenuar o aquecimento global e os impactos das alterações climáticas.”

Essa autossuficiência em relação à natureza não é absoluta nem a ativista a encara como um fundamentalismo. “Muitos indígenas também encaram a medicina ocidental como algo importante e desejam ter acesso a ela”, diz. “Uma vez, um xamã Yanomani [um xamã é alguém a quem se atribui poderes mágicos, curativos ou divinos] disse-me que a sua tribo pode curar as doenças das florestas mas não as doenças que os brancos introduziram nos últimos 50 anos, como o sarampo, a gripe, a malária e a tuberculose.”
O contacto com pessoas exteriores à comunidade expõe tribos inteiras à possibilidade de contraírem doenças para as quais não têm resistência. Daí o perigo de atos aventureiros como o do norte-americano John Allen Chau, que, em novembro passado, tentou entrar em território dos Sentinelas — nas Ilhas Andamão (de soberania indiana), no oceano Índico — e que acabou assassinado pelos indígenas.
Há muito que os Sentinelas tinham feito sentir que os forasteiros não eram bem vindos. Numa das poucas fotografias tiradas a membros da comunidade, em 2004, vê-se um indígena de arco e flecha na mão apontados a um helicóptero da guarda costeira indiana. Este intruso aéreo andava por ali a averiguar eventuais danos sofridos pelos Sentinelas após o devastador tsunami que varreu as costas do Índico.

“O maior perigo que ele representava para os Sentinelas — que são provavelmente a tribo mais isolada do mundo — era a introdução de doenças. Uma simples constipação pode facilmente dizimar uma tribo isolada, que não desenvolveu imunidade a vírus da gripe, do sarampo e da varicela. O contacto, que muitas tribos têm desesperadamente tentado evitar desde há muitos anos, resulta inevitavelmente na introdução de tais doenças”, alerta a ativista.
Qualquer missão de contacto com populações isoladas é altamente perigosa, sem que seja possível controlar o seu resultado. “Na Amazónia, há muitos exemplos de populações afetadas ao primeiro contacto. Algumas nunca recuperam”, recorda a ativista. “E mesmo quando o contacto foi planeado e executado por autoridades competentes, o impacto na saúde tem sido subestimado, resultando em epidemias, morte e trauma social.”
No Brasil, a Fundação Nacional do Índio (Funai) é a única instituição governamental em todo o mundo que tem equipas no terreno dedicadas ao contacto com populações isoladas – através de sobrevoos e de expedições a pé. “Não sabemos muito sobre esses povos”, diz Fiona Watson. “Mas pelo menos sabemos que existem e onde ficam os seus territórios, para os podermos mapear e proteger.”

A tomada de posse de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil, a 1 de janeiro deste ano, foi uma má notícia para os indígenas. No dia seguinte, no Twitter, ele escreveu: “Mais de 15% do território nacional é demarcado como terra indígena e quilombolas [NDR: originalmente, os quilombos foram regiões de grande concentração de escravos escondidos nas matas e montanhas do Brasil colonial. Hoje são agrupamentos que herdaram as principais características desses espaços, formados por netos e bisnetos de escravos]. Menos de um milhão de pessoas vivem nestes lugares isolados do Brasil de verdade, exploradas e manipuladas por ONG. Vamos juntos integrar estes cidadãos e valorizar a todos os brasileiros”.
Bolsonaro retirou à Funai a competência para identificar, delimitar e demarcar terras indígenas, transferindo-a para o Ministério da Agricultura. E colocou a Fundação sob tutela do Ministério da Justiça para a do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, dirigido pela pastora evangélica Damares Alves.
Fiona teme que o fundamentalismo cristão se torne uma ameaça crescente para as comunidades indígenas. “Tenho a certeza que muitos fundamentalistas cristãos sentir-se-ão encorajados por Bolsonaro e pelo facto de Damares Alves ser a ministra responsável pela Funai. A bancada evangélica no Congresso Nacional pode muito bem contribuir para aprovar diplomas como a Lei Muwaji (em discussão no Senado), que viabiliza a separação de famílias suspeitas de infanticídio. Esta lei “permitiria que missionários retirassem crianças indígenas das suas comunidades perante a mais pequena suspeita de que podem ser prejudicadas. Já se está a ver como isto abriria a porta a abusos por parte de fervorosos evangélicos desejosos de converter povos indígenas”.

Em dezembro passado, em entrevista ao “Estado de São Paulo”, a ministra negou ter planos para evangelizar comunidades indígenas mas admitiu que haverá uma “mudança radical” no tratamento dos povos isolados da Amazónia. “Vamos trazê-los para o protagonismo. Não é por estarem isolados que estão esquecidos e deixados aos cuidados de ONGs. Quem vai assumir o cuidado desse povo isolado é o Estado.”
“Evangelizar faz parte de uma tentativa de integração de povos indígenas no estilo de vida convencional — uma política da ditadura militar — a que tribos e ONGs se opõem”, realça a ativista da Survival International. “É uma forma de os tornar dependentes do Estado e de libertar as suas terras para serem exploradas economicamente por forasteiros”, conclui. “Por outras palavras, é um roubo de terras neocolonial.”
(FOTO DE ABERTURA Crianças da tribo Uru-eu-wau-wau, cuja reserva fica em Campo Novo de Rondónia, no oeste do Brasil UESLEI MARCELINO / REUTERS)
Artigo publicado no “Expresso Diário”, a 30 de abril de 2019 e republicado no “Expresso Online”, a 5 de maio seguinte. Pode ser consultado aqui e aqui