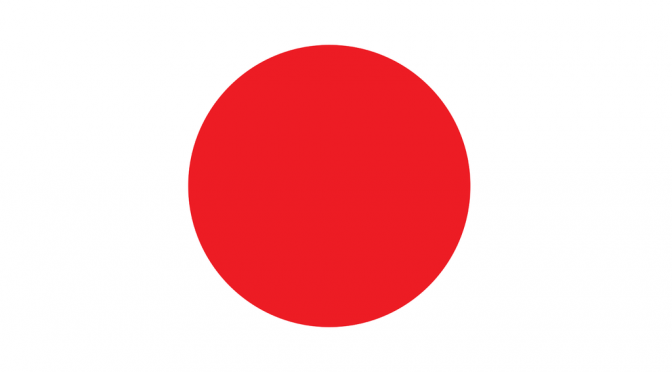A Casa Branca acolheu a assinatura de acordos de normalização diplomática entre Israel e Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Uma traição, lamentam os palestinianos

Vinte e seis anos depois, a Casa Branca voltou a abrir portas para consagrar a aproximação entre Israel e o mundo árabe. Longe de serem unânimes, quem ganha e quem perde com os Acordos de Abraão?
VENCEDORES
DONALD TRUMP
A 49 dias de tentar a reeleição como Presidente dos EUA, carimba o seu maior êxito diplomático. Consegue-o após uma entrada em falso ao propor, no início do ano, o “acordo do século” entre israelitas e palestinianos, que refletia sobretudo os interesses israelitas e, sem surpresa, foi rejeitado pelos palestinianos.
Terça-feira, no papel de anfitrião da histórica cerimónia que aproximou Israel, Emirados e Bahrain, garantiu: “Estamos muito adiantados em relação a uns cinco outros países. Francamente, acho que poderíamos tê-los aqui hoje.”
Proposto para o Nobel da Paz, Trump tem contra si o facto de os signatários destes acordos nunca terem travado uma guerra uns com os outros e também a experiência de antecessores. Em 1979, Jimmy Carter foi o anfitrião da assinatura da paz entre Israel e Egito, mas apenas Menachem Begin e Anwar al-Sadat foram agraciados (este veio a ser assassinado). Também os acordos de Camp David de 1993 valeram o Nobel aos israelitas Yitzhak Rabin e Shimon Peres e ao palestiniano Yasser Arafat, mas não a Bill Clinton.
BENJAMIN NETANYAHU
Consegue um pacto benéfico para Israel sem fazer cedências. Com o país que governa a cumprir o segundo confinamento (este de três semanas) por causa da covid-19, com um julgamento por corrupção agendado e uma coligação periclitante, o primeiro-ministro israelita arrebata um êxito importante na frente que mais o tem tomado ao longo dos seus sucessivos mandatos: a ameaça do regime iraniano dos ayatollahs.
ARÁBIA SAUDITA
Está ausente da ‘foto de família’ que fica para a História, continua sem relações diplomáticas com Israel, mas a sua concordância em relação aos Acordos de Abraão está implícita. Autorizou o primeiro voo comercial entre Israel e os Emirados a atravessar o seu espaço aéreo e não se opôs ao protagonismo do Bahrein, um dos estados que mais protege na região, por ter poder sunita e maioria xiita. Interessa-lhe todo o reforço da frente anti-Irão.
INDÚSTRIA DAS ARMAS
É um assunto que os protagonistas não abordam em público, mas que foi decisivo para o sucesso dos Acordos. Netanyahu terá viabilizado a venda de aviões de combate F-35 dos EUA aos Emirados. O negócio, que reduzirá a superioridade militar israelita na região, conta com a oposição de militares e políticos em Israel. Trump já disse “não ter problemas” em vender os caças aos Emirados, aliados da Arábia Saudita nos bombardeamentos ao Iémen.
PERDEDORES
PALESTINIANOS
“Traição”, “facada nas costas”. Os palestinianos não escondem a desilusão, ainda que os Emirados garantam que os Acordos de Abraão suspendem a anexação da Cisjordânia. Porém, a ocupação não recua um centímetro, a Palestina independente não tem perspetiva e abriram-se brechas na unanimidade árabe em torno da causa. Dias antes da cerimónia, a Liga Árabe — que sempre subordinou a normalização da relação com Israel ao reconhecimento da Palestina — rejeitou a condenação dos Acordos de Abraão proposta pelos palestinianos.
IRÃO
Vizinho das duas petromonarquias que abriram braços ao “inimigo sionista”, como Teerão designa Israel, o Irão qualificou a aproximação entre os Emirados e Israel como ato de “estupidez estratégica”, que terá o condão de “fortalecer o eixo de resistência na região”.
Com os Acordos de Abraão, Israel passa a ter quatro pontos de apoio no mundo muçulmano sunita, que olha para o Irão como o gigante xiita que ameaça a região com um projeto de expansão. O impacto desta nova frente anti-Irão tenderá a aumentar se a ela aderirem novos membros, como Omã, o Kuwait e, de forma decisiva, a Arábia Saudita.
TURQUIA
Com os Acordos de Abraão, vê um grande adversário, os Emirados, ganhar acesso a sofisticado armamento norte-americano. Turquia e Emirados intervêm atualmente na guerra na Líbia: Ancara pelo poder em Trípoli (reconhecido pela ONU) e Abu Dhabi em apoio do general rebelde Khalifa Haftar. A Turquia foi o primeiro país muçulmano a reconhecer Israel.
QATAR
Grande rival dos Emirados, é alvo, desde 2017, de um bloqueio regional imposto por Arábia Saudita, Egito, Emirados e Bahrein. Os Acordos de Abraão reforçam a posição dos dois últimos.
Artigo publicado no “Expresso”, a 19 de setembro de 2020. Pode ser consultado aqui