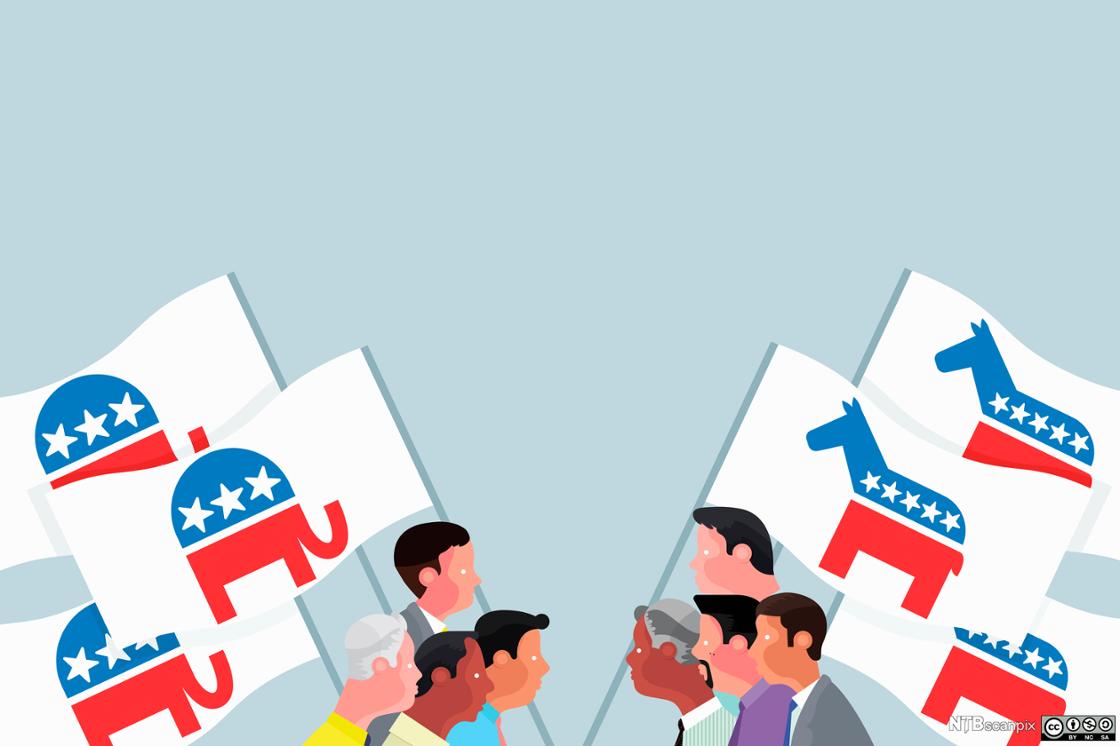Israel controla a Cisjordânia e a Faixa de Gaza desde a guerra de 1967

Uma das decisões mais polémicas da Administração Trump foi o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a transferência da embaixada de Telavive para a Cidade Santa. Com Joe Biden na Casa Branca, não há promessas de que a representação diplomática faça o caminho inverso. No entanto, a vice-presidente eleita, Kamala Harris, afirmou que os Estados Unidos irão reverter algumas medidas de Trump, nomeadamente a suspensão da assistência económica aos palestinianos.
A confirmar-se, Washington ficará aquém do ponto em que estava em relação à questão palestiniana quando surgiu Trump, ainda que no terreno a ocupação israelita se intensifique a cada dia que passa, indiferente mesmo à pandemia.
1. COLONATOS
Pelos Acordos de Oslo de 1993, os palestinianos aceitaram ficar com apenas 22% da Palestina histórica, mas hoje nem essa parcela controlam. Ilegais face ao direito internacional, os colonatos judaicos têm crescido de forma consistente, à custa do confisco de terras árabes. Há duas semanas, pela primeira vez em 15 anos, o Governo israelita autorizou a construção de 31 novas casas nos colonatos de Hebron, onde colonos e árabes vivem em regime de apartheid. Hoje, mais de 600 mil judeus vivem em pelo menos 250 colonatos (muitos deles ilegais) na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Esta semana, a ministra dos Transportes israelita, Miri Regev, desvendou um plano de expansão da rede de transportes públicos na Cisjordânia. Com conclusão prevista para 2045, é um indicador de como, para Israel, a ocupação é um projeto de longo prazo.
2. VIOLÊNCIA DOS COLONOS
Correspondem a 13% da população da Cisjordânia e vivem protegidos por militares israelitas, destacados com essa única missão. Esse privilégio contribui para um historial de agressividade dos colonos contra as populações árabes: invasão de propriedades, assédio e insultos, apedrejamento, vandalismo de zonas agrícolas, queima de árvores, roubo de safras. A 15 de outubro, a ONG israelita B’Tselem registou o testemunho de Khaled Masha’lah, de 69 anos, pai de seis, morador na região de Hebron, a quem os colonos cortaram 300 oliveiras. Segundo outra ONG israelita, Yesh Din, 91% das queixas contra colonos são arquivadas por “falta de provas” ou “agressor desconhecido”. Israel aplica aos colonos a lei civil e aos palestinianos a lei militar.
3. DEMOLIÇÕES
A 3 de novembro, estava o mundo sintonizado nas eleições americanas, 11 famílias beduínas que viviam da pastorícia viram bulldozers militares arrasarem as tendas onde dormiam e os abrigos dos animais, na comunidade de Khirbet Humsah, no vale do Jordão. Ficaram sem teto 74 pessoas, incluindo 41 crianças. A demolição de casas árabes por razões administrativas é prática frequente, sobretudo em Jerusalém Oriental, em nome da judaização da Cidade Santa. Em 2019 foram ali destruídas 169 habitações. No total dos territórios, no ano passado, foram arrasadas 623 casas, diz o Comité Israelita Contra as Demolições de Casas (ICAHD).
4. CHECKPOINTS
São a face diária da ocupação. Há postos de controlo permanentes, no interior da Cisjordânia e na fronteira com Israel, atravessados diariamente por milhares de trabalhadores palestinianos, às vezes compactados como gado. Outros são pontuais, colocados aleatoriamente nas estradas. Por vezes, à entrada de aldeias são erguidas barreiras físicas com blocos de cimento, barras de metal, montes de terra. Segundo a ONG de mulheres israelitas Machsom Watch, que vigia o tratamento dos soldados aos palestinianos nos checkpoints, os habitantes são obrigados a avançar as barreiras a pé (doentes e mulheres em trabalho de parto) para apanhar transporte do outro lado.
5. MURO
Ao não passar exatamente sobre a Linha Verde — a fronteira reconhecida internacionalmente —, o muro que separa Israel da Cisjordânia rouba muitas terras palestinianas. Segundo a ONU, 11 mil habitantes da Cisjordânia ficaram do lado israelita do muro e vivem em guetos. Ao longo dos cerca de 810 quilómetros da vedação, cerca de 70 “checkpoints agrícolas” permitem a passagem de agricultores palestinianos para… as suas próprias terras de cultivo.
6. IMPOSTOS
Por acordo com os palestinianos, é Israel quem cobra os impostos pagos nos territórios. Depois, o dinheiro é transferido em tranches para a Autoridade Palestiniana (AP, o governo interino instituído pelos Acordos de Oslo), mas nem sempre ao ritmo desejado pelos palestinianos. Em entrevista ao Expresso, em outubro, o embaixador palestiniano em Lisboa dizia que, nos últimos meses, a verba que recebia da AP só lhe permitia pagar metade das despesas de funcionamento da embaixada.
7. ÁGUA E LUZ
O contraste no acesso à água é especialmente visível na Cisjordânia. Colonatos com piscinas e relvados bem irrigados não distam longe de aldeias árabes, onde a água é bem medida para acudir às necessidades básicas. Já na Faixa de Gaza, não há dia sem umas horas às escuras. Segundo a B’Tselem, dos 600 megawatts necessários ao consumo diário chegam só 180 (120 fornecidos por Israel). Hoje, Gaza tem energia em ciclos de oito horas; no verão, chega a estar meio dia sem eletricidade.
8. DETENÇÕES
Kamal Abu Waar morreu esta semana de cancro na prisão israelita de Ramla. Tinha 46 anos e estava detido desde 2003. Era um dos 4500 palestinianos presos em Israel, 545 dos quais a cumprirem prisão perpétua, segundo a ONG palestiniana Addameer. Há 40 mulheres e 170 menores, alguns com 12 anos, levados de casa durante incursões militares noturnas. Cerca de 370 casos são detenções administrativas, sem acusação ou julgamento. Estima-se que 40% dos homens palestinianos já tenham sido detidos uma vez.
9. IMPUNIDADE
Dias após a morte de George Floyd, nos EUA, saiu às ruas da Palestina o movimento “Palestinian Lives Matter” para denunciar um caso de brutalidade policial. A 30 de maio, Iyad al-Hallaq, um palestiniano autista de 32 anos, foi morto a tiro pela polícia israelita, na Cidade Velha de Jerusalém, após não parar no checkpoint da Porta dos Leões. Este caso foi sujeito a investigação mas, segundo a ONG israelita Yesh Din, 80% das queixas relativas a suspeitas de ofensas contra palestinianos por parte de soldados são arquivadas.
10. DIVISÃO
Israel controla hoje os dois territórios palestinianos de forma diferente. A Cisjordânia com uma ocupação efetiva com colonos e militares. A Faixa de Gaza — um retângulo de 40 quilómetros por 6 a 12 de largura — através de um bloqueio por terra, mar e ar, desde 2007, imposto também pelo Egito. Disto decorre uma divisão política — a AP manda na Cisjordânia e o Hamas em Gaza — que só fragiliza os palestinianos.
Artigo publicado no “Expresso”, a 13 de novembro de 2020. Pode ser consultado aqui