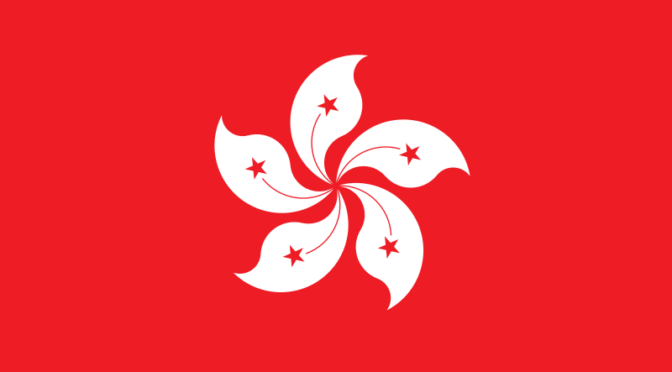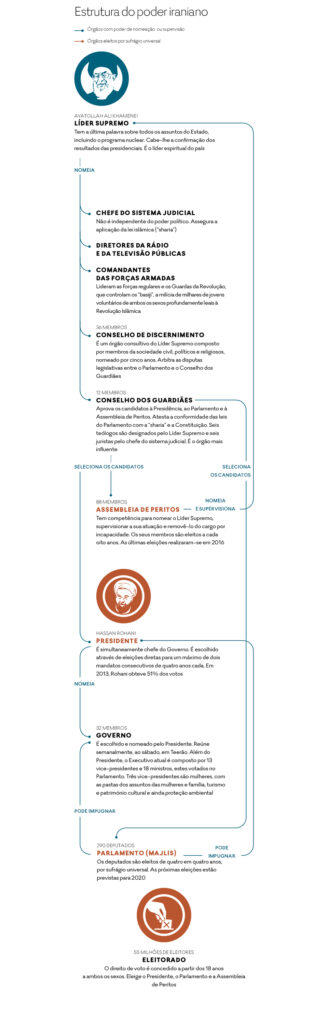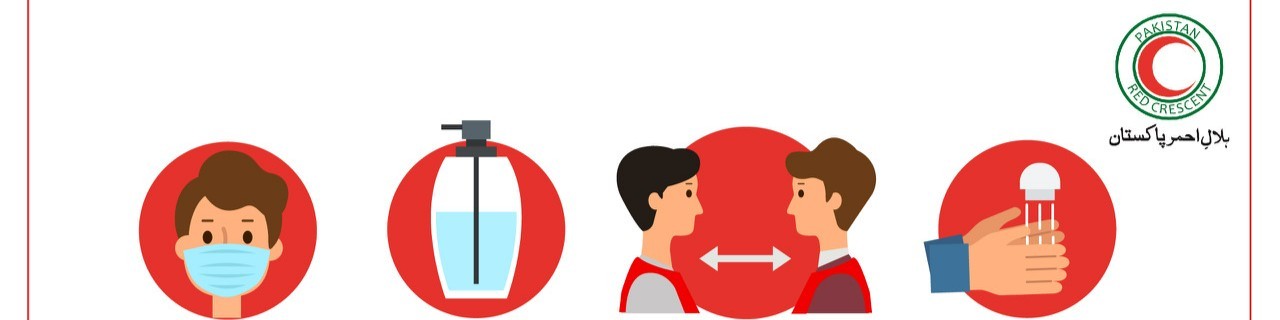A Lei da Segurança Nacional, imposta há um ano por Pequim a Hong Kong, “silenciou toda uma cidade, exceto as vozes que promovem a narrativa do Partido Comunista Chinês”, diz ao Expresso um cidadão daquele território autónomo, a viver no Reino Unido. Aos poucos, o regime comunista vai esculpindo a cidade à sua imagem e ditando o fim do princípio “Um País, Dois Sistemas”
Quando, em finais de 2015, os cinemas de todo o mundo se enchiam para visionar o sétimo episódio da saga Guerra das Estrelas — “O Despertar da Força” —, a corrida às bilheteiras em Hong Kong revelava um concorrente à altura de tanto entusiasmo. “Dez Anos”, um filme independente de baixo orçamento, projetava a vida naquele território, em 2025, no âmbito de uma sociedade distópica controlada pela China.
Numa das cinco histórias contadas, funcionários do governo local orquestravam um assassínio político com o intuito de gerar medo na sociedade de Hong Kong e fomentar o apoio público à adoção de uma lei de segurança nacional.
Noutra trama, um taxista falante de cantonês (língua de Hong Kong) via-se cada vez mais marginalizado e condicionado no exercício do seu trabalho por não falar mandarim (putonghua), a língua falada na China Continental que os locais estavam obrigados a aprender para poderem trabalhar sem limitações em Hong Kong.
Num terceiro episódio, o dono de uma pequena mercearia sentia os limites à liberdade de expressão entrarem-lhe negócio adentro quando as palavras que usava para promover os ovos que ali vendia — “ovos locais” — foram parar a uma lista oficial de termos censurados.
Cinco anos e meio depois de este filme conquistar as bilheteiras de Hong Kong, o exercício de ficção revela-se assustadoramente real. Pelo menos estas três histórias não andam muito longe da realidade que se vive naquela região administrativa especial da China.
O fim de um sistema
Faz um ano esta quarta-feira que entrou em vigor a Lei da Segurança Nacional, imposta pelo regime de Pequim, que condicionou a autonomia do território e acentuou a submissão de Hong Kong à vontade do Partido Comunista Chinês (PCC). Aos poucos, Pequim vai esculpindo o território à sua imagem e ditando o fim do princípio “Um País, Dois Sistemas”.
“Hong Kong ainda não é ‘só mais uma cidade chinesa’. Restam linhas, mesmo que não sejam claras. Ao contrário do que acontece na China Continental, não há pessoas a desaparecer, nem são feitas ameaças às famílias de forma rotineira como meio para silenciar dissidentes. Hong Kong é muito menos livre, mas não é a China Continental”, comenta ao Expresso Evan Fowler, cidadão de Hong Kong residente do Reino Unido, diretor do jornal digital “Hong Kong Free Press”.
“O efeito da Lei de Segurança Nacional vai muito além da aplicação da lei. Cria incerteza e medo. Silenciou toda uma cidade, exceto as vozes que promovem a narrativa do PCC. Das pessoas com quem me encontrei em Hong Kong em 2019, quando visitei a minha pátria pela última vez, metade foi presa. Os restantes não ousam falar, ou passaram a limitar fortemente as suas conversas. Hong Kong, vale a pena recordá-lo, já foi a sociedade mais vibrante e livre da Ásia, e um modelo de liberdades cívicas para grande parte da região.”
A Lei da Segurança Nacional entrou em vigor no território a 30 de junho de 2020, a poucos minutos das zero horas de 1 de julho — dia de aniversário da transferência da soberania de Hong Kong do Reino Unido para a China, em 1997. Passado um ano, confirmam-se os receios de quem se opôs desde a primeira hora a esta ferramenta, com a qual as autoridades chinesas querem combater atividades “subversivas e secessionistas” no território.
Promessas quebradas
“Quando a Lei de Segurança Nacional foi imposta por Pequim a Hong Kong, de uma forma que era, em si, uma violação da Lei Básica do território, as autoridades locais, claramente às escuras a esse respeito, prometeram que a Lei se aplicaria a muito poucos casos. Disseram que Hong Kong não seria afetada e que os seus cidadãos não teriam nada a temer. Um ano depois, esta declaração não só soa a falso como reflete a falta de autoridade do Governo de Hong Kong, para não falar da promessa de autonomia de alto nível”, diz Evan Fowler.
No último ano, um conjunto de alterações legislativas e restrições às práticas democráticas introduzidas por Pequim reescreveu as regras e contribuiu para a sensação de que 2047 — ano em que termina o período de transição de 50 anos e a China assumirá total controlo sobre Hong Kong — chegou adiantado mais de duas décadas e meia. Foram especialmente visíveis em quatro domínios.
1. “Reformar” a democracia
Hong Kong tinha eleições para o seu Parlamento — Conselho Legislativo (LegCo) — previstas para 6 de setembro de 2020. Alegando preocupações com a pandemia, a contestada presidente do governo, Carrie Lam, vista como marioneta de Pequim, adiou-as. O escrutínio está agora agendado para 19 de dezembro deste ano, mas terá contornos muito diferentes do que até agora.
A 30 de março de 2021, o Governo de Xi Jinping promulgou uma reforma do sistema eleitoral de Hong Kong que visa marginalizar a oposição no território. A composição do LegCo foi alargada de 70 para 90 membros, mas apenas 20 serão eleitos por sufrágio universal. Até então 35 de 70 lugares (50%) eram escolhidos pelo povo; com esta alteração, apenas 22% do hemiciclo passa a ser efetivamente eleito. Dos restantes lugares, 40 são escolhidos por um comité eleitoral de 1500 personalidades pró-Pequim e 30 são selecionados por grupos socioprofissionais, num complexo sistema que a China opera a seu favor.
Para Pequim, estas foram “reformas” necessárias para garantir que Hong Kong seja governada por “patriotas”. Para os locais que prezam a autonomia, mais não são do que machadadas na democracia.
2. Controlar a imprensa
Após 26 anos nas bancas, o “Apple Daily”, um dos jornais mais populares de Hong Kong, crítico do regime chinês e considerado o único órgão de comunicação pró-democracia, foi obrigado a fechar portas, acusado de espalhar a sinofobia no território. A última edição impressa, publicada quinta-feira da semana passada (24 de junho), teve uma tiragem de um milhão de exemplares. À chuva, milhares de pessoas aguardaram em fila a sua vez para comprarem aquela edição histórica, revelando inconformismo com a ordem das autoridades chinesas.
O cerco ao jornal decorria há meses. A 10 de agosto de 2020, a polícia de Hong Kong invadiu os escritórios da Next Digital, empresa proprietária do jornal, e deteve o seu fundador e ativista pró-democracia Jimmy Lai (detentor também de cidadania britânica), acusando-o de “conluio com forças estrangeiras”.
Em dezembro seguinte, o empresário de 73 anos foi agraciado com o Prémio Liberdade de Imprensa, atribuído pelos Repórteres Sem Fronteiras. Quatro meses depois, foi condenado a 14 meses de prisão por “organizar protestos ilegais”, em 2019.
3. Silenciar os críticos
O primeiro cidadão de Hong Kong acusado na justiça ao abrigo da nova Lei de Segurança Nacional foi um homem de 23 anos, acusado de embater com uma moto contra um grupo de polícias, durante os protestos de 1 de julho, imediatamente após a entrada em vigor da Lei. Tong Ying-kit, que empunhava uma bandeira com um dos slogans fortes dos protestos em Hong Kong — “Libertem Hong Kong, Revolução dos nossos tempos” —, foi acusado de terrorismo e secessão. Um ano depois, continua a ser julgado e enfrenta pena de prisão perpétua.
Com o intuito de decapitar o movimento pró-democracia de Hong Kong, a China tem promovido detenções de vozes críticas, ora de forma cirúrgica, ora em massa. Uma das operações com maior impacto aconteceu em janeiro passado e envolveu a prisão de 55 personalidades da oposição, entre ativistas, antigos deputados e académicos, acusados de envolvimento em conspirações e ações subversivas contra o Estado.
A 100ª detenção aconteceu em março seguinte: 83 homens e 17 mulheres, com idades entre os 16 e os 79 anos.
4. Desmobilizar as manifestações
Se, nos últimos anos, Hong Kong tem sido palco de jornadas de protesto épicas, participadas por centenas de milhares de pessoas em atitude pacífica — como a “revolução dos guarda-chuvas”, em 2014 —, quem o tentar hoje arrisca-se a ser preso e condenado a prisão perpétua por “subversão”, “secessão” ou mesmo “terrorismo”. Lemas como “Libertem Hong Kong, a revolução dos nossos tempos” podem ser considerados atos de subversão.
“Além das manchetes relativas às detenções e ao encerramento do ‘Apple Daily’, está uma cidade que enfrenta uma repressão sistémica aos seus direitos e liberdades mais fundamentais — liberdades que Hong Kong tem garantidas não só pela Declaração Conjunta Sino-Britânica e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, como pela própria Constituição da China”, recorda Evan Fowler.
“Muitas vezes esquecemos que instituições como o Estado de Direito e a liberdade de imprensa são garantidas, pelo menos em teoria, pela Constituição da China. Na nova relação da cidade com a lei, e no uso da Lei da Segurança Nacional que vimos desde que foi aprovada, é difícil não concluir que Hong Kong não só é menos livre, mas também menos autónoma. O Estado de Direito aplica-se seletivamente — o que não é Estado de Direito.”
Habituado a recorrer à criatividade para travar a sua luta — como as paredes Lennon —, o movimento pró-democracia está, mais uma vez, confrontado com a necessidade de se reinventar para contornar dificuldades impostas.
Esperança na pressão vinda de fora
“O movimento terá de adaptar-se, como fez no último ano. Já não é mais uma voz de desafio pela democracia. Pequenos gestos terão mais peso. Não se trata de fazer com que Pequim cumpra a sua palavra, mas de demonstrar a Pequim que o povo não está quebrado e que, embora tenha de aceitar a nova realidade, não a apoiará”, diz Evan Fowler.
“Julgo que veremos mais pessoas pressionadas a sair [de Hong Kong] e vozes públicas do movimento falarão a partir do exílio. Uma comunidade maior no exílio terá uma voz mais forte no exterior para pressionar no sentido de uma ação internacional.”
Algumas das novas formas de protesto e de dissidência já foram visíveis este mês, por alturas da tradicional vigília em Victoria Park, comemorativa do aniversário do massacre na Praça Tiananmen (que a China não reconhece).
“Quando a vigília de 4 de junho foi proibida e as pessoas foram ameaçadas com ordens de prisão por se vestirem de preto, gritarem slogans ou acenderem uma vela, recorreram a formas artísticas de protesto — seja andando em silêncio ou usando as luzes dos telefones para [imitar velas e] iluminar partes da cidade. Estes sinais de resistência desaparecerão, a menos que o mundo continue a olhar [para Hong Kong] e condene a repressão”, defende Fowler.
Tudo acontece com uma pandemia em curso, que também tem sido instrumentalizada por razões políticas. “A covid-19 foi invocada como razão oficial das autoridades para proibirem os protestos, incluindo a vigília de 4 de junho. No entanto, mais revelador foi o facto de os partidários de Pequim enfatizarem repetidamente a Lei da Segurança Nacional como motivo, e as autoridades nada fizeram para se opor a essa narrativa”, conclui Evan Fowler.
“É também revelador que alguns dos detidos no ano passado por participarem nos protestos não tenham sido acusados de reunião ilegal, mas de crimes ao abrigo da Lei de Segurança Nacional. Perante isso, não surpreende que a visão comummente aceite seja a de que a covid-19 tem sido usada politicamente para silenciar dissidentes.”
Artigo publicado no “Expresso Online”, a 30 de junho de 2021. Pode ser consultado aqui