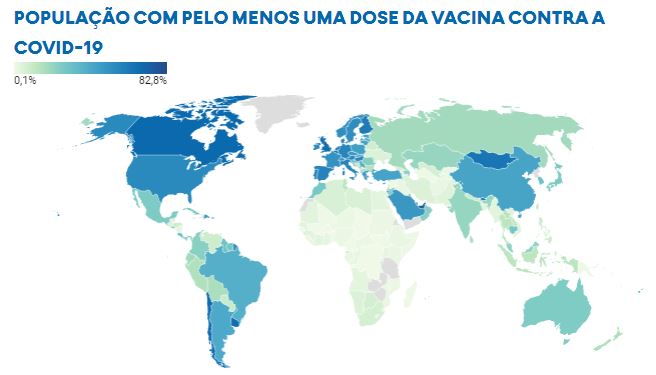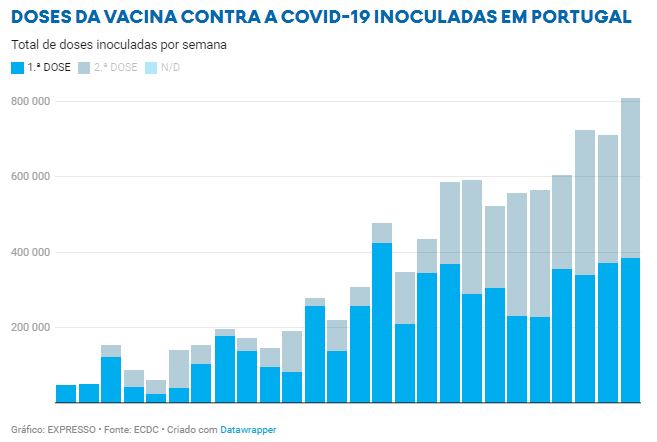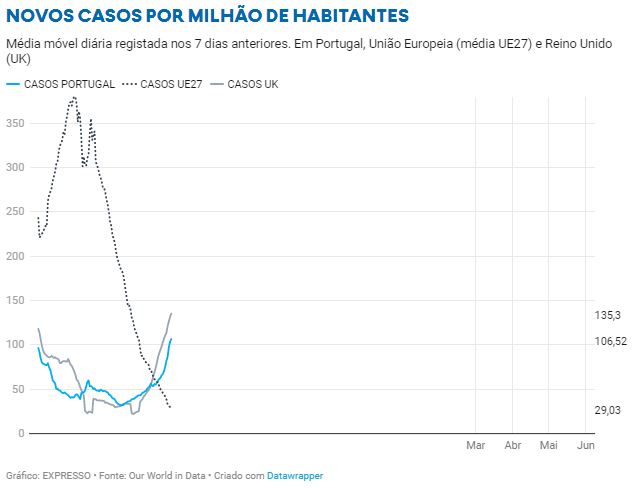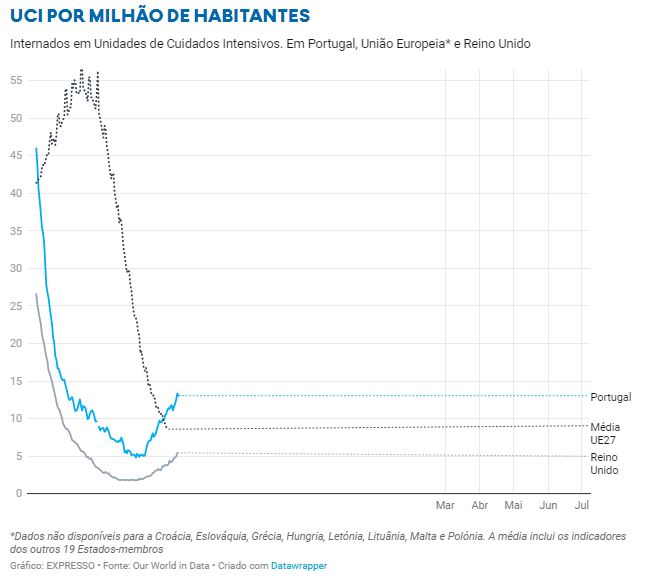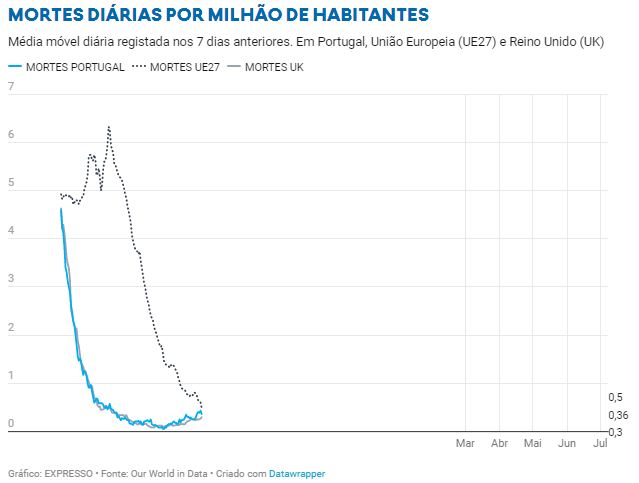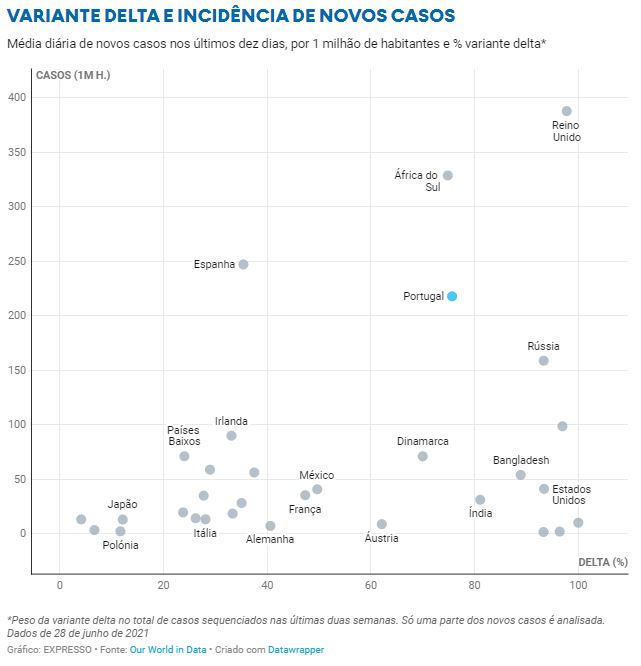Apontado como sucessor do Líder Supremo, o conservador Ebrahim Raisi herda um país em crise económica. A saída está para leste

Aos 42 anos de vida, a República Islâmica do Irão parece necessitada de soluções que o pensamento do seu fundador não contemplou. Nos anos que se seguiram à Revolução de 1979, uma frase de Ruhollah Khomeini desiludiu, em especial, os trabalhadores do complexo petroquímico de Azmayesh, cujas greves tinham sido cruciais para o desgaste do xá e subsequente ascensão ao poder dos ayatollahs. “Não fizemos uma revolução para termos melões baratos, fizemo-la pelo Islão”, disse Khomeini.
Hoje, é o preço dos bens de primeira necessidade — seja melão, pão ou gasolina — que mais preocupa os iranianos. Protestos recentes contra a escassez de água potável em cidades da província de Khuzestan (a oeste, junto ao Iraque) foram reprimidos com violência. O petróleo é abundante na região, mas essa riqueza não beneficia quem ali vive.
Sanções não explicam tudo
A política de “máxima pressão” de Donald Trump, que levou à retoma de sanções, colocou o Irão — e mais de 80 milhões de habitantes — à beira do colapso económico. “Com as sanções, que impedem o comércio, as exportações de hidrocarbonetos e o acesso aos mercados financeiros, a economia do país caminha a passos largos para uma situação preocupante, com sinais de grande inquietação no seio da população”, vaticina ao Expresso João Henriques, investigador da Universidade Autónoma de Lisboa e membro do Observatório do Mundo Islâmico. A forte desvalorização da moeda iraniana, o rial, deixou a fasquia da classe média abaixo de 50% da população. Mas as sanções não explicam tudo…
“Há um novo discurso revolucionário que atribui as principais causas da crise no país à corrupção e à má gestão”, diz ao Expresso o iraniano Mohammad Eslami, investigador na área dos estudos do Médio Oriente na Universidade do Minho. “Ao considerar uma raiz interna para a maioria dos problemas económicos, uma campanha anticorrupção abrangente requer uma cooperação forte e consistente entre os poderes legislativo, judicial e executivo. Isso será possível, mais do que nunca, com Ebrahim Raisi”. O novo Presidente toma posse quinta-feira.
Há um novo discurso revolucionário que atribui
as principais causas da crise à má gestão e à corrupção
Raisi, de 60 anos, trabalhou no sistema judicial durante 40 e partilha uma visão conservadora com as principais instituições de poder. “É um clérigo há muito apontado como potencial sucessor do Líder Supremo, Ali Khamenei [82 anos]”, diz João Henriques.
Aliança entre sancionados
“Embora o principal foco do futuro Governo sejam as políticas internas — reforma do regime tributário, renascimento de indústrias falidas, investimento na construção e na agricultura industrial e desenvolvimento de zonas industriais para evitar a exportação de matérias-primas —, os planos de Raisi relativos à política externa têm tendência para se voltar para leste”, diz Eslami.
“Será uma mudança significativa em relação à era de Hassan Rohani.” O Presidente cessante, moderado e reformista, defendeu o diálogo com o Ocidente. “Embora a relação com Estados Unidos e União Europeia seja importante, com Raisi será secundária. China e Rússia serão as prioridades.”
Raisi “já deixou patente não ver nas relações com o Ocidente uma prioridade do seu consulado presidencial”, acrescenta Henriques. Desde janeiro de 2016, quando o Presidente chinês, Xi Jinping, visitou Teerão, o Irão tornou-se grande beneficiário da Nova Rota da Seda. Igualmente, é um corredor fundamental para os países da Ásia Central — que abrigam um dos maiores reservatórios energéticos do mundo — acederem a águas internacionais.
Os planos de Raisi relativos à política externa têm tendência para se voltar para leste
Com os Estados Unidos a ameaçarem penalizar qualquer país que faça negócios com o Irão, este tenderá a voltar-se também para outras nações visadas por Washington, como Cuba, Bielorrússia ou Síria. Nos últimos anos, esta estratégia tem acontecido com maior visibilidade com a Venezuela, onde aportaram vários petroleiros com crude iraniano. A relação pode evoluir para “um plano mais ambicioso, que pode ter lugar a longo prazo e que passa pelo estabelecimento de uma base militar ou pelo início de um grupo paramilitar nas Caraíbas”, refere Eslami.
Princípios intocáveis
Ebrahim Raisi foi eleito a 18 de junho, com quase 18 milhões de votos (62%), num escrutínio em que participaram apenas 49% dos eleitores. No Irão, a eleição de um Presidente não acarreta mudanças na política externa. É o Líder Supremo quem define as linhas estratégicas do país; ao Presidente, a margem que resta é escolher que caminho seguir para concretizá-las.
“A política externa do Irão é baseada em princípios revolucionários, que incluem a preservação da integridade territorial, a autossuficiência, o antissionismo, o anti-imperialismo e a defesa do Islão”, enumera o professor iraniano. O apoio a milícias no Iraque, Afeganistão, Palestina, Líbano, Síria e Iémen insere-se num imperativo estratégico de neutralização de ameaças estrangeiras, incluindo militares.
Acordo nuclear: que futuro?
Assim sendo, que empenho colocará Raisi no diálogo internacional sobre o programa nuclear? “Na sua primeira declaração pública após ser eleito, Raisi instou a Administração Biden a voltar ao acordo nuclear, de 2015”, recorda o investigador português.
“O Irão não vai parar com as conversações sobre o nuclear”, acrescenta Eslami, mas não aceitará “participar numa negociação longa e erosiva”. Teerão diz que foi Washington a abandonar o acordo, logo terá de dar provas de boa-fé e levantar as sanções. “Embora o diálogo continue, uma nova ronda de negociações sobre o programa iraniano não parece possível”, conclui. “O programa de mísseis balísticos, que é a base da ‘legítima defesa’ e da ‘dissuasão convencional’, é a ‘linha vermelha’ do Irão” — qualquer que seja o Presidente em funções.
PERFIL DE EBRAHIM RAISI
O oitavo Presidente da história da República Islâmica do Irão partilha com o Líder Supremo a origem (ambos nasceram na cidade religiosa de Mashhad) e o estatuto (ambos reclamam serem descendentes diretos do profeta Maomé, daí usarem o turbante negro de sayyed). Nascido em 1960, Ebrahim Raisi é um clérigo conservador que começou a trabalhar no sistema judicial aos 20 anos, como promotor de justiça em Karaj. O seu nome ficou ligado ao chamado “comité da morte”, composto por funcionários judiciais e agentes secretos, responsável pela execução de milhares de presos políticos, em 1988. Liderou o sistema judicial desde 2019, período em que ocorreram duas execuções que geraram protestos internacionais: a do lutador Navid Afkari e a do jornalista Ruhollah Zam. Em 2017, Raisi debutou no primeiro plano da política: obteve 38% nas presidenciais, que perdeu para o Hassan Rohani, a quem agora sucede.
(FOTO Ebrahim Raisi é o oitavo Presidente da história da República Islâmica do Irão HAMED MALEKPOUR / WIKIMEDIA COMMONS)
Artigo publicado no “Expresso”, a 30 de julho de 2021