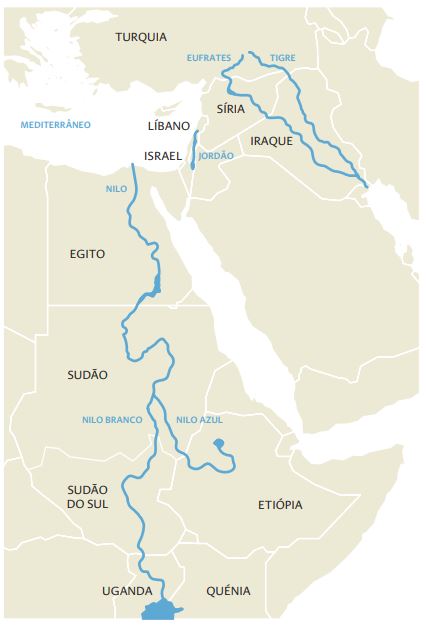Os XXXII Jogos Olímpicos da era moderna não registaram boicotes políticos. Mas muitos atletas aproveitaram o relaxamento das proibições em matéria de manifestações políticas, religiosas ou raciais para alertarem para as suas causas. Em algumas competições, previsivelmente tensas em virtude dos países em contenda, os atletas deixaram a política fora dos recintos. Mas no judo masculino, subiu mesmo ao tapete…
1. ESTADOS UNIDOS-IRÃO: UMA LIÇÃO DE DECÊNCIA
A equipa olímpica de basquetebol dos Estados Unidos não é mais o Dream Team dos Jogos de Barcelona, de 1992. Mas o talento chega e sobra para colocar qualquer adversário em sentido.
Quis o sorteio do torneio olímpico de basket que, na fase de grupos, os EUA defrontassem o Irão. Fora dos recintos desportivos, as duas nações não se falam. Estão de relações cortadas deste 1979, ano em que triunfou a Revolução Islâmica liderada pelo ayatollah Ruhollah Khomeini, e atualmente só contactam indiretamente.
É o que acontece, desde há meses, em Viena, para tentar relançar o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano. As duas delegações diplomáticas estão alojadas em hotéis diferentes, não muito distantes, cabendo aos mediadores andarem entre um e outro a transportar mensagens.

Nos Jogos de Tóquio, os EUA “esmagaram” o Irão por 120-66. No final, o resultado desequilibrado não fez mossa. Basquetebolistas das duas equipas deixaram-se fotografar em saudável convivência. “Não é surpresa que os treinadores iriam gostar de se conhecer, e os jogadores demonstrariam desportivismo”, comentou Gregg Popovich, o treinador dos EUA. “Só gostávamos que isto fosse a vida real.”
Nas bancadas, o repórter do jornal britânico “The Guardian”, Sean Ingle, tudo testemunhou: “Não foi tanto o Grande Satã. Foi mais o Grande Amor. E durante mais de duas horas agradáveis na Saitama Super Arena, as equipas de basquete dos Estados Unidos e da República Islâmica do Irão deram uma lição salutar de harmonia, decência e classe para muitos dos seus líderes políticos dos últimos 42 anos.”
2. A PALESTINA, ACIMA DE TUDO
Fethi Nourine, um judoca argelino, tomou uma decisão radical ainda antes de iniciar a sua participação nos Jogos. Conhecido o resultado do sorteio, que ditou o cruzamento dos atletas na categoria de menos de 73 kg, o atleta de 30 anos retirou-se. Se vencesse o adversário sudanês, na primeira ronda, iria enfrentar o israelita Tohar Butbul, que ficou isento do primeiro combate.
“Não tivemos sorte no sorteio. Trabalhamos duro para nos classificarmos para os Jogos, mas a causa palestiniana é maior do que tudo isso. Nós recusamos a normalização das relações com Israel”, justificou o treinador nacional argelino, Amar Ben Yekhlef.
A reação de Nourine não foi propriamente surpreendente. Já em 2019, ele abandonara o Campeonato do Mundo, realizado exatamente no mesmo pavilhão dos Jogos — o Nippon Budokan — pelas mesmas razões. Então, afirmou: “Não vamos fazer com que a bandeira de Israel seja erguida e não vamos sujar as mãos a lutar com um israelita”.

A Argélia tem uma posição sólida em relação à questão da Palestina. Para além da sua tradição revolucionária de oposição ao colonialismo — demonstrada na guerra da independência contra a França (1954-1962) —, foi em Argel que, a 15 de novembro de 1988, foi proclamada a independência do Estado da Palestina, que chegou a ser reconhecido por 138 países.
Em Tóquio, o israelita Tohar Butbul enfrentaria uma segunda deserção. A seguir ao argelino, também o sudanês Mohamed Abdalrasool desistiu da competição para não enfrentar o judoca judeu.
3. TADJIQUISTÃO E QUIRGUISTÃO EM NEGAÇÃO
Da euforia da delegação portuguesa ao exotismo do porta-bandeira do Tonga, um adereço sobressaiu mais do que todos os outros durante o desfile dos atletas, na cerimónia de abertura dos Jogos, no Estádio Olímpico — a máscara anti-covid. Mas pelo menos em duas delegações, a maioria dos seus membros abdicou dessa proteção: Tadjiquistão e Quirguistão.
Nestes países vizinhos da Ásia Central, o combate à pandemia tem-se travado em moldes muito relaxados. No Quirguistão, em abril, o ministro da Saúde defendeu a toma de um tónico feito à base de ervas para tratar a covid-19. O preparado foi proposto pelo Presidente Sadyr Japarov — um nacionalista e populista, comparado a Donald Trump — e é feito com base numa receita que foi dada ao Presidente pelo seu pai.
Apesar de advertências médicas de que a poção continha um veneno potencialmente letal, o próprio ministro Alymkadyr Beishenaliyev dissipou dúvidas, e bebeu o preparado durante um briefing na Internet.

No Tadjiquistão, as autoridades tardaram em admitir a existência de casos de SARS-CoV-2 no país. E, mesmo após terem cedido ao impacto da doença, têm sido acusadas de encobrir a verdadeira extensão do problema que, no entanto, parece não poupar os mais poderosos do país. Na véspera do início dos Jogos, foi noticiada a morte de uma irmã do Presidente Emomali Rahmon, por covid-19.
4. KAEPERNICK CONTINUA A INSPIRAR
Cinco anos após Colin Kaepernick ter, de forma inédita, substituído a mão direita sobre o coração por um joelho no chão, durante a execução do hino dos EUA, antes de um jogo da Liga Nacional de Futebol (futebol americano), o gesto continua a ser repetido em estádios de todo o mundo. Então, Kaepernick — filho de mãe branca e pai negro — insurgia-se contra a violência policial dirigida em especial contra afroamericanos.

Nos Jogos de Tóquio, o gesto multiplicou-se, em especial nos torneios de futebol, sem receios de penalizações por parte do Comité Olímpico Internacional. Uma alteração recente à regra da Carta Olímpica relativa a manifestações de caráter político, religioso e racial passou a admitir gestos que “não sejam dirigidos, direta ou indiretamente, a pessoas, países, organizações e / ou à sua dignidade” e que “não sejam disruptivos”, como, por exemplo, que não se realizem durante a execução do hino nacional de outra equipa.
Para muitos atletas, foi a deixa perfeita para deixaram a sua consciência falar mais alto e expressarem solidariedade com vítimas de racismo, injustiça e discriminação.
5. MATILDAS NÃO ESQUECEM OS ABORÍGENES
A participar nos Jogos Olímpicos pela quarta vez, as Matildas — a alcunha da seleção australiana feminina de futebol — aproveitaram o palco para porem o dedo numa ferida que tarda em sarar no país.
Antes do início do primeiro jogo, contra a vizinha Nova Zelândia, as australianas posaram para a fotografia segurando uma bandeira do povo aborígene, a população nativa da Austrália, alvo de discriminação. Duas jogadoras da equipa — a guarda-redes Lydia Williams e a atacante Kyah Simon — são aborígenes.

O gesto das Matildas não foi recebido de forma unânime na Austrália. “As bandeiras indígenas não representam todos os australianos. Existe apenas uma bandeira que realmente representa todos nós. Os contribuintes não desembolsam milhões de dólares para enviar equipas olímpicas para representar duas nações. Somos uma nação, a Austrália, indígenas e não indígenas”, criticou a senadora Pauline Hanson (direita).
“Muitos australianos estão fartos de atletas e celebridades que sequestram os palcos para fazerem gestos simbólicos que apenas inflamam a divisão. Os australianos estão fartos de os seus desportos favoritos serem arruinados pela política.”
Polémica à parte, a seleção australiana obteve o seu melhor resultado de sempre nuns Jogos: o quarto lugar, após perder a medalha de bronze para os EUA, as campeãs mundiais.
6. RAVEN SAUNDERS, UMA VOZ DOS OPRIMIDOS
Deu nas vistas desde o primeiro momento em que as câmaras televisivas a visaram, no Estádio Olímpico, pela sua aparência excêntrica. Raven Saunders, a norte-americana que haveria de conquistar a medalha de prata no lançamento do peso, sobressaía pelo seu porte avantajado, pela indumentária que envergava — em especial a máscara, que nunca tirou, nem para fazer os lançamentos — e pelos gestos alucinados.
Consagrada vice-campeã, em cima do pódio e de medalha ao pescoço, ela levantou os braços e cruzou-os sobre a sua cabeça. Pouco depois, em declarações à imprensa, explicou que aquele X é “a interceção onde se encontram todas as pessoas oprimidas”.

Saunders, uma atleta negra e homossexual, tem falado abertamente sobre a sua experiência com a depressão e questões de identidade. Na hora da glória olímpica, aproveitou os holofotes para falar da sua causa: “Grito para todos os meus negros, grito para toda a minha comunidade LGBTQ, grito para todo o meu povo que lida com saúde mental. No fim de contas, entendemos que isso é maior que nós e do que os poderes constituídos, entendemos que há tantas pessoas que olham para nós, que estão à espera para ver se dizemos algo ou se falamos por eles”.
7. GARRAS DE LUKASHENKO CHEGAM A TÓQUIO
A rédea curta com que o regime do Presidente da Bielorrússia Aleksandr Lukashenko aborda a liberdade de expressão dentro de portas chegou a Tóquio. Krystsina Tsimanouskaya, uma velocista de 24 anos, foi levada contra a sua vontade, por membros do comité olímpico bielorrusso, para o aeroporto de Tóquio para ser repatriada, ainda antes de ter concluído o seu programa de provas.
A atleta acusara os treinadores de “negligência” por a terem convocado, à última hora e à sua revelia, para correr a estafeta dos 4×400 metros, em substituição de outra atleta que não tinha realizado os suficientes controlos antidoping. Tsimanouskaya iria disputar essa prova na véspera de correr os 200 metros, a corrida com que se tinha qualificado para Tóquio.

As críticas caíram mal em Minsk — onde um filho de Lukashenko preside ao comité olímpico bielorrusso —, que as considerou “antipatrióticas”. Tsimanouskaya recebeu guia de marcha para casa.
No aeroporto, após falar ao telefone com a avó que a alertou para as más reações, no país, às suas palavras, pediu ajuda à polícia — temendo ser presa no regresso a casa — e pediu asilo à Polónia. Crítico do regime bielorrusso, este país escancarou-lhe as portas.
8. ISRAEL E ARÁBIA SAUDITA CADA VEZ MAIS PRÓXIMOS
Entre os países árabes, deixou de haver unanimidade nos recintos desportivos quando pela frente surge um atleta de Israel. Se, no torneio masculino do judo, dois atletas oriundos de Estados árabes abandonaram a competição para não defrontarem um adversário judeu, no judo feminino fez-se história.
Tahani Alqahtani, da Arábia Saudita, e a israelita Raz Hershko combateram na categoria de mais de 78 kg. No tapete, a israelita levou a melhor sobre a saudita e, no cumprimento do princípio basilar do judo de respeito pelo adversário, no final, ambas se cumprimentaram.

Não haveria lugar a surpresa não fosse tratar-se de uma situação incomum entre desportistas dos dois países, que não têm relações diplomáticas entre si.
No último ano, dois países árabes da região do Golfo Pérsico (Emirados Árabes Unidos e Bahrain) reconheceram Israel a nível bilateral. A histórica decisão teve o acordo tácito do gigante árabe da região: a Arábia Saudita. Encontros como este, entre as duas judocas, provam que os dois países já estiveram muito mais distantes do que estão.
“A política ficou de fora da competição e no fim o desporto venceu”, afirmou a israelita, em entrevista ao diário saudita em língua inglesa “Arab News”, elogiando a adversária saudita. “Ela teve coragem de vir para a luta e fazer o que ama. Fizemos uma luta justa e no final apertámos as mãos. Correu tudo bem.”
9. SEM BOICOTES, MAS COM UMA AUSÊNCIA
Os Jogos de Tóquio não registaram boicotes políticos, mas nem todos os países marcaram presença. Mais de três meses antes do seu início, e quando soçobravam incertezas sobre a efetiva realização do evento, a Coreia do Norte anunciou que não participaria, para proteger os seus atletas da covid-19.
Pyongyang tem consistentemente negado a existência de casos positivos no país e quando, finalmente, admitiu um caso culpou a Coreia do Sul: o homem infetado era um norte-coreano que tinha desertado para o Sul e retornado clandestinamente, noticiou o Norte.
A decisão da Coreia do Norte — que participava nos Jogos ininterruptamente desde 1988, ano em que boicotou os de Seul — inviabilizou uma estratégia que marcou os Jogos que antecederam os de Tóquio — os Jogos de Inverno em PyongChang (Coreia do Sul), em 2018. Então, as duas Coreias desfilaram juntas na cerimónia de abertura e competiram integradas numa equipa só.

Essa aproximação conduziu a uma séria de cimeiras de alto nível: três entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos (2018-19) e outras tantas entre as duas Coreias (2018). Na ausência de resultados concretos, desde então, o processo de negociações, que visa, em última instância, a obtenção de um tratado de paz na Península Coreana está estagnado. Desta vez, o desporto não pôde dar uma ajuda para a retoma do diálogo.
10. NÃO É TEMPO DE CELEBRAÇÕES
Manda a tradição olímpica que seja o chefe de Estado do país organizador a declarar o início dos Jogos. Foi assim também no Japão, com o Imperador Naruhito, no trono desde 1 de maio de 2019, que só muito raramente surge em público.
Prevê a Carta Olímpica também, na sua Regra 55, que o monarca profira exatamente a seguinte frase: “Declaro abertos os Jogos de… (nome da cidade organizadora) celebrando… (número da Olimpíada) da era moderna”. Porém, em Tóquio, houve uma nuance. Em vez de “celebrando”, Naruhito disse “comemorando”, retirando carga festiva a um evento que se realizou em plena pandemia.

Em 1964, o seu avô Hirohito não teve necessidade de adaptar o texto à conjuntura, quando declarou abertos os Jogos de Tóquio. O evento simbolizou a reintegração do Japão no concerto internacional, após a derrota na II Guerra Mundial.
(FOTO PRINCIPAL O iraniano Saeid Davarpanah e o norte-americano Damian Lillard confraternizam após o jogo entre as duas seleções, no torneio de basquetebol dos Jogos de Tóquio GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES)
Artigo publicado na “Tribuna Expresso”, a 9 de agosto de 2021. Pode ser consultado aqui