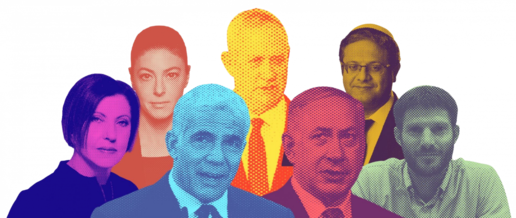O Japão foi a votos domingo, num escrutínio ensombrado pelo assassínio do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, dias antes, quando discursava num comício. Enquanto digerem este crime sem precedentes no país, os eleitores japoneses votaram maioritariamente em partidos defensores, como o desaparecido, de uma revisão da Constituição pacifista
A mais de 11 mil quilómetros de Portugal, o Japão é um país que sobressai pela sua liderança em vários domínios. Com os animes, tornou-se potência mundial da indústria do audiovisual; a sua gastronomia é apreciada nos quatro cantos do mundo; e o desenvolvimento tecnológico catapulta o país para o topo das classificações mundiais da especialidade.
Outra imagem forte é a tranquilidade e o pacifismo que emana da sociedade nipónica. O Japão ocupa as últimas posições nos rankings internacionais de criminalidade e, inversamente, os primeiros no Índice Global da Paz.
Nada preparava 126 milhões de cidadãos, pois, para o chocante assassínio a tiro, na via pública, do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, na passada sexta-feira, quando discursava numa ação de campanha do Partido Liberal Democrático (PLD, conservador), a que pertence também o primeiro-ministro Fumio Kishida. Foi um trágico fim da campanha para as eleições deste domingo, em que foram a votos 125 dos 248 assentos da câmara alta do Parlamento.
Os partidos da coligação no poder (PLD e Komeito) asseguraram 77 lugares, passando a ter um total de 147 membros na Câmara dos Conselheiros. “Uma grande vitória para o bloco que pressiona para tornar realidade o sonho de revisão [constitucional] de Abe”, escreveu o jornal japonês “Asahi Shimbun”.
Legado da II Guerra Mundial
Durante os seus mandatos como primeiro-ministro (2006-2007 e 2012-2020), Abe pugnou pela revisão da Constituição do Japão (promulgada em 1946, a seguir à derrota nipónica na II Guerra Mundial, e nunca revista) no sentido de clarificar o estatuto legal das Forças de Autodefesa, que têm estado confinadas às ilhas japonesas e só muito recentemente passaram a integrar missões de manutenção da paz no estrangeiro.
Pelo artigo 9º da Constituição, “o povo japonês renuncia para sempre à guerra como direito soberano da nação e à ameaça ou uso da força como meio de resolver disputas internacionais”.
Para cumpri-lo, “as forças terrestres, marítimas e aéreas, bem como outras potencialidades bélicas, nunca serão mantidas”. Esta disposição constitucional e a ausência de qualquer referência explícita às Forças de Autodefesa servem de base à argumentação que rotula as Forças de inconstitucionais.
Uma revisão constitucional exige a aprovação de dois terços dos deputados nas duas câmaras do Parlamento — Câmara dos Representantes (baixa) e Câmara dos Conselheiros (alta) —, ao que se seguirá um referendo nacional.
Esta possibilidade ficou mais próxima de se tornar realidade após as eleições deste domingo, já que quatro partidos favoráveis a uma revisão constitucional conquistaram lugares suficientes para forjar a maioria de dois terços. Um sonho que Shinzo Abe não verá concretizado.
Caso muito excecional
Abe, de 67 anos, foi assassinado quando discursava em frente à estação ferroviária de Yamato-Saidaiji, na cidade de Nara (no centro de Honshu, a maior ilha do arquipélago japonês), a cerca de 500 quilómetros de Tóquio. O seu palco era uma pequena caixa quadrada colocada numa área zebrada no meio da estrada. Abe foi alvejado duas vezes nas costas, com surpreendente facilidade.
“Este é um caso muito excecional no Japão, uma das sociedades mais pacíficas do mundo, com um índice de criminalidade muito baixo. No entanto, nos tempos em que vivemos, e tendo em conta o que se passa a nível internacional, não me surpreende que episódios de volatilidade e incerteza ocorram também no Japão”, diz ao Expresso um cidadão português a residir em Tóquio, que solicitou anonimato.
“A cidade de Nara, onde Abe discursava, é quase uma vila quando comparada com as grandes cidades de Tóquio ou Osaca. Por ser um dos países mais seguros do mundo, os seguranças que acompanhavam Abe estão agora a ser acusados de negligência, pois deixaram a retaguarda do ex-primeiro-ministro sem qualquer proteção.”
O atacante, que já confessou o crime, usou uma arma de fabrico caseiro. Foi identificado como Tetsuya Yamagami, desempregado de 41 anos, residente em Nara, que serviu três anos na Marinha, até 2005. Aos investigadores, o suspeito disse sentir “rancor” em relação a Abe.
“A minha família aderiu a uma organização religiosa e a nossa vida tornou-se mais difícil após doar dinheiro para essa organização”, disse Yamagami, citado pelo “Asahi Shimbun. “Eu queria atingir o alto responsável da organização, mas era difícil. Então, virei-me para Abe, porque acreditava que ele estava ligado [à organização]. Quis matá-lo.”
Críticas a Zelensky
O cidadão português ouvido pelo Expresso não descarta a possibilidade de o assassino ter atuado com motivações políticas. “Pessoalmente, penso que é um ato político com contornos internacionais. Shinzo Abe era próximo de Vladimir Putin [Presidente da Rússia] e Donald Trump [ex-Presidente dos EUA]. E em maio tinha criticado [Volodymyr] Zelensky [Presidente da Ucrânia].”
Há pouco mais de um mês, Abe pronunciou-se sobre a guerra na Ucrânia para criticar Kiev: “Se o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tivesse sido obrigado a prometer que o seu país não aderiria à NATO ou a conceder um alto grau de autonomia aos dois enclaves orientais [Donetsk e Luhansk], teria sido possível evitar hostilidades”, disse.
Antes destas declarações, e já com a invasão russa em curso, Abe comparou Putin a Oda Nobunaga, um guerreiro do século XVI muito importante na história do Japão. O Presidente russo, disse, é “um pragmático extremo e, fundamentalmente, acredita no poder”, disse num simpósio. “Eu diria que ele é como um general Sengoku [período dos Estados Combatentes]. Por exemplo, se se dissesse a Oda Nobunaga para respeitar os direitos humanos, não funcionaria.”
A experiência militar do assassino confesso ter-lhe-á sido preciosa para construir a arma com que alvejou Abe. No Japão, adquirir uma arma de fogo requer registo criminal limpo, treino obrigatório, avaliação psicológica e verificação de antecedentes que podem passar por entrevistas a vizinhos por parte da polícia.
Uma vez por ano, a arma tem de ser inspecionada pela polícia e a cada três anos há que renovar a licença, o que obriga o proprietário a voltar a receber formação e a fazer um exame. Não é permitido comprar pistolas, apenas espingardas e carabinas de ar comprimido.
Menos de dez mortes por ano
Estas restrições contribuem para um baixo número de armas de fogo nas mãos de particulares, no Japão. Segundo o projeto independente “Small Arms Survey”, localizado no Instituto de Estudos Internacionais e de Desenvolvimento, de Genebra, estima-se que, em 2017, havia no Japão (126 milhões de habitantes) cerca de 377 mil armas nas mãos de civis — uma média de 0,25 armas por 100 pessoas, enquanto nos Estados Unidos essa média é de 120 armas.
Em consequência, a quantidade de crimes com armas de fogo é praticamente inexistente. A média anual é de menos de dez mortes. Em 2017, houve apenas três.
Mesmo a Yakuza, conhecida como “máfia japonesa” — uma organização com ramificações internacionais que se dedica à extorsão, tráfico, lavagem de dinheiro e inúmeras outras atividades criminosas ligadas ao crime organizado —, proibiu os seus membros de usarem armas de fogo, pelo menos em público, para protegerem os seus principais líderes de responsabilidades criminais.
A decisão seguiu-se à sentença de um tribunal da cidade de Fukuoka que, em agosto do ano passado, condenou à morte por enforcamento Satoru Nomura, de 74 anos, líder de um gangue importante, responsabilizando-o por ataques realizados por subordinados. O mafioso recorreu da sentença e aguarda o resultado.
Foi às mãos da Yakuza que, em 2007, após um comício, foi assassinado Iccho Itoh, antigo presidente da Câmara Municipal de Nagasáqui. Foi o último político japonês morto a tiro antes de Abe, um político de outra dimensão, já que era o japonês que mais tempo serviu no cargo de primeiro-ministro. Nos dois mandatos, abdicou por razões de saúde.
“Algo mudará” no país como consequência deste caso, prevê o cidadão português. “No Japão, tentam sempre reformar o sistema, ou criar novos regulamentos, quando algo não corre bem. Talvez tenha algum impacto na tradição japonesa dos candidatos políticos discursarem em público. Certamente a segurança vai ser reforçada nessas ocasiões.”
(FOTO Cartazes de candidatos à eleição para a Câmara Alta do Parlamento, em Tóquio, a 10 de julho de 2022 ISSEI KATO / REUTERS)
Artigo publicado no “Expresso Online”, a 5 de fevereiro de 2020. Pode ser consultado aqui