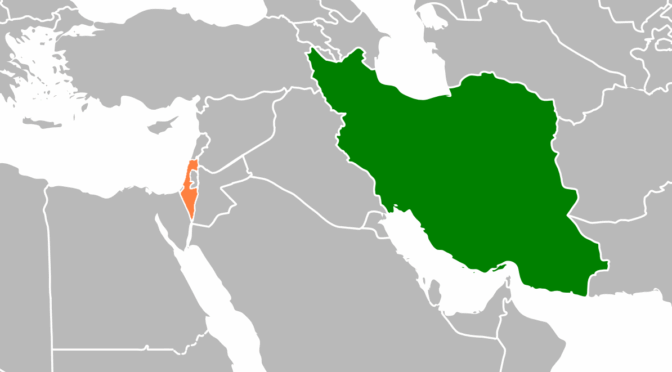O Irão lançou um ataque a Israel sem a intenção de ferir. Israel quer responder, mas os Estados Unidos não garantem apoio. A Jordânia é o país que melhor acolhe os palestinianos e saiu em defesa do Estado hebraico. A Arábia Saudita, que estava em rota de aproximação a israelitas e iranianos, ficou praticamente em silêncio. A ofensiva de Israel contra o Irão expôs uma geografia variável na região e um desejo comum — ninguém quer a escalada, mesmo quem não se contém na hora de dar ordem de ataque
O aparatoso ataque da República Islâmica do Irão contra o Estado de Israel, na noite de sábado, fez lembrar os dias da guerra do Golfo de 1991. Desencadeada pela invasão iraquiana do Kuwait, a 2 de agosto de 1990, este foi o primeiro conflito da história a ser transmitido em direto pela televisão.
A emissora americana CNN, fundada dez anos antes, apostou numa cobertura inédita desta guerra e ganhou dimensão mundial. A linguagem dos mísseis — como os ofensivos scuds e os defensivos patriots — entrou na retórica quotidiana dos telespectadores.
Sábado passado, após rebentar a notícia de que o Irão lançara um enxame de drones da direção de Israel, o mundo colou-se à televisão ‘à espera de ver chegar’, dali a umas horas, os 330 drones e mísseis balísticos e de cruzeiro, após uma viagem de 2000 quilómetros.
“Assistimos a isso na guerra do Golfo, mas quando os mísseis já estavam a cair em Bagdade. Agora estávamos à espera que chegassem. Quase que havia notícias sobre os países que estavam a atravessar…”, ilustra, em conversa com o Expresso, José Palmeira, professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade do Minho.
Da mesma forma que, então, os céus da capital iraquiana eram iluminados pelos clarões das explosões, na noite de sábado a imagem do céu escuro sobre a emblemática Cúpula do Rochedo, em Jerusalém, atravessado por projéteis e ao som das sirenes de alerta “marca uma nova era e um novo momento na história de Jerusalém, da Terra Santa e do Médio Oriente”, comentou o historiador britânico Simon Sebag Montefiore na rede social X (antigo Twitter).
A investida do Irão sobre Israel, que Teerão afirma ter sido “limitada”, visando apenas alvos militares e realizada em retaliação pelo ataque de 1 de abril contra o seu consulado em Damasco, atribuído a Israel, abriu a porta de novo conflito. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, avisou repetidas vezes que o seu país responderia a qualquer ataque iraniano. Teerão fez saber de pronto que reagirá a qualquer provocação israelita.
Esta segunda-feira, o gabinete de guerra de Israel reuniu-se para definir o tipo de resposta, em função não só dos seus objetivos, mas, sobretudo, do apoio com que poderá contar dos aliados. Muito dependerá das reações internacionais ao inédito ataque do Irão.
IRÃO. Que motivações teve para atingir Israel?
Desde logo, é percetível uma componente interna para justificar o ataque a Israel. “O Governo dos ayatollahs está muito desacreditado, há uma crise económica e a população vive mal, a polícia dos costumes tem tido atitudes radicais”, como no caso da jovem Mahsa Amini, explica Palmeira. “Uma das formas do regime se credibilizar e se unir internamente é criar inimigos externos”, como Israel e os Estados Unidos, que funcionam como “cimento de um Irão dividido”.
Em paralelo, sobram objetivos regionais. O gigante xiita do Médio Oriente, que faz fronteira com 12 países, quer ser potência hegemónica e “ser temido por todos os outros”. Isso justifica o seu apoio ao “eixo da resistência”, que passa por aliados regionais xiitas (como o libanês Hezbollah e os iemenitas hutis), mas também sunitas, como o palestiniano Hamas.
Com este ataque, Teerão quis demonstrar força e poder. “O Irão mostra força quando vende drones à Federação Russa, drones esses que têm tido papel relevante na guerra na Ucrânia. Revela capacidade tecnológica e ganha dinheiro, porque os vende a bom preço e o Irão precisa de dinheiro.” Até à guerra na Ucrânia, o Irão era o país mais sancionado do mundo, sendo depois ultrapassado pela Rússia.
O ataque foi de grande espetacularidade, mas não provocou grandes danos em Israel, que diz ter intercetado 99% dos projéteis. “O Irão não atacou Israel com mais força porque temia uma retaliação. O Irão quer ter capacidade nuclear, se é que já não tem. Sabe-se onde o urânio está a ser enriquecido e essas localizações seriam imediatamente o primeiro alvo de Israel, tal como as fábricas de drones”, acrescenta o docente da Universidade do Minho. “O Irão não quis provocar Israel ao ponto de Israel — se tivesse sofrido mortos e feridos — ter de responder obrigatoriamente para não ficar numa situação de fraqueza.”
ISRAEL. Como fica a relação com os Estados Unidos?
O ataque do Irão aconteceu numa altura em que a aliança histórica entre Israel e os Estados Unidos revelava desgaste por causa da operação militar israelita na Faixa de Gaza. O incómodo americano ficou mais visível quando, a 25 de março, Washington não exerceu o veto a uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que não era do interesse de Israel.
Mas mal o Irão iniciou o ataque a Israel, ficou claro que as forças dos Estados Unidos estacionadas no Médio Oriente estariam ao lado do Estado judeu. “Israel é a única democracia daquela zona, o que significa que para os Estados Unidos e para o Ocidente isso é um elemento relevante a preservar”, comenta Palmeira. “Por outro lado, a sobrevivência do Estado de Israel depende, em grande medida, do apoio ocidental e, fundamentalmente, dos Estados Unidos.”
Por outro lado ainda, um conflito entre Israel e o Irão arrisca-se a ter consequências económicas globais, como revela a pronta reunião dos líderes do G7, no próprio dia, de onde saiu um alerta de uma “escalada regional incontrolável”.
“Interessa, neste momento, que a guerra escale e que haja um conflito que ponha em causa os preços do petróleo, que já estão a subir, e de outras matérias-primas com reflexos na inflação? Interessa ao mundo outra crise económica? Não interessa.” Mais ainda em contexto pré-eleitoral nos Estados Unidos.
Mas, realça o académico, “uma coisa é o interesse de Israel, outra coisa é o interesse de Benjamin Netanyahu, acossado internamente”, ainda antes do ataque de 7 de outubro e, mais recentemente, por causa da questão dos reféns. “E também externamente, porque a intervenção militar israelita na Faixa de Gaza provocou uma catástrofe humanitária”, com impacto emocional nas opiniões públicas internacionais.
“Netanyahu está a lutar pela sua sobrevivência política e, nesse sentido, quanto mais duro for, a priori, acha que isso o favorece. Se atacasse o Irão de seguida, sairia vencedor.” O governante israelita saiu ileso deste confronto graças à eficácia demonstrada pelo sistema de defesa do país, que neutralizou o ataque com aparente facilidade, mas a falta de apoio militar dos Estados Unidos a uma contrarresposta contra o Irão pode condicioná-lo.
JORDÂNIA. Porque acorreu a defender Israel?
O reino hachemita está particularmente exposto à conflitualidade no Médio Oriente, desde logo pela grande quantidade de palestinianos que vivem no país (outrora a Transjordânia) e a quem é concedida cidadania jordana. No atual contexto de guerra em Gaza, Amã tem sido palco de grandes manifestações contra Israel e, já no pós-7 de outubro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ayman Safadi, afirmou que “o acordo de paz entre Israel e a Jordânia [celebrado em 1994] está na prateleira e a acumular poeira”.
Durante o ataque do Irão a Israel, contudo, o reino não hesitou. Caças da Força Aérea Jordana levantaram voo para abater drones iranianos, em defesa de Israel. Estima-se que os pilotos jordanos tenham intercetado cerca de 20% dos drones que entraram no seu espaço aéreo. E, segundo informou o Presidente francês, Emmanuel Macron, França — que tem tropas estacionadas na Jordânia — neutralizou projéteis iranianos a pedido das autoridades jordanas.
“A Jordânia tem tido uma atitude construtiva, que começa a mudar a partir do momento em que o Irão surge como ameaça e apoia o Hezbollah no Líbano, e grupos jiadistas que estão na Síria e no Iraque. Isto também é uma ameaça para a Jordânia. Há receio de um Irão hegemónico, sobretudo a partir do momento em que tenha armas nucleares.”
Recentemente, o comandante do grupo Kataib Hezbollah, uma das maiores milícias pró-iranianas que operam no Iraque, afirmou-se pronto para armar e treinar 12 mil jordanos para se juntarem à “frente de resistência” contra Israel.
ARÁBIA SAUDITA. Porque ficou equidistante o arqui-inimigo do Irão?
Ataques como o do Irão a Israel têm o potencial de deixar o Médio Oriente “à beira do abismo”, como disse, esta segunda-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, no Conselho de Segurança. É também um grande revés nos planos de modernização da Arábia Saudita e de outras monarquias do Golfo que têm vindo a aproximar-se de Israel — algumas de forma formal, através dos Acordos de Abraão.
“O Irão tende a ficar isolado na região, porque os vizinhos querem sobretudo paz. Vivem em grande medida do turismo, da atração de figuras como Cristiano Ronaldo como medidas de soft power e querem estabilidade e ser vistos do exterior como países onde há qualidade de vida”, comenta o professor Palmeira.
“Ao contrário de outros países que são fortes no hard power, como o Irão, pela capacidade militar que têm, a Arábia Saudita quer ser forte no plano económico.” Vários países do Golfo “estão a fazer a transição de uma economia assente no petróleo para energias limpas e têm consciência de que esse é o futuro. Não lhes interessam crises económicas nem a desestabilização da zona. Daí que um conjunto de países sunitas tenha boas relações com Israel, o que isola o Irão, que consideram uma espécie de perturbador regional.”
Após o ataque do Irão, o Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita emitiu um comunicado lacónico, expressando preocupação perante a “escalada militar” e apelando a “todas as partes que exerçam a máxima contenção e poupem a região e os seus povos dos perigos da guerra”. Se é verdade que Riade desbravava um caminho de aproximação a Israel, há pouco mais de um ano, a 10 de março de 2023, fez as pazes com o Irão, através de um acordo mediado pela China, após sete anos de relações congeladas.
Os dois principais polos de poder no Médio Oriente não deixam de ser rivais a vários níveis — a Arábia Saudita é uma monarquia árabe sunita e o Irão é uma república persa xiita —, mas o atual contexto força Riade a jogar “um papel quase dúbio”, conclui Palmeira.
“Por um lado, interessa-lhe que as relações com o Irão sejam pacificadas, mas interessa-lhe também, caso o Irão revele apetência para uma maior escalada, alargar o âmbito das suas alianças, incluindo com o Estado de Israel. No fundo, a Arábia Saudita procura jogar com essa geometria variável — não alienar a relação com o Irão e, em simultâneo, equilibrar a ascensão do Irão com alianças com outros países da região.”
(IMAGEM O mapa assinala os territórios do Irão (a verde) e de Israel (a laranja) WIKIMEDIA COMMONS)
RELACIONADO: A escalada que (quase) todos tentam evitar
Artigo publicado no “Expresso Online”, a 15 de abril de 2024, e no “Expresso”, a 19 de abril de 2024. Pode ser consultado aqui e aqui