Nos anos 80, os Jogos Olímpicos de Seul foram, para a Coreia do Sul, um palco de debute internacional após décadas de ditadura. Consolidada a democracia, o país quer agora impressionar com a sua capacidade tecnológica. Os Jogos de Inverno, em PyeongChang (assim mesmo, com um ‘c’ maiúsculo pelo meio), que começam esta sexta-feira (a RTP2 transmite a abertura às 11h), são a montra
Há precisamente 30 anos, a Coreia do Sul entrava para o clube restrito dos países organizadores dos Jogos Olímpicos. Seul acolhia a 24ª edição de verão, a última dos tempos da Guerra Fria, marcada pelo fim dos boicotes políticos em larga escala que feriram os Jogos de Montreal (1976), Moscovo (1980) e Los Angeles (1984). Marcada também pela entrada “em prova” do doping, que atiraria para fora das pistas o velocista canadiano Ben Johnson, que entrara no Olimpo precisamente em Seul.
Para os portugueses, Seul foi inesquecível pelo ouro conquistado por Rosa Mota, na maratona. Para os sul-coreanos, o evento foi, acima de tudo, uma festa de debutante para um país que acabara de conquistar a democracia, após décadas de governos autoritários, e uma montra das capacidades do seu povo.
“O principal objetivo dos Jogos de Seul foi o aumento da visibilidade global da Coreia do Sul. E uma das grandes consequências foi o acelerar da democratização da sociedade sul-coreana”, diz ao “Expresso” Alan Bairner, professor de Teoria do Desporto e da Vida Social, na Universidade Loughborough (Reino Unido). Inversamente, “os Jogos nada fizeram para melhorar as relações entre as duas Coreias e podem até ter contribuído para isolar ainda mais a Coreia do Norte e torná-la um país voltado para dentro”.
Em junho de 1987, a sensivelmente um ano dos Jogos, manifestações gigantescas por todo o país desafiaram o regime de Chun Doo-hwan que, aos olhos do povo, perdera toda a legitimidade moral desde o massacre de Kwangju, em 1980 (mais de 2000 mortos). Os protestos eram o culminar de anos de turbulência que chegaram a fazer soar os alarmes na sede do Comité Olímpico Internacional (COI), em Lausana (Suíça): se a desordem se generalizasse em Seul, os Jogos mudariam de local, alertou o presidente do COI, o catalão Juan Antonio Samaranch.
Em vésperas de ter sobre si as atenções do mundo, o regime sul-coreano acusou a delicadeza da situação e conteve-se na repressão aos protestos. A 29 de junho, chegava a tão aguardada notícia que acalmaria as ruas: ainda antes dos Jogos, haveria eleições presidenciais, por voto direto e universal.
Apresentação do país ao mundo
“Organizar os Jogos Olímpicos teve um grande efeito psicológico junto dos sul-coreanos que encararam o evento como ‘a prova do reconhecimento internacional de que a Coreia era uma nação a caminho do progresso’”, diz ao “Expresso” Lee Dae-teak, professor de Convergência de Engenharia Desportiva, na Universidade Kookmin, Seul. “O país estava, oficialmente, a ser apresentado ao mundo e a mostrar as suas capacidades. Governo e população deram o seu melhor e sentiram um grande orgulho” no que foi feito.
À semelhança do que acontecera com o Japão, o primeiro país asiático a organizar os Jogos, em 1964, que não se poupou a esforços para honrar a sua reintegração na comunidade das nações, após a derrota na II Guerra Mundial, e mostrar ao mundo o milagre económico — construindo recintos modernos e colocando a eletrónica ao serviço do desporto —, a Coreia do Sul esperava que os Jogos de 1988 confirmassem a sua maioridade democrática e o seu potencial económico. Não por acaso, quem liderou a comissão de candidatura de Seul foi Chung Ju-yung, fundador do grupo Hyundai, um dos famosos conglomerados sul-coreanos (“chaebol”), como a Samsung e a LG.

Trinta anos depois, a Coreia do Sul volta a organizar uns Jogos Olímpicos, desta vez de inverno, entre 9 e 25 de fevereiro, na cidade de PyeongChang, 700 metros acima do nível do mar.
“Não há tanto entusiasmo como antes. Na verdade, antes de ser anunciada a participação da Coreia do Norte, a popularidade do evento em PyeongChang era muito baixa”, continua Lee Dae-teak. “Em 1988, muitos coreanos pensavam que os Jogos eram necessários, já que nos davam uma oportunidade para aparecermos e nos afirmarmos. Com essa experiência, os coreanos abriram os olhos ao mundo e perceberam que faziam parte dele. Hoje, com PyeongChang, factores como ‘os primeiros Jogos’ ou ‘a nossa apresentação’ ou ainda ‘a competitividade da Coreia’ não são mais atrativos. Talvez o único interesse seja os Jogos de inverno em si mesmos. Julgo que estes serão os últimos Jogos que os coreanos organizam desta maneira… ou seja, ‘organizar primeiro e pensar depois’! Gastámos demais e estamos pouco conscientes de que não valem tanto como os de 1988.”

A convite da Korea Foundation, o “Expresso” visitou o Parque Desportivo de Alpensia, onde decorrerão provas de esqui. Numa apresentação para jornalistas europeus, Nancy Park, a porta-voz do evento, salientou a forte aposta na tecnologia com que PyeongChang pretende deslumbrar o mundo. “Seremos os primeiros Jogos a providenciar serviços de telecomunicações em 5G, que presentemente é 20 vezes mais rápido do que 4G”, disse.
Haverá um autocarro com acesso à quinta geração de telemóveis, realidade virtual de 360 graus (com óculos que permitem envolver num cenário virtual), visão omnidirecional a partir do ponto em que se encontram os atletas, imagens 3D sem óculos e hologramas. Robôs humanoides farão tarefas de relações públicas, prestarão informações e trabalharão como porteiros. Um robô já participou no transporte da tocha olímpica.
No plano desportivo, PyeongChang organizará provas em 15 modalidades, para atletas de 93 países — os russos competirão sob bandeira olímpica. Portugal estará presente com dois atletas: Ke Quyen Lam, em Esqui Cross Country, e Arthur Hanse, em Esqui Alpino.

Em Alpensia, saltam à vista alguns cuidados com os custos do evento. Com 150 metros de altura, a torre dos saltos de esqui, por exemplo, está integrada no complexo do Gangwon Football Club. Após descerem a pista de saltos, os esquiadores caem sobre o relvado daquele clube da primeira divisão sul-coreana, por estes dias sob um manto de neve.
Nancy Park refere que as infraestruturas já têm destino após o evento. “Dos 12 locais de competição, seis já existiam anteriormente, estão a ser utilizados há anos. Em relação aos outros, temos planos para todos. Os apartamentos onde vão ficar os atletas e a ‘aldeia dos media’ já foram totalmente vendidos. Depois dos Jogos, haverá gente a ocupá-los.”
Mas PyeongChang não escapa ao desperdício. Com capacidade para 35 mil lugares — na cidade vivem pouco mais de 40 mil pessoas —, o estádio olímpico será desmantelado após o evento. Servirá apenas para acolher as cerimónias de abertura e encerramento (também dos Jogos Paralímpicos, que decorrerão entre 9 e 18 de março).
“Gastamos muito orçamento, algo que não é razoável nem explicável”, diz o professor Lee Dae-teak. “Construímos várias infraestruturas novas que poderiam ter sido construídas ou reconstruídas noutras cidades” — uma possibilidade viabilizada pela Agenda 2020, do COI, que visa, entre outros, racionalizar custos com a organização dos Jogos Olímpicos. “A província de Gangwon e o Governo não aceitaram essa opção. Muitas infraestruturas não terão um uso efetivo após os Jogos. E exigirão gastos com manutenção. Decidiram construir uma nova encosta alpina para ser usada apenas cinco dias e numa montanha que era área natural protegida há 500 anos.”
Fatura emitida aos contribuintes
Nos dias que correm, organizar os Jogos Olímpicos não é mais (apenas) uma questão de orgulho e poder. O dispêndio de milhões em infraestruturas, que muitas vezes ficam depois ao abandono, e a degradação das aldeias olímpicas, que transformam locais de glória em cidades fantasma, é cada vez mais questionado pelas populações de potenciais cidades anfitriãs.
A própria ideia de que os Jogos arrastam benefícios sem fim para os municípios que os acolhem foi sendo contrariada por experiências mal sucedidas. A maioria dos países organizadores sofreu o chamado “efeito de vale”, recebendo grandes investimentos no período que antecedeu o evento e uma queda abrupta dos mesmos no período subsequente. Nalguns casos, os contribuintes foram chamados a pagar pesadas faturas durante muitos anos, como os canadianos que só em 2006 acabaram de pagar o imposto relativo aos custos dos Jogos Olímpicos de Montreal, realizados em… 1976.
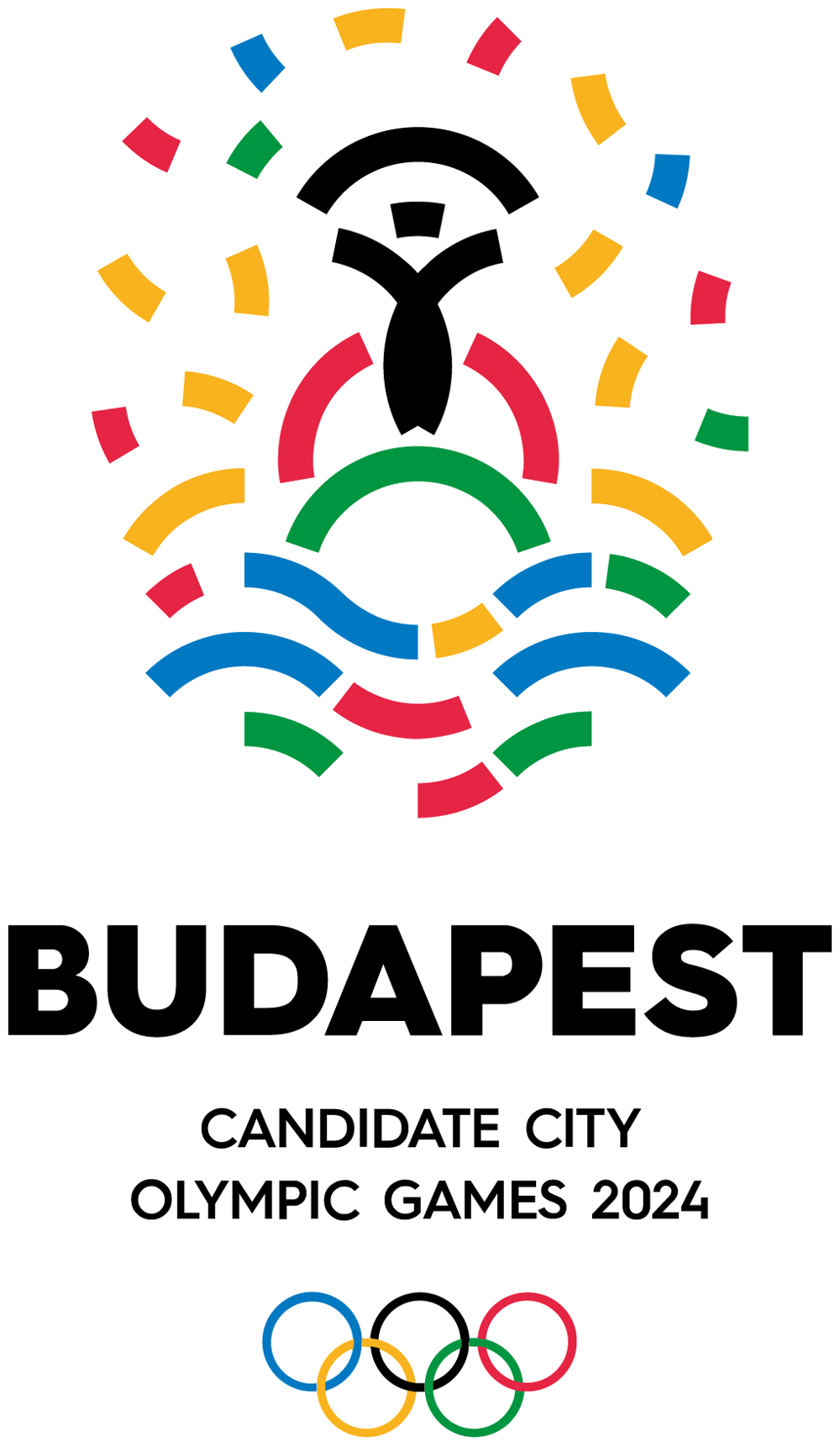
No ano passado, os habitantes de Budapeste mostraram um cartão vermelho à realização dos Jogos na capital da Hungria. A cidade tinha em curso uma candidatura à edição de 2024 quando uma petição assinada por mais de 250 mil pessoas e manifestações nas ruas questionaram esse interesse. A Hungria acabaria por retirar-se da corrida, deixando o “sprint” final para Paris e Los Angeles: numa decisão inédita, a capital francesa ficou com os Jogos de 2024 e a cidade norte-americana com a edição seguinte, de 2028. Com esta fórmula de atribuição dos Jogos, o COI esquece-se, durante algum tempo, que o rol de cidades interessadas em receber o evento é cada vez mais pequeno.
“Ironicamente, um dos exemplos mais antigos de uma derrota de uma potencial cidade anfitriã em grande parte devido à oposição popular foi Nagoya, no Japão, que abriria caminho à vitória de Seul. Nagoya não se retirou mas simplesmente não tinha apoio local como Seul”, explica Alan Bairner. “É cada vez mais difícil para cidades pequenas justificar a organização de grandes eventos desportivos devido aos custos envolvidos e à necessidade de pesadas medidas de segurança. Isso pode explicar por que razão estes eventos estão, mais do que nunca, a realizar-se em países mais autoritários, como a Rússia [Jogos de inverno de 2014, em Sochi, e Mundial de Futebol de 2018] e a China [Jogos de verão de 2008 e de inverno em 2022, ambos em Pequim] que podem dar-se ao luxo de os acolher e já têm grandes operações de segurança dentro de portas.” O Mundial do Qatar em 2022 é outro exemplo.
Coreia do Sul 1 — Portugal 0
Entre as duas jornadas olímpicas, a Coreia do Sul acolheu também o Mundial de Futebol de 2002 (co-organizado com o Japão) e o Campeonato do Mundo de Atletismo, em 2011, em Daegu. Em todo o mundo, apenas mais quatro países tiveram capacidade organizativa para montar todos estes grandes eventos: Alemanha, França, Itália e Japão.
O Mundial de Futebol foi especial a vários níveis. Um misto de orgulho nacional e de dinâmica de grupo empurrou a seleção da casa até às meias finais. “Foi talvez o símbolo mais forte da nova era. O sucesso imprevisto da equipa nacional no campo correspondia à extraordinária energia dos cidadãos na demonstração do seu apoio coletivo, traduzido em multidões de pessoas nas ruas quando a seleção nacional jogava”, lê-se no livro “A History of Korea”, de Kyung Moon Hwang (Palgrave Macmillan, 2010).
Treinada pelo holandês Guus Hiddink, a equipa sul-coreana excedeu as expectativas, levando milhões a encherem praças, parques e outros espaços públicos para assistir às partidas em ecrãs gigantes. “Quando a equipa nacional, um competidor insignificante, venceu Portugal [1-0], um dos favoritos do Mundial, e avançou para os oitavos de final, essas multidões entraram em erupção, e cresceram ainda mais no jogo seguinte contra a Itália, outra potência perene”, continua o autor. A Coreia do Sul venceu a fase de grupos — deixando pelo caminho Portugal, treinado por António Oliveira —, nos oitavos derrotou a Itália de Cannavaro, Gattuso e Del Piero e nos quartos de final a Espanha de Casillas, Hierro e Raúl.
À medida que as ruas se enchiam de ansiedade e euforia, “tornava-se claro que essas grandes concentrações de pessoas iam muito além do futebol; diziam respeito a um desejo incontrolável de experimentar diretamente um novo modelo de conexão social”. A Coreia do Sul ficaria em quarto lugar (perdeu o último lugar do pódio para a Turquia) e o torneio seria ganho pelo Brasil, que conquistou o penta após derrotar a Alemanha por 2-0.

Para os sul-coreanos, estes grandes eventos são também uma forma de esclarecerem equívocos em relação à sua identidade. Quando Pyeongchang se aventurou na corrida olímpica, “o comité de candidatura decidiu transformar em maiúscula o ‘c’ do nome da cidade”, diz ao “Expresso” Songjae Lim, membro do comité organizador. A medida visou criar uma distinção, pelo menos visual, que minimizasse uma confusão recorrente entre Pyeongchang e Pyongyang, a capital norte-coreana, e acautelar que todas as delegações aterrassem na Coreia certa…
A medida não foi 100% eficaz e, ainda no ano passado, um jato empresarial da Gulfstream, transportando patrocinadores dos Jogos, foi notícia ao aterrar por engano na Coreia do Norte. “Paramos na pista e o piloto comunicou-nos o erro. Ficamos estarrecidos com o que nos poderia acontecer”, recordaria um dos oito passageiros. “Ele disse-nos que ficassemos sentados e calmos. Um tripulante de cabine abriu a porta e pudemos ver homens armados em uniforme em frente ao avião.”
Foram mandados descer do aparelho e as malas inspecionadas. O profuso “merchandising” olímpico que transportavam contribuiu para um rápido esclarecimento do equívoco. E lá seguiram viagem para a Coreia do Sul.
Pior sorte teve o queniano Daniel Olomae Ole Sapit, membro da tribo maasai, registado para participar numa conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade, em outubro de 2014, em PyeongChang. Quando o avião em que seguia iniciou a descida, começou a temer o pior ao não conseguir vislumbrar a grande e moderna cidade de Seul que tinha em mente. Aterrou em Pyongyang, foi detido durante mais de quatro horas, mas tudo se resolveu a bem. Pagou cerca de 500 dólares para garantir o regresso e assinou um documento prometendo jamais voltar a entrar na Coreia do Norte sem visto. Em declarações ao jornal “The Wall Street Journal”, diria: “Pyongyang, PyeongChang… para um africano, que diferença faz?”
(Foto principal: Durante o processo de candidatura aos Jogos, o “c” de PyeongChang foi transformado em maiúscula para que a cidade não fosse confundida com a capital norte-coreana, Pyongyang POCOG – COMITÉ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS DE PYEONGCHANG)
Artigo publicado na “Tribuna Expresso”, a 8 de fevereiro de 2018. Pode ser consultado aqui
