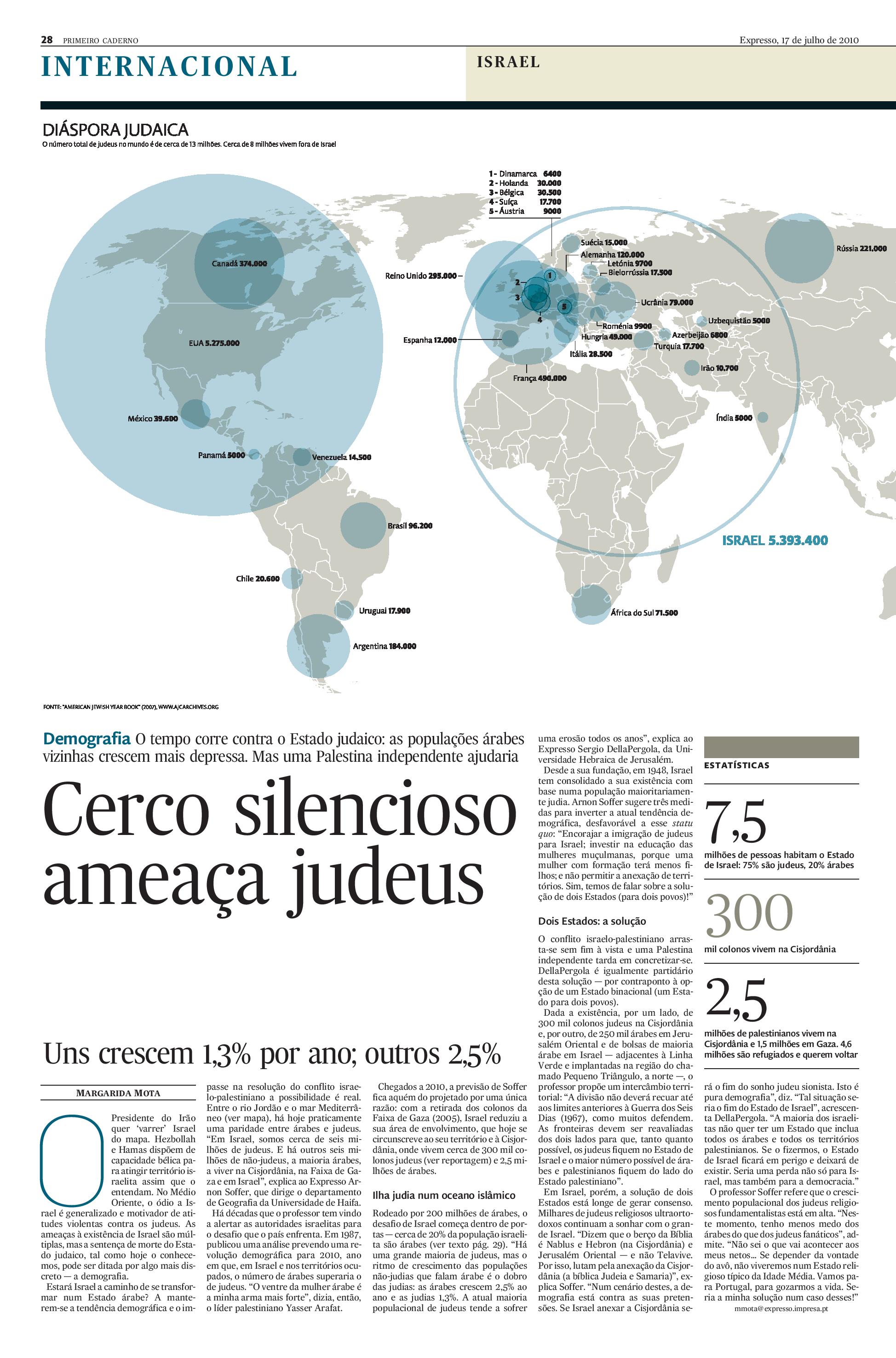Recém-libertada, Aung San Suu Kyi quer reconciliar o país. Fortalecido pelas eleições, o regime está vigilante

Aclamada pelo povo da Birmânia, temida pelos ditadores que governam o país, admirada por todo o mundo — Aung San Suu Kyi está novamente em liberdade, após sete anos em prisão domiciliária. Impõe-se perceber o que simboliza hoje a Dama de Rangum: Terá ela a capacidade e as condições de Nelson Mandela para promover a reconciliação nacional? Ou será mais — à semelhança da paquistanesa Benazir Bhutto — uma filha do destino com a cabeça a prémio, como aconteceu com o pai, herói da independência birmanesa assassinado em 1947?
“Enquanto prisioneiros, Suu Kyi e Mandela têm semelhanças. Mas o enquadramento político é totalmente diferente. O Congresso Nacional Africano (ANC), de Mandela, e a Liga Nacional para a Democracia, de Suu Kyi, são partidos com abordagens diferentes. Quando foi libertada, ela disse que acreditava na abordagem não-violenta para alcançar uma reconciliação nacional. O ANC agiu de forma diferente”, comentou ao Expresso Kyaw Zwa Moe, editor do jornal “The Irrawaddy”, que cobre a atualidade noticiosa birmanesa a partir da Tailândia.
Quando a líder da oposição pró-democracia se assomou à multidão, há uma semana, aproveitou para levantar o véu sobre os seus planos futuros: “Vou trabalhar para a reconciliação nacional. Estou preparada para conversar com qualquer pessoa. Não guardo ressentimentos pessoais em relação a ninguém”.
O jornalista birmanês não acredita, porém, num encontro — cara a cara e a breve prazo —, entre a Nobel da Paz, de 65 anos, e a principal figura do regime, o general Than Shwe de 77 anos. “Ela vai tentar, mas não me parece que isso venha a acontecer. Os generais não querem falar com ninguém do movimento pró-democracia.”
Aung San Suu Kyi e o regime dos generais parecem empenhados numa espécie de jogo do gato e do rato
A libertação de Suu Kyi aconteceu escassos seis dias após as eleições gerais — as primeiras dos últimos 20 anos. Kyaw Zwa Moe não vê qualquer simbolismo na quase sobreposição dos dois acontecimentos. “A detenção de Suu Kyi expirou a 13 de novembro. Eles não tinham qualquer outra desculpa para mantê-la detida.”
Há quem defenda que, ao ser libertada, a líder da oposição foi colocada numa “prisão” maior do que aquela em que se encontrava anteriormente — por força do contexto político adverso que veio encontrar: o partido apoiado pela junta militar (Partido da Solidariedade e do Desenvolvimento da União) reclama uns improváveis 80% dos votos, nas eleições de 7 de novembro.
“Politicamente, os generais sentem-se muito seguros. Têm tudo o que precisam para continuar a governar. Não a libertaram num gesto de boa vontade”, continua o jornalista.
“Eu não tenho medo”, diz a Nobel da Paz. “Não deixo de fazer isto ou de dizer aquilo com medo que me prendam novamente. Nem me passa pela cabeça. Mas sei que há sempre a possibilidade de voltar a ser presa.”
Aung San Suu Kyi e o regime dos generais parecem constantemente empenhados numa espécie de jogo do gato e do rato. “É bem possível que ela volte a ser presa. As pessoas reagiram à sua libertação de uma forma que não tinham reagido no dia das eleições. É possível que os militares comecem a sentir algum tipo de ameaça…”
Suu Kyi — que passou 15 dos últimos 21 anos em prisão domiciliária — diz que quer escutar as aspirações do povo. Por isso, é pouco provável que se mantenha calada. Sem segurança especial, é um alvo vulnerável, quer para ser presa, quer alvejada. “Altos responsáveis do partido dela estão muito preocupados”, diz Kyaw Zwa Moe. “Dizem que ela pode ser assassinada, como Benazir Bhutto. É provável que isso aconteça se Aung San Suu Kyi forçar a situação.”
SEIS BATALHAS A TRAVAR
- Diálogo com a Junta
Aung San Suu Kyi quer encetar um diálogo político com os militares que leve à reconciliação nacional. A Junta está, desde 2003, empenhada na aplicação do Roteiro para a Democracia composto por sete etapas — as eleições foram a quinta. - Libertação de presos
Cerca de 2200 birmaneses são presos políticos. Quando foi libertada, Suu Kyi evocou-os dizendo estarem eles, em prisões de todo o país, numa situação bem pior do que ela. Presa em casa, ao ver a BBC, mantinha-se informada e nunca se sentia só. - Divisões políticas
Nas últimas eleições, as forças democráticas dividiram-se em dois campos: a Liga Nacional para a Democracia, de Suu Kyi, boicotou; a Força Nacional Democrática (dissidente da LND) contestou. Tida como líder da oposição, Suu Kyi tem de reconciliar as partes. - Unidade étnica
A Nobel da Paz demonstrou vontade de promover a segunda Conferência de Panglong — a primeira realizou-se em 1947, antes da independência e foi liderada pelo seu pai — para restaurar a unidade entre os diferentes grupos étnicos birmaneses. Não é certo que o regime autorize o evento. - Constituição de 2008
Pilar do Roteiro para a Democracia da Junta, a Constituição de 2008 é rejeitada pelo partido de Suu Kyi, que a considera antidemocrática. As eleições de 7 de novembro decorrem da nova Lei Fundamental. - Fraude eleitoral
A vitória esmagadora do Partido da União para a Solidariedade e Desenvolvimento, apoiado pelos militares — que reclama 80% dos lugares do Parlamento —, lançou suspeitas de fraude sobre o sufrágio de 7 de novembro, realizado longe dos olhares de jornalistas e de observadores internacionais. Irá a Dama de Rangum reclamar?
Artigo publicado no “Expresso”, a 20 de novembro de 2010