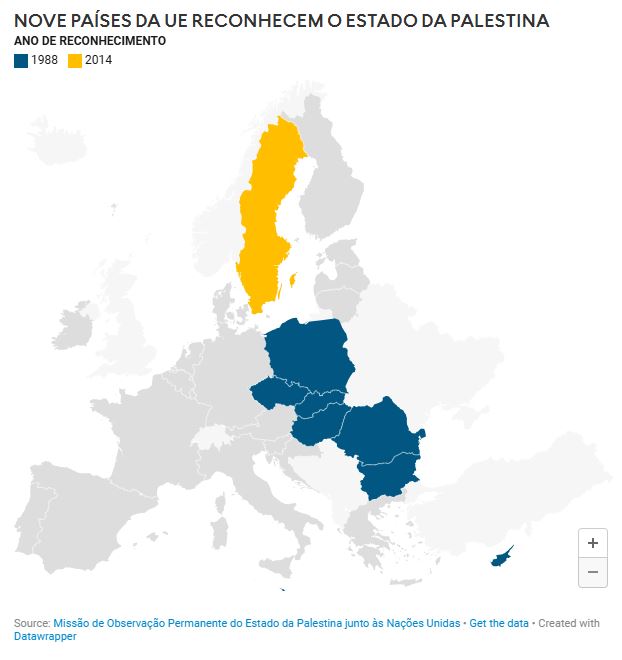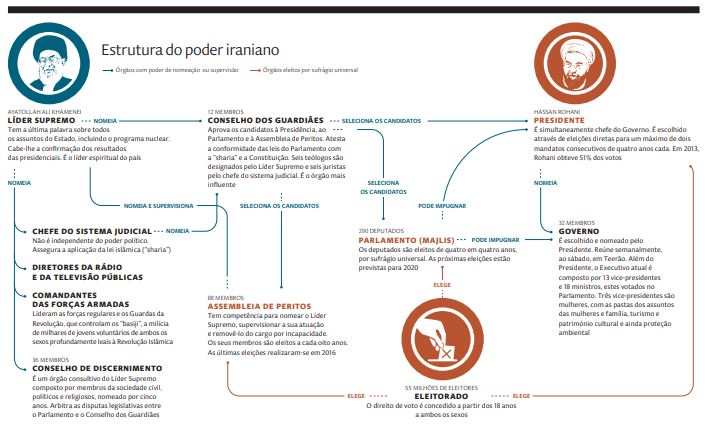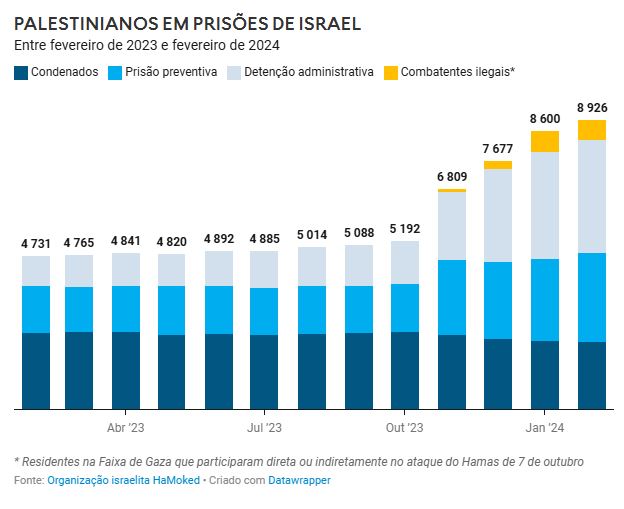Os agricultores saíram à rua em vários países europeus, mas nem por isso priorizam o combate às alterações climáticas, de que são os principais prejudicados. Os números da destruição e uma conversa com um especialista
“Ercolina” está habituada a ser o centro das atenções. Foi-o, no início de fevereiro, no festival de música de Sanremo (Itália) e, dias depois, na Praça de São Pedro, no Vaticano, com o Papa Francisco à janela. “Ercolina” é a vaca mascote dos agricultores italianos em protesto por preços mais justos para os seus produtos e contra o que consideram ser um excesso de regulamentação ambiental na União Europeia (UE).
De Portugal à Roménia, os agricultores transferem os tratores dos campos agrícolas para o asfalto das grandes cidades e fazem exigências. Em Itália, protesta-se também contra Bruxelas, por forçar ao consumo de carne produzida em laboratório e farinha de insetos. Na Alemanha, o foco da contestação é o imposto do combustível dos tratores. Nos Países Baixos, o desagrado visa a tributação do nitrogénio, com consequências para a produção industrial de porcos e frangos. Na Polónia, há oposição à importação de cereais da vizinha Ucrânia, que os polacos defendem com unhas e dentes na guerra contra a Rússia. Em Portugal, a contestação começou após cortes nas ajudas.
Em nenhum país a principal bandeira dos agricultores tem sido o combate às alterações climáticas, apesar de serem eles os primeiros a pagar a fatura da degradação ambiental (ver entrevista). “As calamidades estão a originar níveis inéditos de danos e perdas na agricultura em todo o mundo”, alerta o relatório “O Impacto dos Desastres na Agricultura e na Segurança Alimentar”, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).
“A agricultura — e os sistemas de produção agroalimentar que sustenta — desempenha um papel vital na garantia da disponibilidade de alimentos para dietas saudáveis e é um importante motor de emprego, segurança alimentar e redução da pobreza”, diz ao Expresso Piero Conforti, vice-diretor da Divisão de Estatísticas da FAO. “A potencial vulnerabilidade deste sector a catástrofes é alarmante, em especial no contexto de uma população global que aumenta e de uma procura crescente de alimentos.”
Com o planeta a registar temperaturas cada vez mais altas e fenómenos extremos cada vez mais recorrentes, a FAO aponta o caminho: prevenção e resiliência.
DESTRUIÇÃO
400 calamidades ocorreram, em média, todos os anos neste século, com impacto no sistema agroalimentar. Segundo o International Disaster Database da Universidade Católica de Louvain (Bélgica), nos anos 70 havia cerca de 100 catástrofes por ano. Os desastres cumprem um de quatro critérios, pelo menos: 10 mortos, 100 pessoas afetadas, declaração de estado de emergência e pedido de ajuda internacional
5% do Produto Interno Bruto agrícola global foi destruído, entre 1991 e 2021, devido a catástrofes. Neste período, os prejuízos acumulados ao nível da produção agrícola e da pecuária ascenderam a 3,8 biliões de dólares (€3,5 biliões). O montante total de perdas nesses 30 anos é equivalente ao PIB do Brasil em 2022
2023 foi o ano mais quente desde 1850, quando começou a haver registos. Segundo dados recolhidos pelos satélites do Copernicus, o Programa Europeu de Observação da Terra da União Europeia, a temperatura média no ano passado foi 1,48°C acima da média do período pré-industrial
Mulheres são mais vulneráveis às catástrofes
Em contexto de calamidade, as mulheres são, na maioria das vezes, mais afetadas do que os homens. “Dados sobre mortalidade, educação interrompida, problemas de saúde, experiências de violência, perda de meios de subsistência e subnutrição demonstram que as mulheres são desproporcionalmente afetadas durante e após as catástrofes”, diz ao Expresso Priti Rajagopalan, analista de estatísticas da FAO. No Paquistão, por exemplo, as mulheres representam mais de 70% dos trabalhadores agrícolas. Esse peso tem-se mantido estável desde a década de 90 muito por força de normas socioculturais que lhes barram o acesso a outros sectores profissionais. Essa situação penaliza-as em especial após períodos de inundações, frequentes no país, em que, por falta de alternativas laborais, as mulheres que perdem o emprego na agricultura com grande probabilidade ficam em casa, sem remuneração. “Na agricultura, as mulheres são mais vulneráveis a catástrofes do que os homens, em grande parte devido a restrições relativas à propriedade da terra, à dificuldade de acesso à informação e aos recursos necessários para se prepararem, responderem e recuperarem de uma catástrofe”, diz o técnico da FAO. É exemplo a dificuldade de acesso a seguros de colheita e a fundos de compensação.
FENÓMENOS EXTREMOS
INCÊNDIOS
Todos os anos, entre 340 e 370 milhões de hectares da superfície da Terra são devorados por fogos. Dos 51 mil milhões de hectares da área do planeta, menos de 12 mil milhões são produtivos.
SECAS/CHEIAS
Sindh, no Sul do Paquistão, que produz 42% do arroz, 23% do algodão e 31% da cana-de-açúcar do país, foi fustigada por uma seca (2021-22), seguida de inundações (2022), que submergiram 18% do país.
TUFÕES
Em 2021, as Filipinas foram atingidas por 15 tufões, o último dos quais, e também o mais forte (tufão “Rai”), afetou o sustento de 113.479 agricultores e pescadores.
ALGAS
A proliferação de algas com substâncias tóxicas é sintoma do impacto das alterações climáticas nos ecossistemas aquáticos. Em março de 2021 a costa ocidental da África do Sul foi invadida por 500 toneladas de lagosta-do-cabo.
Boas práticas
1. UGANDA Para reduzir o impacto do aumento dos períodos de seca combinou-se o cultivo de variedades de banana de alto rendimento e tolerantes à seca com técnicas de conservação do solo e da água, como trincheiras, cobertura morta e o uso de composto orgânico.
2. BOLÍVIA Nas terras altas, para reduzir a mortalidade dos lamas devido à geada, neve, chuvas e granizo, foram construídos corralónes (abrigos semicobertos) e criadas farmácias veterinárias. Os lamas são parte da cultura local há séculos, para transporte e produção de têxteis.
3. FILIPINAS Na região de Bicol, o cultivo de superarroz verde foi testado em três épocas sucessivas com benefícios económicos evidentes. Esta variedade revelou-se mais tolerante a múltiplos stresses quando comparada com as locais.
CINCO PERGUNTAS A
Renaud Foucart
Professor no Departamento de Economia da Escola de Gestão da Universidade de Lancaster, Reino Unido
O combate às alterações climáticas é bandeira dos agricultores europeus?
É verdade que as manifestações dos agricultores conduzem a resultados muito maus na luta contra as alterações climáticas: a União Europeia (UE) está a diluir os seus objetivos climáticos e os países adiam ou atenuam regras sobre a tributação do gasóleo utilizado na agricultura. Isto é muito mau, porque a agricultura, e em particular a produção industrial de carne, dá um contributo importante para as alterações climáticas.
Os agricultores deveriam revelar mais preocupação com o problema?
Penso que seria injusto culpar os agricultores por não estarem preocupados. Em todo o mundo, eles são os primeiros a testemunhar o efeito direto das alterações climáticas. Como qualquer outra pessoa, não querem suportar o fardo de as combater. Afinal de contas, a população em geral diz preocupar-se muito com as alterações climáticas, mas em todo o lado os impostos sobre o carbono originam manifestações. França tentou impor um, levou com os ‘coletes amarelos’ e cancelou.
O que está a falhar na Europa?
Os países europeus ainda não encontraram as fórmulas corretas para tornar os impostos sobre o carbono socialmente aceitáveis e compensar aqueles que perderão com isso. Esta é a verdadeira emergência, porque cada vez que adiamos a tomada de medidas significativas sobre todas as fontes de emissões (incluindo os transportes e a agricultura) isso significa que estamos a pedir todo o esforço ao pequeno número de indústrias pesadas já sujeitas a quotas de carbono através dos mercados de emissões. Dado o mau estado da indústria europeia, isto não é sustentável.
A UE vai sentir-se forçada a alterar o Pacto Ecológico Europeu?
A maior parte da componente agroalimentar do Pacto Ecológico Europeu [que visa a neutralidade carbónica em 2050] é a chamada estratégia ‘Do prado ao prato’, iniciada há quatro anos. Como sempre, a Comissão Europeia anuncia planos e depois segue um caminho lento dentro das instituições, votação no Parlamento, aprovação no Conselho, etc. Nesse sentido, muito poucos elementos foram definitivamente aprovados. Julgo que só foi concluída a diretiva relativa ao pequeno-almoço, que estabelece normas para cereais, compotas e mel em termos de rotulagem e país de origem. Muitas outras iniciativas foram abandonadas e parecem politicamente demasiado controversas para serem levadas ao Parlamento atual. É o caso da redução dos pesticidas e da redução das emissões provenientes da agricultura.
Em junho haverá eleições europeias…
É provável que o próximo Parlamento seja menos verde na sua composição, por isso creio que muitos dos pontos da sustentabilidade alimentar serão abandonados a médio prazo. No entanto, à medida que as secas e outros problemas relacionados com o clima continuarem a piorar, é difícil imaginar que as políticas do Pacto Ecológico não regressarão, mais cedo ou mais tarde. As instituições europeias estão apenas a dar o pontapé inicial, sem qualquer plano alternativo.
(FOTO Após a seca fustigar a região etíope de Oromia, foram delimitadas zonas para providenciar alimento às vacas ERIC LAFFORGUE / GETTY IMAGES)
Artigo publicado no “Expresso Online”, a 14 de março de 2024 e no “Expresso”, a 15 de março de 2024. Pode ser consultado aqui e aqui