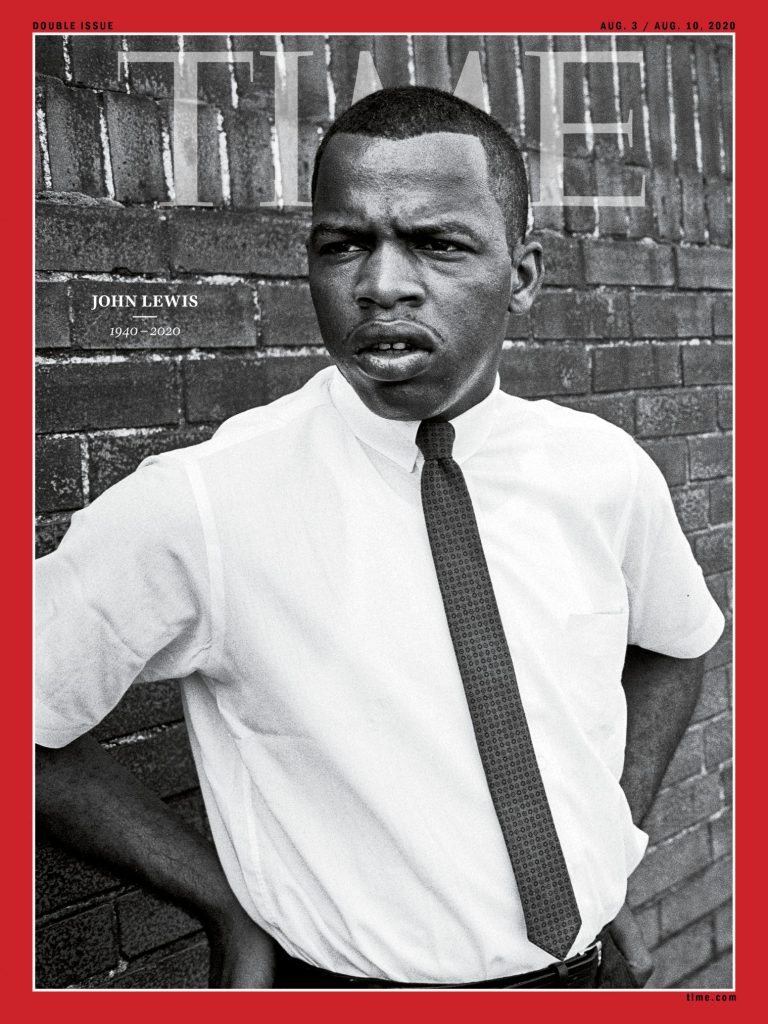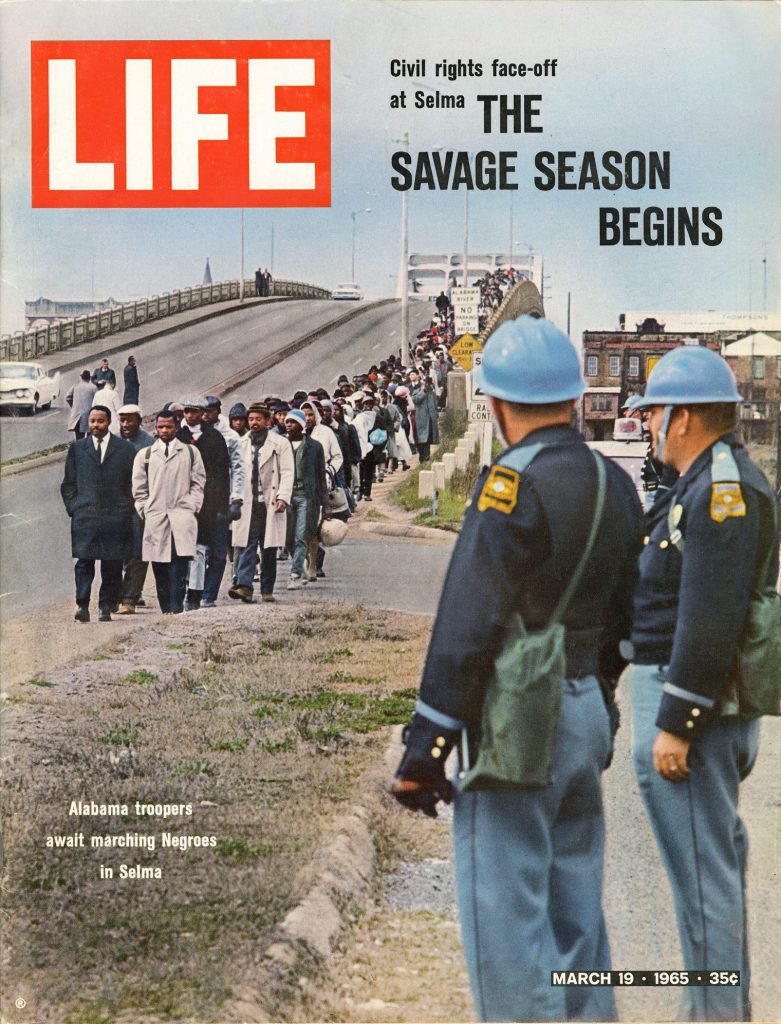O porto de Beirute desfez-se num cogumelo atómico. Negligência e descontentamento vão fazer rolar cabeças
Marta demorou quase 24 horas para procurar um hospital. “Aquele que existe mais próximo da minha casa ficou muito destruído pelo impacto da explosão. E apercebi-me de que nenhum dos meus ferimentos era grave. Por isso, não quis contribuir para agravar a situação dos hospitais”, diz ao Expresso. “Estavam a receber tantos feridos…”
Foi para casa de amigos, um deles médico, que lhe prestou os primeiros socorros, e só no dia seguinte, com mais calma, dirigiu-se a um hospital. Levou pontos, mas não sabe quantos, porque perdeu-se à conversa com o médico que a atendeu — oriundo de Gaza, nascido no Kuwait e residente no Líbano. Esta diversidade, muito frequente nos cidadãos do Médio Oriente, contribuiu para que esta portuguesa se apaixonasse pela região, onde trabalha desde 2013, grande parte do tempo para o Comité Internacional da Cruz Vermelha.
Marta Abrantes Mendes, de 41 anos, nascida na Costa da Caparica, foi um dos mais de 5000 feridos e 300 mil desalojados de duas grandes explosões, na terça-feira, com epicentro no porto de Beirute. A existência de 2750 toneladas de nitrato de amónio no local — confiscadas a um cargueiro russo abandonado em Beirute e ali armazenadas de forma negligente desde 2013 — conferiu ao rebentamento um efeito de cogumelo atómico. As explosões, que foram sentidas na ilha de Chipre, a 200 quilómetros de distância, provocaram pelo menos 157 mortos.
Era final de tarde, e Marta tinha acabado de entrar em casa, na zona de Geitawi, perto do porto. “Tem havido muitos cortes de luz, devido à situação económica, e eu tinha passado a tarde a trabalhar, sentada num café com ar condicionado. Ao chegar a casa, vi que havia eletricidade e aproveitei para ligar o ar condicionado. Tinha acabado de fechar as janelas quando ocorreu a explosão.” Foi ferida na cara e nos braços pelos estilhaços de um dos janelões da sala.
Resiliência libanesa
Num país habituado a potentes atentados de cariz político, este rebentamento em Beirute foi superior a qualquer outro. Muitos edifícios perderam a fachada e muitos mais ficaram inabitáveis. Marta mudou-se para casa de uns amigos, já a sua senhoria deu guarida a três casais. Foi assim um pouco por toda a cidade, entre famílias, amigos, vizinhos.
Com Beirute arrasada, a população arregaçou as mangas, pegou em vassouras e começou a arejar as casas e a limpar vidros e sangue das ruas. Na quinta-feira de manhã, após uma volta pela cidade, Marta dizia ao Expresso: “É outra cidade. Há muito mais movimento nas ruas, há mais lojas abertas.”
Aos poucos, a resiliência libanesa vai-se impondo. Nas últimas décadas, o povo enfrentou uma sangrenta guerra civil (1975-1990), a ocupação síria (1976-2005), conflitos entre Israel e o Hezbollah (movimento xiita libanês) e a exposição à guerra da Síria, que levou o Líbano (com uma população de 6,8 milhões) a abrir as portas a 1,5 milhões de refugiados. Sempre o país se soube reerguer.
Num país habituado a potentes atentados de cariz político, este rebentamento em beirute acabou por ser superior a qualquer outro
“O Líbano fica nesse pêndulo entre a tragédia e a magia”, diz ao Expresso Guga Chacra, analista de assuntos internacionais e colunista do jornal “O Globo”. Nascido na cidade brasileira de São Paulo e neto de libaneses, vive com o coração tudo quanto se passa no “país dos cedros”, onde tenta ir todos os anos. “O Líbano já superou outros momentos ruins, mas dessa vez será complicado. Em primeiro pelo colapso económico, igual ao que vimos acontecer na Argentina e na Grécia. Some-se a isso uma crise política e a covid-19. O Líbano não está muito afetado pela pandemia, mas como todo o planeta está, e praticamente todos os países estarão em recessão este ano, isso vai dificultar a ajuda ao país.”
Na véspera das explosões, a deterioração da situação económica e financeira do Líbano servia de justificação aos punhos erguidos e aos gritos de dezenas de pessoas que se juntaram à porta do Ministério da Energia em Beirute. Os protestos visavam os cortes de energia diários, o facto de se terem tornado “normais” e de a degradação dos serviços públicos básicos parecer não ser da responsabilidade de ninguém.
Desde junho que o racionamento apertou ainda mais, agudizado pelas restrições da pandemia, passando a haver apenas duas horas de energia elétrica por dia nalgumas zonas. As famílias recorrem a velas e querosene e os hospitais avisam que o combustível para fazer os geradores de eletricidade funcionar está a esgotar-se.
“Viemos e ficamos”, declarava o manifestante Ali Daher, citado pela agência AP, que prometia com os outros libertar o ministério “da corrupção… e da gestão que mergulhou este país na escuridão”.
Pior do que a crise só a guerra
A maior ameaça desde a guerra civil é a crise. Melhor, o conjunto de crises, que parecia ter atingido o cúmulo com a pandemia do coronavírus.
“Emmanuel Macron a visitar zonas onde nenhum líder libanês ousaria ir”, comentava Maha Yahya na sua conta de Twitter a visita que o Presidente francês fez a Beirute na quinta-feira. A economista, diretora do Carnegie Middle East Center, destacava no Twitter o facto de as pessoas abraçarem Macron repetindo em simultâneo o slogan “O povo quer a queda do regime!”.
O Líbano é um Estado altamente endividado e com uma inflação galopante. O poder de compra dos cidadãos reduz-se de dia para dia, o desemprego e a pobreza aumentam. Em 23 de julho, Yahya publicou um artigo no Carnegie em que expunha o colapso dos pilares de sustentação do país. Um dos que desaparece velozmente é a classe média, que costumava ser historicamente uma das mais abastadas, profissionais e com mais recursos da região.
Denunciando a responsabilidade dos líderes políticos pela desvalorização (80% em oito meses) da libra libanesa, pela fuga de jovens para o estrangeiro e por uma inflação que atingiu 90% no mês de junho, a economista congratulava-se, na quinta-feira, pelo apoio de Macron, que prometeu regressar com uma proposta de “um novo pacto político” ao Governo.
A zanga é transversal. Uma futura reconciliação nacional terá de passar por medidas que o povo reconheça como capazes de inverter o caminho que se tornou aceitável. E o diagnóstico parece simples: “Isto não foi um acidente, isto não foi negligência. Isto foi um ataque dos rufias em cargos públicos contra o seu próprio povo”, lia-se na terça-feira num tweet de Jad Chaaban, professor de Economia na Universidade Americana de Beirute.
Na quinta-feira, 16 funcionários do porto foram colocados em prisão domiciliária. Ao mesmo tempo, o Governo deu quatro dias a um comité de investigação para apurar responsabilidades. As autoridades apressam-se a arranjar culpados, mas nas ruas a confiança está tão arrasada quanto a própria Beirute.
Texto escrito com Cristina Peres.
(FOTO Destruição provocada pela forte explosão, no porto de Beirute, a 4 de agosto de 2020 BERNARD KHALIL / FLICKR DA PROTEÇÃO CIVIL E AJUDA HUMANITÁRIA DA UE)
Artigo publicado no “Expresso”, a 8 de agosto de 2020. Pode ser consultado aqui