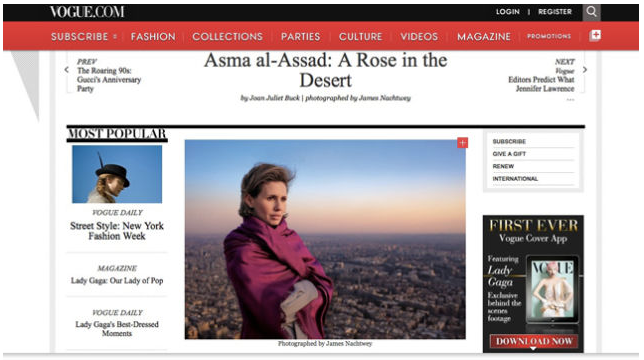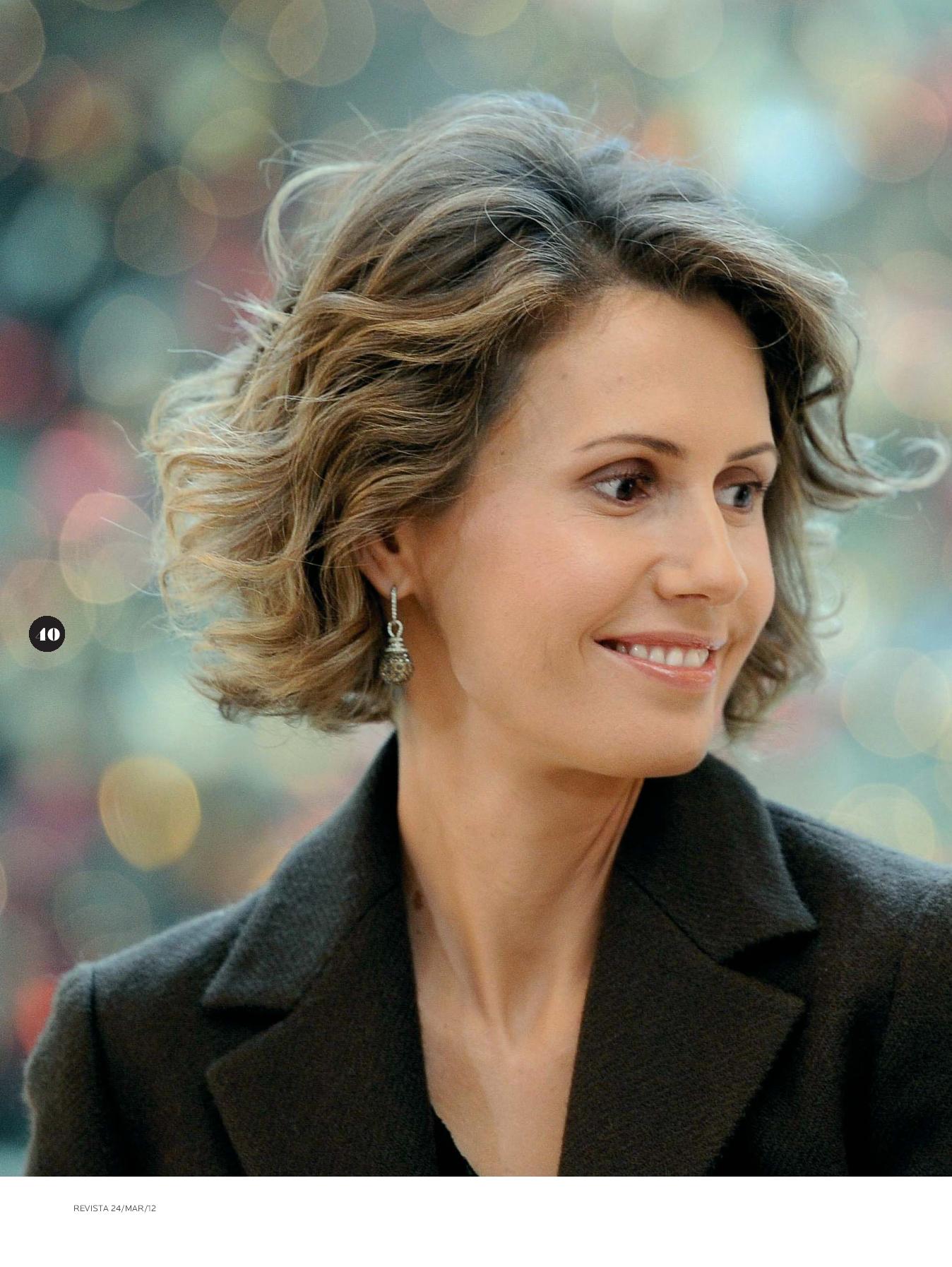A solução ‘dois Estados para dois povos’ está em perigo, diz Riyad Mansour, embaixador palestiniano na ONU ao “Expresso”

Em 1981, a morte do ativista irlandês Bobby Sands, após 66 dias em greve de fome, numa prisão a sul de Belfast, foi um marco no conflito na Irlanda do Norte. Órgãos de informação de todo o mundo despertaram para esta causa e começaram a dar eco da greve de fome feita por presos republicanos que exigiam ser tratados como prisioneiros de guerra. Sands foi o primeiro; ao todo morreriam 10.
31 anos depois, o ‘efeito Bobby Sands’ parece ter-se tornado uma arma palestiniana de resistência ao ocupante israelita. Khader Adnan, um padeiro de 33 anos de Arabeh, perto de Jenin, que fora detido em dezembro por envolvimento em “atividades que ameaçam a segurança regional”, foi libertado por Israel a 18 de abril passado, após 65 dias em greve de fome.
“Se tivesse morrido, seria o nosso Mohammed Bouazizi (o tunisino que se imolou pelo fogo, desencadeando os protestos que levaram à revolução)”, comentou Riyad Mansour, representante permanente da Palestina na ONU. “A frustração está ao rubro entre os palestinianos. A situação é explosiva. Neste contexto da Primavera Árabe, qualquer faísca pode incendiar.”
O embaixador palestiniano esteve em Lisboa há uma semana para participar num seminário organizado pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestiniano e pela Paz no Médio Oriente (MPPM). À margem da iniciativa, deu uma entrevista ao “Expresso” e explicou porque a solução ‘dois Estados para dois povos’ “está em risco”. “A campanha israelita de construção de colonatos em terras palestinianas cresceu de tal forma que, mesmo que houvesse um tratado de paz, Israel poderia não ter condições para o aplicar. Se Israel quer ficar com a maioria da Cisjordânia, Jerusalém e o Vale do Jordão nada sobra para uma Palestina contígua e viável.”
Tiquetaque demográfico
O fim da fórmula ‘dois Estados’ significa o abandono de uma solução que as duas partes já tinham aceitado. E também a recuperação de uma alternativa que jamais Israel aceitará — ‘um Estado para dois povos’. “Os israelitas têm de se decidir. Se querem ter um Estado onde a maioria da população é judaica, então temos de nos separar e eles têm de permitir a independência do nosso Estado. Mas se continuarem com os colonatos estão a cavar a sepultura da solução ‘dois Estados’ e a abrir a porta à solução ‘um Estado’ — onde os palestinianos e os árabes serão a maioria e não os judeus.”
As contas são fáceis de fazer. Em números redondos, Israel tem 7,5 milhões de habitantes — 20% são israelitas árabes. Nos territórios palestinianos (Cisjordânia e Faixa de Gaza), vivem quatro milhões. Num Estado único, e sendo o crescimento demográfico dos árabes superior ao dos judeus, rapidamente estes ficariam em minoria.
Recentemente, o ministro israelita da Defesa, Ehud Barak, disse que perante o impasse no processo de paz, Israel teria de considerar a possibilidade de uma “ação unilateral” na Cisjordânia. “Uma ação unilateral, sem resolver as questões com os palestinianos, manterá o conflito vivo”, diz Mansour. “Basta ver o que aconteceu em Gaza. Israel retirou unilateralmente (2005) sem coordenar a transferência de autoridade connosco.”
Unidade para israelita ver
A 8 de maio último, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reforçou a coligação com a entrada do Kadima, fundado por Ariel Sharon, o obreiro da saída de Gaza. No Knesset, 94 dos 120 deputados apoiam o Governo. “Se Netanyahu pensa que nos intimida, expandindo a base de apoio do seu Governo para nos exigir concessões, está enganado”, diz o embaixador. Na quarta-feira, Telavive anunciou a construção de 851 novas casas em vários colonatos.
Com o Hamas a controlar Gaza e a Fatah a Cisjordânia, o campo palestiniano tinha de esboçar uma unidade. Duas semanas após o ‘golpe político’ em Telavive, as fações palestinianas começaram a discutir a formação de um Governo de reconciliação — que deverá ser anunciado ainda este mês. A Comissão Eleitoral começou a atualizar os cadernos eleitorais em Gaza. Se tudo correr bem, haverá eleições gerais na Palestina ainda este ano.
Paralelamente ao arrumar da casa, a diplomacia palestiniana continuará a ‘mexer cordelinhos’ na ONU. Em setembro de 2011, o pedido de adesão como membro de pleno direito esbarrou na ameaça de veto dos EUA. “Assim que os nossos líderes decidirem, vamos pedir o reconhecimento à Assembleia Geral (de membro observador)”, diz.
A Palestina já é reconhecida por 132 países. “O último grande grupo de Estados que se recusa a reconhecer é a Europa Ocidental”, diz o embaixador. “No Conselho de Segurança, esperávamos que Portugal e a França reconhecessem a Palestina.” (Portugal é membro não-permanente no biénio 2011/2012.)
Durante a estada de 24 horas em Lisboa, Riyad Mansour foi recebido, na Assembleia da República, por representantes dos seis partidos com assento parlamentar. Fez três pedidos a Portugal (ver caixa), mas parece ter mais fé nas iniciativas de resistência pacífica do seu povo. “Há 1,5 milhões de palestinianos no Facebook. Mais que egípcios e tunisinos antes da revolução.”
Mansour acredita que o ativismo nas redes sociais, a greve de fome de largas centenas dos cerca de 5000 detidos em prisões israelitas e as ações de resistência em aldeias como Na’im, Bil’in e Budrus contra a construção do muro entre Israel e Palestina darão resultados. “Fizemos a primeira Intifada (1987) antes das sublevações no Egito e na Tunísia. Conhecemos a arte da mobilização pacífica da população contra regimes implacáveis. A ‘primavera palestiniana’ acabará com a ocupação.”


PEDIDOS DE RIYAD MANSOUR A PORTUGAL
1 — Reconhecimento imediato do Estado palestiniano. “Negociaremos com Israel as seis questões do estatuto final, mas a nossa independência é inegociável”
2 — Constituição de um Grupo Parlamentar de Amizade com o povo palestiniano. Na Assembleia da República, há 45 grupos, incluindo o Grupo de Amizade Portugal-Israel
3 — Realização em Portugal, em 2013, da reunião anual do Comité da ONU para o Exercício dos Direitos Inalienáveis do Povo Palestiniano. “O Governo português tem de aprovar, mas é a ONU a custear a iniciativa”
OCUPAÇÃO
500
checkpoints israelitas existem hoje na Cisjordânia. Não são postos de controlo nas fronteiras, mas sim no interior do território. Em 2005, Israel retirou as suas forças da Faixa de Gaza
600
mil colonos judeus vivem na Cisjordânia, distribuídos por 180 colonatos, alguns verdadeiras cidades, e 100 postos avançados (não autorizados pelo Governo israelita), na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Segundo o Tribunal Internacional de Justiça, os colonatos são ilegais
Artigo publicado no “Expresso”, a 9 de junho de 2012