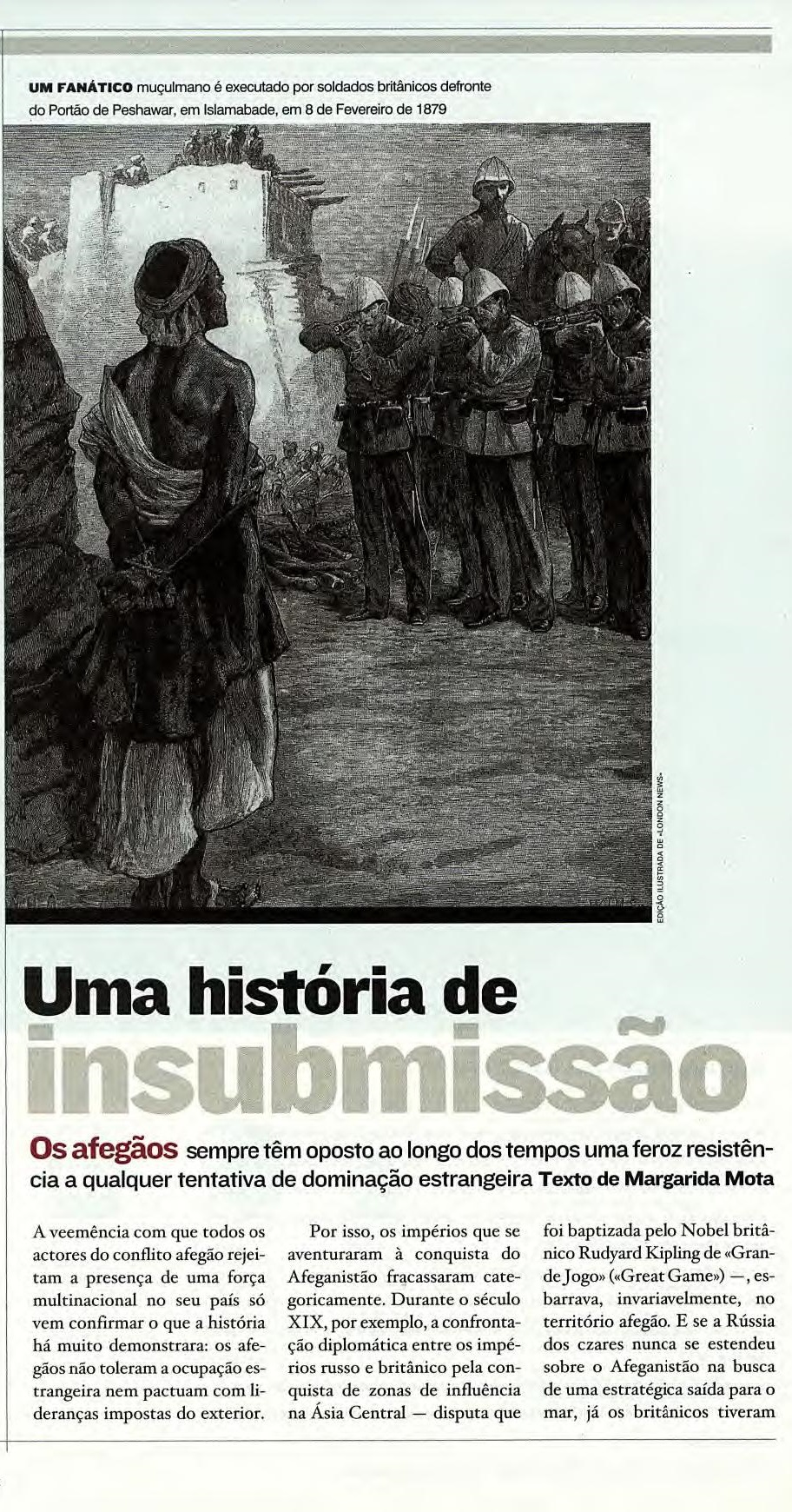Nove meses após os atentados do 11 de Setembro, o combate ao terrorismo internacional continua a justificar a reunião dos principais protagonistas da diplomacia mundial. Em Whistler, no Canadá, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos oito países mais industrializados (G-8) reuniram-se, quarta e quinta-feira, para debater as formas de privar os grupos terroristas dos ingredientes essenciais ao fabrico de armas de destruição maciça. Em Lisboa, foi a vez da presidência portuguesa da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) organizar uma Conferência de Alto Nível sobre Prevenção e Combate ao Terrorismo, visando a coordenação das principais organizações internacionais envolvidas no combate ao terrorismo.
Comum aos dois encontros, o receio de novos ataques terroristas, agravados pelo anúncio, na segunda-feira, da detenção de Abdullah Al Mujahir, um alegado terrorista norte-americano da Al-Qaeda, que planeava detonar, em Washington, uma “bomba nuclear suja”, que espalha radioactividade sem explosão nuclear. A prisão ocorreu no aeroporto de Chicago, onde Mujahir (Jose Padilla, de nascimento) acabava de chegar vindo do Paquistão. Por isso, não causaria grande surpresa o alerta lançado, dois dias depois, pelo secretário norte-americano da Defesa, Donald Rumsfeld, sobre a presença de operacionais da Al-Qaeda na conturbada região de Caxemira.
Apesar de destruída no Afeganistão, a organização está longe de ficar inoperacional. Na segunda-feira, Marrocos confirmou o desmantelamento de uma célula da Al-Qaeda, que projectava operações suicidas no Estreito de Gibraltar contra vasos de guerra americanos e britânicos. Na quarta-feira, 34 novos “presumíveis terroristas” deram entrada no campo de detenção de Guantanamo (Cuba) elevando os detidos para 468. A partir de Whistler, na quinta-feira, o chefe da diplomacia britânica, Jack Straw, incitava os países ocidentais a não cederem à tentação de reduzirem os seus esforços financeiros no que respeita à segurança, perante as sucessivas detenções de terroristas. Em Lisboa, em entrevista ao “Expresso”, Francis Taylor, director do Programa de Contra-Terrorismo norte-americano, afirmava: “Temos uma grande luta pela frente. A Al-Qaeda continua a representar uma grande ameaça para o mundo”.
“AINDA NÃO FIZEMOS O SUFICIENTE”
Uma das personalidades mais destacadas na conferência da OSCE, em Lisboa, foi o embaixador Francis Taylor, director do Programa de Antiterrorismo do Departamento de Estado norte-americano. Em entrevista ao “Expresso”, faz um balanço da luta contra o terrorismo internacional e realça a importância das chamadas sinergias entre as várias organizações.
EXPRESSO — Qual a importância da cooperação entre organizações na luta contra o terrorismo?
FRANCIS TAYLOR — Trata-se de uma campanha mundial, logo, todos têm de se empenhar. Cada país, região ou organização (internacional ou privada) tem um contributo a dar.
EXP. — Defende um papel específico para cada organização?
F.T. — Cada organização deve encontrar a sua natureza específica, para não duplicar o que outros estão a fazer. Devemos apostar na complementaridade.
EXP. — Qual a função da NATO?
F.T. — A NATO é uma aliança militar que, logo após o 11 de Setembro, e perante a invocação do artigo 5°, concordou que o ataque contra os EUA era um ataque contra si própria. Desde então, tem estado muito disponível no fornecimento de tropas, apoio militar e direitos de sobrevoo.
EXP. — E da ONU?
F.T. — A ONU é igualmente importante no sentido de que a resolução 1373 do Conselho de Segurança serve de base a esta campanha contra o terrorismo: exige que os Estados criminalizem as actividades terroristas e criem condições para acabar com o seu financiamento.
EXP. — Quem deve liderar esta campanha?
F.T. — O mundo. Os EUA foram os atacados, mas não são os únicos responsáveis pela campanha. Há que trabalhar colectivamente, a nível bilateral ou multilateral, para assegurar que este tipo de comportamento não seja mais permitido como forma de expressão política.
EXP. — Poderão ocorrer operações militares sem aprovação da ONU?
F.T. — Após o 11 de Setembro, a ONU disse que os EUA tinham o direito de autodefesa. Nesse sentido, tivemos a aprovação da ONU para as acções militares que desenvolvemos.
EXP. — Os Governos europeus estão conscientes da ameaça terrorista, mas não querem gastar mais dinheiro na Defesa…
F.T. — Não vim aqui indicar aos Governos europeus as prioridades na forma como gastam o seu dinheiro. Mas acreditamos que o terrorismo é uma ameaça internacional e que os Governos necessitam de assumir responsabilidades e gastar os recursos necessários.
EXP. — A guerra no Afeganistão foi a frente visível da repressão do terrorismo. Que outras medidas foram tomadas?
F.T. — Registámos um enorme sucesso ao nível da execução legislativa: mais de 1900 suspeitos ou membros da Al-Qaeda foram presos em mais de 95 países; foram congelados mais de 100 milhões de euros em activos que financiavam actividades terroristas; a cooperação entre os serviços secretos não tem precedentes. Durante as operações militares, obtivemos muita informação que depois partilhámos com os parceiros da coligação e que tem permitido a localização e prisão de suspeitos. Mas sabemos que ainda não é o suficiente.
EXP. — A proposta do procurador Ashcroft no sentido de o FBI poder espiar os cidadãos não põe em causa direitos civis?
F.T. — Trata-se de medidas perfeitamente constitucionais. Há sempre um equilíbrio a fazer entre as liberdades constitucionais e a necessidade de proteger os cidadãos. Não creio que o novo tipo de vigilância seja mais intruso que o que temos presentemente.
EXP. — Os norte-americanos estão mais inseguros após saberem das falhas do FBI e da CIA?
F.T. — Não creio. A 11 de Setembro perdemos a inocência como nação, nunca esperámos que tal acontecesse. Estão a decorrer inquéritos no Congresso e os resultados falarão por si.
EXP. — O equilíbrio entre a repressão ao terrorismo e o respeito pelos direitos humanos é uma das prioridades da OSCE. Como reage às críticas sobre a forma como os EUA trataram os detidos em Guantanamo?
F.T. — Eles foram tratados de acordo com os princípios da Convenção de Genebra, e, em muitos casos, melhor do que seriam nas suas organizações. Rejeito a ideia de que tenham sido maltratados. Foram tratados humanamente, tendo em conta que são pessoas muito perigosas.
EXP. — Qual o ponto da situação em relação à Al-Qaeda?
F.T. — A sua estrutura no Afeganistão foi totalmente destruída, mas continua a ter células a operar em todo o mundo.
EXP. — E Bin Laden, continua a ser um alvo?
F.T. — É um criminoso internacional. Continuaremos a procurá-lo e levá-lo-emos à justiça — tal como ao mullah Omar.
EXP. — O Eixo do Mal é um inimigo realista?
F.T. — Irão, Iraque e a Coreia do Norte estão a fornecer armas de destruição maciça a pessoas que nos preocupam. Nesse sentido, é uma ameaça real.
EXP. — O que é que está a atrasar o ataque ao Iraque?
F.T. — Tem havido muita especulação de que o Iraque é o nosso próximo alvo. O Presidente Bush já afirmou que o nosso objectivo é a Al-Qaeda.
EXP. — Mas também disse que queria tirar Saddam Hussein do poder…
F.T. — Queremos vê-lo afastado, mas isso não quer dizer que vá haver uma campanha militar amanhã.
OSCE COORDENA COMBATE
Sensivelmente a meio da sua presidência da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), Portugal chamou a si a organização da primeira grande conferência internacional sobre terrorismo, após o 11 de Setembro.
Na quarta-feira, altos responsáveis das principais organizações internacionais — NATO, Conselho da Europa, ONU, União Europeia, Comunidade de Estados Independentes (países da ex-URSS) — reuniram-se, em Lisboa, para uma Conferência de Alto Nível sobre Prevenção e Combate ao Terrorismo.
A conferência, que decorreu à porta fechada, visou a coordenação dos esforços das organizações participantes tendo em vista assinatura da “Carta da OSCE de Prevenção e Combate ao Terrorismo”, na reunião ministerial que encerrará a presidência lusa, a 5 e 6 de Dezembro, previsivelmente no Estoril.
A ser aprovada, a Carta — cujo processo negocial, entre os 55 membros da OSCE, decorre durante o segundo semestre da presidência — passará a funcionar como enquadramento jurídico das acções em curso.
Outra iniciativa da qual a presidência portuguesa se orgulha ocorreu de 28 a 31 de Maio, em Praga. Tratou-se do Fórum Económico, a reunião magna da chamada “dimensão económica e ambiental” da OSCE, cujo tema central foi a água como factor de estabilidade entre os países. “O salto qualitativo que a presidência portuguesa deu foi enveredar por um tema que, aparentemente, é totalmente estranho à segurança, mas que é um elemento vital da segurança”, afirmou ao “Expresso” Rui Aleixo, o coordenador da reunião de Praga.
Afinal de contas, existem 261 bacias hidrográficas que atravessam as fronteiras políticas de dois ou mais países. Em 2003, o tema escolhido pela presidência holandesa da OSCE será o tráfego ilícito nas suas diversas modalidades.
NA PISTA DO DINHEIRO SUJO
A luta contra o financiamento das actividades terroristas está na linha da frente do combate ao terrorismo internacional e o Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais (GAFI) é o seu cérebro. “Qualquer pessoa precisa de dinheiro para financiar as suas actividades — também os terroristas”, afirmou ao “Expresso” Clarie Lo, presidente do GAFI, após intervir na conferência da OSCE.
Estabelecido em 1989, por iniciativa do G-7, o GAFI é um organismo intergovernamental independente de que fazem parte 29 países (Portugal incluído), a Comissão Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo —, que analisa técnicas de lavagem de dinheiro e tenta gerar nos países a vontade política necessária para efectuarem reformas.
Em Outubro, durante um plenário extraordinário em Washington, o GAFI passou a incluir no seu âmbito de acção a luta contra o financiamento de actividades terroristas. Como diz Clarie Lo, “o terrorismo, tal como a lavagem de dinheiro, não conhece fronteiras”.
Na sequência desse plenário, o GAFI convidou os seus membros a adoptarem, até Junho de 2002, “Oito Recomendações especiais” contra o financiamento de actividades terroristas, entre as quais a criminalizacão desse financiamento, o congelamento e perda de bens relacionados com o terrorismo e a comunicação de transacções suspeitas.
Na próxima sexta-feira, Claire Lo apresentará. em Paris, o relatório anual do GAFI sobre a lavagem de dinheiro e financiamento de actividades terroristas, bem como a lista actualizada dos países que não estão a colaborar com o GAFI nesses domínios. Na última lista constavam países como Hungria. Indonésia, Israel e Rússia.
Acresce ainda que. paralelamente às “Oito Recomendações”, o GAFI adoptara, em 1990, um conjunto de medidas práticas, reconhecidas internacionalmente como os princípios universais do combate à lavagem de dinheiro — as “Quarenta Recomendações”.
UMA EUROPA MAIS SEGURA
Muitas vezes se especula se um ataque como o que atingiu os Estados Unidos seria possível na Europa. Não há uma resposta científica para a pergunta mas, nove meses depois, é inegável que os países europeus continuam a apostar na prevenção.
A Alemanha reforçou, esta semana, a segurança nos seus aeroportos, através de um maior policiamento, sobretudo no Aeroporto de Frankfurt-Main — o maior do país e um dos maiores do mundo. Igualmente, também a Lufthansa anunciou, na quinta-feira, que vai instalar câmaras de vídeo nas cabinas dos seus aviões. Na semana passada, o jornal “The Times” tinha revelado que os serviços secretos britânicos elaboraram uma lista confidencial com mais de 350 edifícios-chave e infra-estruturas tidos como potenciais alvos de um ataque terrorista.
E em Portugal, mantêm-se em vigor as medidas accionadas após o 11 de Setembro:
— incrementação do grau 3 no esquema de segurança dos aeroportos;
— segurança reforçada em algumas embaixadas;
— protecção especial aos “pontos sensíveis”, que dizem respeito aos interesses vitais do país e à sustentação das populações (transportes, telecomunicações, água, alimentação, electricidade).
(Foto: O momento em que o segundo avião atinge o World Trade Center, em Nova Iorque, a 11 de setembro de 2001 DAN DOANE JR. / SIPA PRESS / WIKIMEDIA COMMONS)
Artigo publicado no “Expresso”, a 15 de junho de 2002