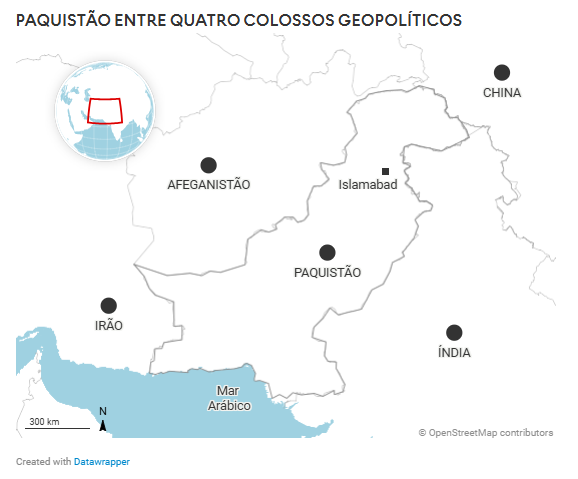As pequenas ilhas, que raramente prendem as atenções, concentram em si vários dos problemas que afligem a Humanidade, servindo de laboratório para a ONU, que na segunda e terça-feira dedica uma sessão especial à questão

As pequenas ilhas — que polvilham o planisfério nas zonas onde, aparentemente, só vemos azul — raramente prendem as atenções. No entanto, elas existem, são aos milhares, muitas são habitadas e têm preocupações “do tamanho do mundo”.
Muitas das vulnerabilidades que afectam estas ilhas advêm quer dos seus contornos físicos quer da sua localização geográfica. Por isso, 41 delas instituíram, em 1990, a AOSIS (Aliança das Pequenas Ilhas Estados), uma organização que, desde então, tem funcionado como um laboratório das Nações Unidas para os problemas mais prementes. Quanto mais não seja porque muitas dessas “dores de cabeça” — as ecológicas, especificamente — serão partilhadas pelos países maiores (e mais desenvolvidos) num futuro não muito distante.
Longe do mediatismo que caracteriza outras reuniões do género — com participantes bem menos discretos — a Assembleia Geral da ONU vai dedicar, na segunda e terça-feira, uma sessão especial às pequenas ilhas e suas especificidades.
As alterações climáticas
Na viragem do milénio, as alterações climáticas constituem uma das principais fontes de preocupação para as pequenas ilhas. O aquecimento global da Terra (entre 1 e 3,5 graus centígrados, até 2100) e a consequente subida do nível do mar (entre 15 e 95 centímetros) colocam estas ilhas na “linha da frente”, como potenciais vítimas das catástrofes naturais.
As ilhas Tuvalu, por exemplo — que são o quinto Estado independente mais pequeno do mundo — correm mesmo o risco de, no próximo século, desaparecerem do mapa. Elas consistem em nove atóis de origem coralinea, habitados por cerca de 9500 pessoas, e o seu ponto mais alto não ultrapassa os cinco metros. Também as Maldivas — um arquipélago com quase 2000 ilhas, onde habitam cerca de 275 mil pessoas e cujo “pico montanhoso” não vai além dos seis metros — poderão ter a mesma “sorte”.
Para agravar a situação, todas as ilhas membros da AOSIS (exceptuando Malta, Chipre, Bahrein e parte das Bahamas) situam-se na região intertropical do Globo, onde o clima é mais quente e mais húmido do que em qualquer outra parte do planeta.
A Ásia-Pacífico, em particular, é a região onde as manifestações naturais decorrentes dos fenómenos “El Niño” e “La Niña” se tem feito sentir, desde há 20 anos, com maior frequência e intensidade. Logicamente, os seus efeitos devastadores ganham maior amplitude quando estão em causa pequenas massas de terra.
Com excepção da Papua Nova Guiné e Cuba, todas as outras ilhas da AOSIS são mais pequenas do que Portugal e mais de metade têm, inclusivamente, um tamanho inferior ao da Grande Lisboa. Em Março de 1982, em virtude do “El Niño”, o arquipélago do Tonga — uma área que, apesar de ser inferior à da ilha da Madeira, detém o recorde mundial de terrenos cultivados (79%) — viu a maior parte das suas colheitas (amêndoa e banana) serem completamente destruídas pelo ciclone “Isaac” que se abateu sobre a Oceania.
Mais recentemente, em Julho de 1998. a província de Sepik, no Noroeste da Papua-Nova Guiné, foi atingida por um forte maremoto, seguido de uma onda gigante de 10 metros de altura, que mataram perto de 2000 pessoas, ou seja, aproximadamente um quinto da população que habitava a região.
A pequenez das ilhas face à agressividade climática contribuiu para que elas tomassem consciência da sua importância ao nível das energias alternativas. Muitos especialistas defendem já que as pequenas ilhas reúnem condições invejáveis para liderar a revolução energética global, através da utilização de fontes “verdes”, tais como a água, o vento e a biomassa.
Em Sukiki, nas Ilhas Salomão, o aproveitamento energético da luz solar, em detrimento das lâmpadas de querosene, foi feito com muito sucesso e com inegáveis benefícios económicos e ambientais para as populações.
O desgaste do turismo
As costas das ilhas são as zonas mais expostas às intempéries. Para além de concentrarem a maior parte da população, elas abrigam os principais recursos económicos — o peixe e o potencial turístico (praias exóticas, águas límpidas e recifes de corais). A sua degradação significa, portanto, um sério revés para a capacidade de sobrevivência das ilhas.
O turismo, em particular, é vital para estas ilhas. Verdadeiros “paraísos na Terra”, quanto mais pequenas, isoladas e longínquas são, mais apetecíveis se tornam. As pequenas praias das Seychelles, por exemplo, atraem, anualmente, mais de 130 mil turistas. Tendo em conta que este arquipélago é constituído por mais de 100 ilhas que, juntas, têm uma área pouco superior a metade da ilha da Madeira e que só tem cerca de 77 mil habitantes, os receios da pressão humana são evidentes e compreensíveis.
Mas nem só a intervenção humana desgasta estes “lugares de sonho”. Também as forças da natureza afastam os turistas. Na ilha de Nevis, por exemplo, a praia de Pinney vem sofrendo uma erosão permanente, desde a década de 70. Periodicamente, mais uma fila de palmeiras é arrancada ao solo e o hotel já forma mesmo uma pequena península no meio do mar. O seu restaurante, com a ajuda do furacão “Luís”, em 1995, perdeu mesmo toda a clientela: um mês após estar pronto, já só via peixes, algas e muita água entrarem pela porta adentro. A UNESCO está ciente destes fenómenos e informou que há regiões insulares no Leste das Caraíbas, onde a erosão das praias e das dunas avança à razão de cinco metros por ano.
Ecossistemas em crise
As populações nativas, nem sempre dão o melhor exemplo aos forasteiros, no que se refere à necessidade imperiosa de manter os ecossistemas em equilíbrio. Inevitavelmente, quem acaba por pagar, directamente, esta cara factura é a biodiversidade das ilhas, que se vê amputada de algumas das suas espécies mais apreciadas.
Neste âmbito, a amplitude da degradação dos bandos de aves nas Caraíbas é particularmente preocupante. O “Pato Sibilante da Índia Oriental”, por exemplo, uma espécie que habita os pântanos de vários países da região, é já considerado uma espécie ameaçada: em Cuba e nas Bahamas, devido à caça ilegal; no Haiti, devido à utilização dos seus “habitats” para o cultivo do arroz; na República Dominicana, por causa dos pesticidas e, na Antígua e Barbuda, devido ao desvaste de extensas áreas de mangais.
O recurso a áreas protegidas é uma solução que algumas ilhas adoptam para salvaguardar a biodiversidade. A Jamaica, por exemplo, já delimitou cinco extensões com esse objectivo, a maior das quais — Portland Bight — ocupa quase o dobro da área do Parque Natural da Serra da Estrela. Estabelecida em Abril passado, esta reserva abriga as maiores florestas secas de origem calcária de toda a América Central e Caraíbas. São cerca de 48 quilómetros quase contíguos de mangais, 53 espécies vegetais que só existem na Jamaica e pântanos habitados por aves aquáticas e crocodilos, o símbolo nacional do país.
A falta de água
Rodeadas de água por todos os lados, é difícil perceber em que medida este recurso pode constituir, por si só, um motivo de preocupação para as ilhas. Mas, mesmo as ilhas onde chove abundantemente podem não ter vida fácil.
Por um lado, a sua baixa altitude proporciona que os lençóis freáticos subterrâneos sejam facilmente contaminados, quer por agentes poluidores, quer pela água salgada dos oceanos. Por outro lado, o abastecimento de água às populações implica infra-estruturas de armazenamento e distribuição de vulto, raramente existentes.
Em Tarawa, o atol mais populoso do arquipélago de Kiribati, o acesso às reservas subterrâneas de água doce gerou, em 1996, um conflito, que se arrastou por dois anos, entre a comunidade de Bonkiri e o Governo. Em Tarawa, os cuidados com a água são tais, que já se tornou um hábito ferver toda a água que se bebe. Periodicamente, o dispêndio da água que se consome é racionado, e os filtros para a sua purificação já fazem parte dos utensílios domésticos.
Artigo publicado no “Expresso”, a 25 de setembro de 1999