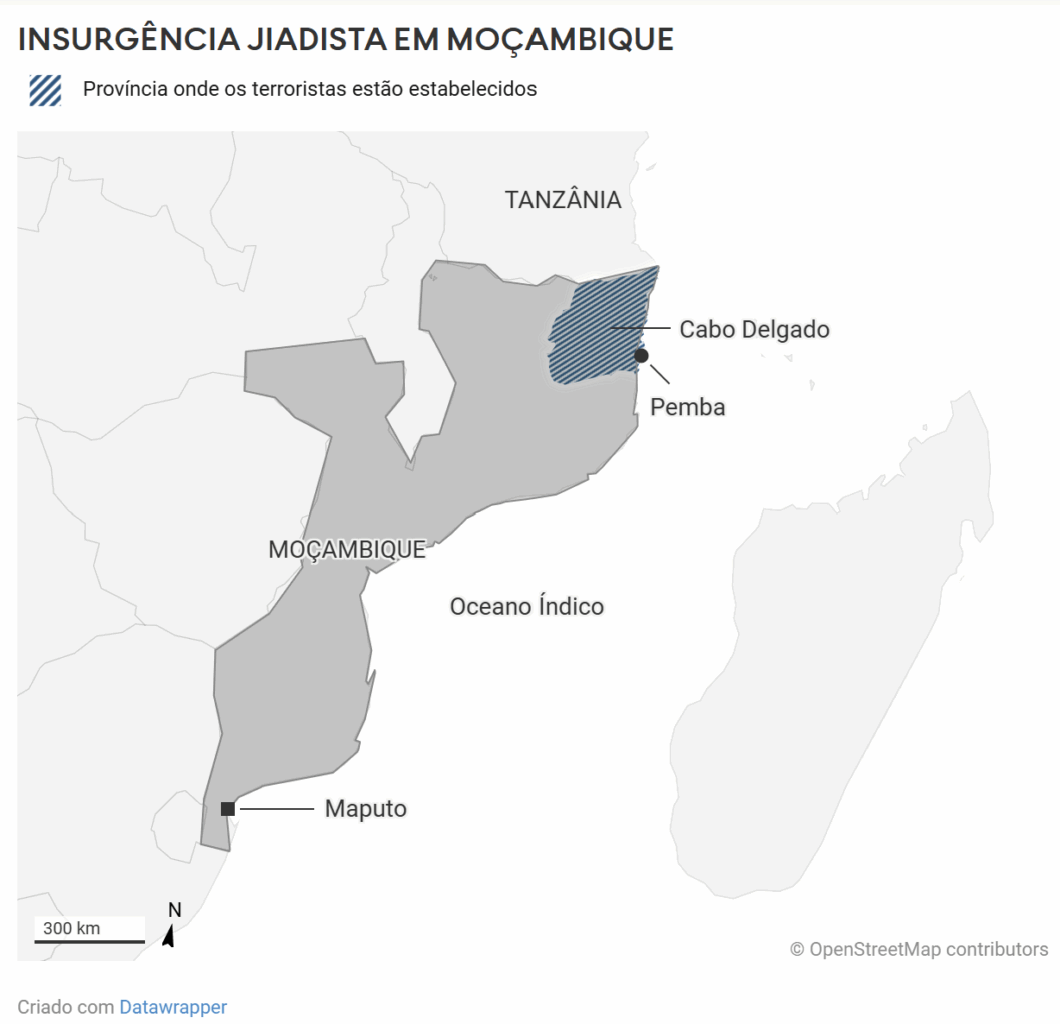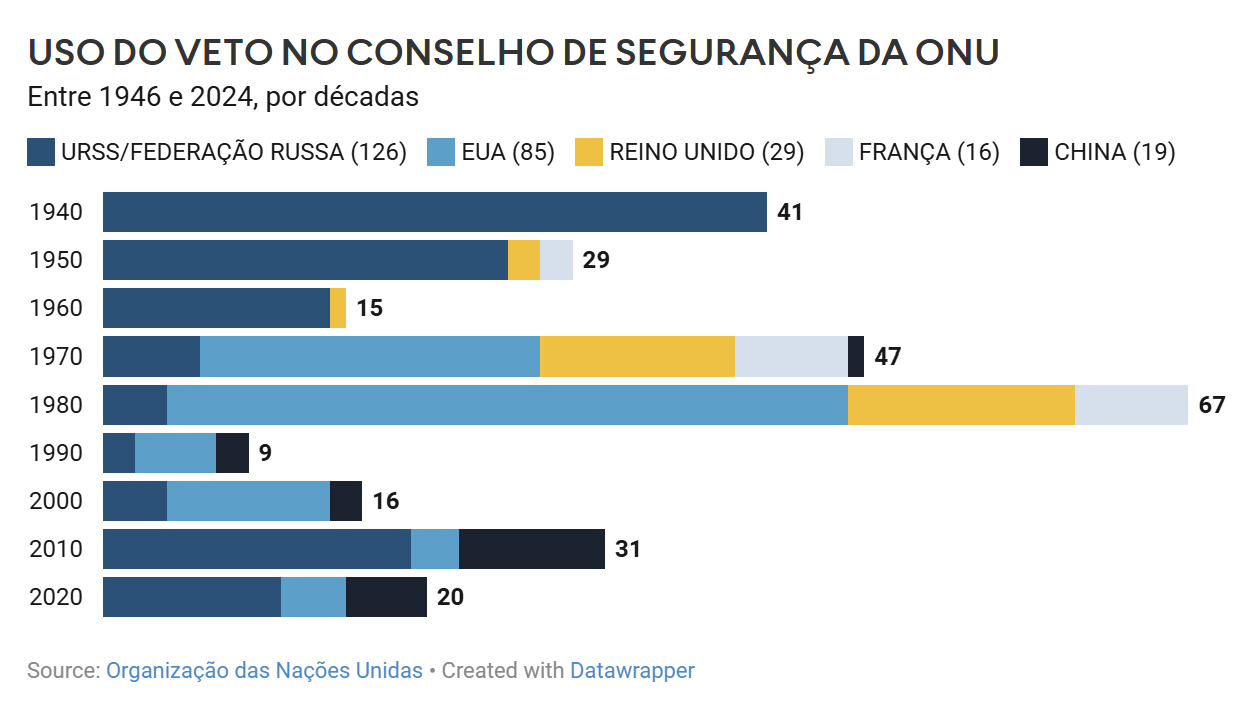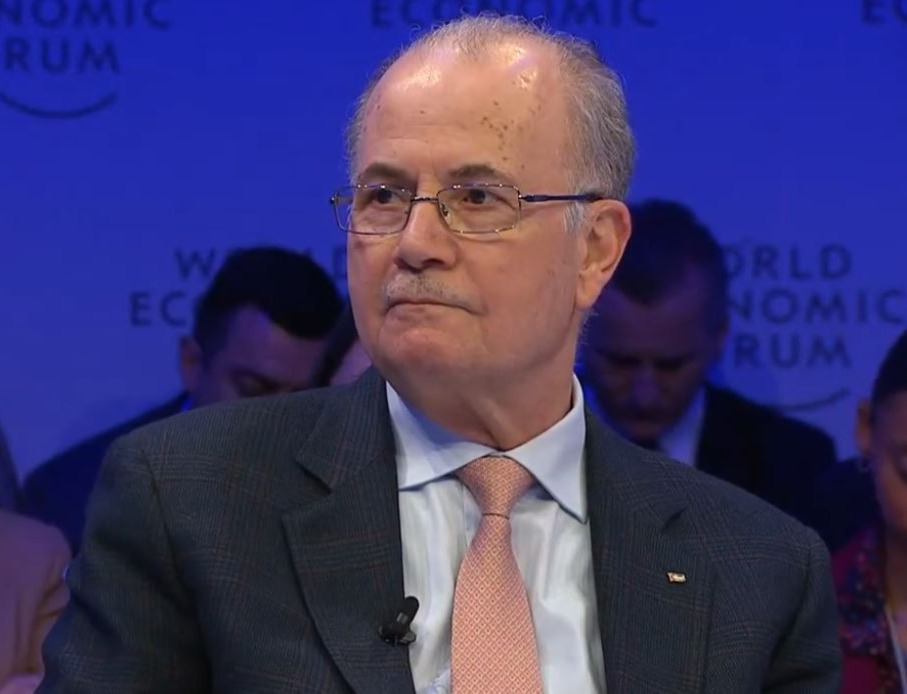Mais uma linha vermelha foi ultrapassada na região do Médio Oriente. Teerão responsabilizou Israel pelo bombardeamento do seu consulado em Damasco, numa clara violação da sua soberania. O ataque vitimou mortalmente dois generais iranianos. “O nível do ataque é tal que a mensagem dissuasora do Irão terá de ser muito forte”, defende um investigador iraniano
A guerra na Faixa de Gaza e as disputas geopolíticas em seu redor assemelham a região do Médio Oriente a um movimento de ondas sísmicas libertadas após um forte tremor de terra, com epicentro no território palestiniano e réplicas por toda a região.
Na fronteira israelo-libanesa, há trocas de fogo diárias entre o Hezbollah e as forças de Israel. A leste, o Iraque é palco de atritos frequentes entre as tropas dos Estados Unidos e milícias apoiadas pelo Irão. No mar alto, os rebeldes iemenitas hutis, solidários com os palestinianos, lançam mísseis de longo alcance contra embarcações comerciais associadas a Israel.
Noutra frente, num registo não declarado, Israel e o Irão combatem-se de forma indireta. A Síria é o teatro de operações onde Telavive e Teerão mais ficam frente a frente — o país tem fronteira com Israel e dá guarida a forças iranianas. E foi precisamente nesta nação árabe que, esta segunda-feira, os dois países escalaram significativamente a tensão entre ambos.
Pelas 17 horas em Damasco (15h em Portugal Continental), um bombardeamento atingiu com precisão o consulado iraniano na capital síria, reduzindo-o a escombros. O Irão acusou Israel, que não refutou a acusação, remetendo-se ao silêncio.
Violação de duas soberanias
“Para Teerão, este ataque foi uma violação do espaço soberano sírio e, mais ainda, do seu próprio espaço soberano, porque o consulado, ao abrigo das convenções de Viena, que foram ratificadas pelos três Estados envolvidos, é território iraniano”, explica ao Expresso o professor Tiago André Lopes, da Universidade Portucalense.
“Há a perceção de que Israel está a violar direito soberano”, acrescenta o especialista em Relações Internacionais. “E as violações de soberania não podem contar só quando são a Rússia ou a China a fazê-las. Uma violação de soberania é sempre uma violação de soberania.”
Num telefonema para o seu homólogo sírio, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Hossein Amirabdollahian, responsabilizou Israel pelo que designou ser “uma violação de todas as convenções internacionais”.
Retaliação por ataque a base naval
O ataque em Damasco foi desencadeado horas depois de um drone ter alvejado uma base naval israelita em Eilat (sul), junto ao Mar Vermelho, numa ação reivindicada por uma milícia iraquiana apoiada pelo Irão (Resistência Islâmica no Iraque). O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, afirmou que o aparelho usado foi “fabricado no Irão” e que o ataque foi “dirigido pelo Irão”.
A retaliação a este incidente no sul de Israel fez-se sentir em Damasco. Segundo o embaixador iraniano na Síria, Hossein Akbari, o ataque “foi realizado por caças F-35” que dispararam seis mísseis contra o edifício. Só o portão ficou de pé, relatou à televisão pública iraniana.
No total, foram mortas 11 pessoas, incluindo sete membros dos Guardas da Revolução, dois deles com a patente de general. Mohammed Zahedi, veterano de 63 anos, liderou a Força Quds no Líbano e na Síria até 2016. Esta força, que adota o nome árabe da cidade de Jerusalém, é uma unidade de elite dentro dos Guardas da Revolução que coordena o apoio de Teerão a grupos armados no Médio Oriente.
O regime israelita “deveria saber que, com tais ações desumanas, nunca alcançará os seus objetivos sinistros”, reagiu o Presidente iraniano, Ebrahim Raisi. “E, dia após dia, testemunhará o fortalecimento da Frente de Resistência e a repulsa e o ódio das nações livres pela sua natureza ilegítima. Este crime covarde não ficará sem resposta.”
“O ataque de Israel ocorreu num local diplomático que é considerado território do Irão. O nível do ataque é tal que a mensagem dissuasora do Irão terá de ser muito forte”, disse ao Expresso Javad Heirannia, diretor do Centro de Investigação Científica e Estudos Estratégicos do Médio Oriente, de Teerão. “Mas não me parece que o Irão vá demonstrar essa reação de momento, porque faria com que a atenção à guerra em Gaza se voltasse para a guerra com o Irão. E traria a América para essa guerra, o que não é desejável para o Irão.”
O ataque ao consulado iraniano suscitou outra leitura nos bastidores do regime dos ayatollahs. “No Irão, há a ideia de que os Estados Unidos deram carta branca a Israel para fazer o que quiser. Há a perceção de que Israel é um proxy do braço armado dos Estados Unidos”, refere Tiago André Lopes.
Para esta perceção contribuíram declarações como as proferidas, sexta-feira passada, pelo ministro da Defesa de Israel. Yoav Gallant afirmou que “Israel está a fazer a transição da defesa para a perseguição ao Hezbollah; chegaremos onde quer que a organização opere, em Beirute, em Damasco e mais além”. E prometeu: “Onde quer que precisemos de agir, agiremos.”
“Para o Irão, Israel é sempre visto como uma espécie de instrumento”, acrescenta o investigador português. “O Irão não reconhece o Estado de Israel porque olha para Israel quase como uma espécie de colonato americano para os Estados Unidos terem um pé na região. O Irão olha para Israel do mesmo modo que a Rússia e a Sérvia olham para o Kosovo.”
Não foi a primeira vez que Israel atacou território sírio visando agentes com ligações ao Irão. Nos últimos dez anos, fê-lo com regularidade para abortar a entrega de armas enviadas por Teerão para aliados na região, seja o regime de Bashar al-Assad, na Síria, seja o grupo xiita Hezbollah, no Líbano.
Porém, “depois da guerra em Gaza, Israel atacou, sem precedentes, os principais comandantes da Força Quds. Normalmente, os alvos eram posições dos Guardas da Revolução e grupos aliados do Irão, mas recentemente Israel tem alvejado os altos comandantes dos Guardas da Revolução”, diz Heirannia.
“Israel está sob muita pressão interna e ao nível da opinião pública global”, diz o iraniano. “Uma guerra com o Irão reduzirá essa pressão e a atenção será direcionada para o Irão. Por outro lado, aproximará de Israel a América e os países ocidentais, que têm estado divididos como resultado da guerra de Gaza.” Em contrapartida, “a falta de reação por parte de Teerão levará Israel a tomar medidas mais severas contra o Irão.”
Tiago André Lopes defende que é provável que o Irão recorra aos seus proxies para retaliar o ataque que sofreu em Damasco. O contexto que envolve particularmente um deles — a Resistência Islâmica no Iraque, que visou Eilat esta semana — está atualmente efervescente.
“Os Estados Unidos estão a ser empurrados para fora do Iraque. O Governo de Bagdade está a negociar a saída das tropas americanas” — uns 2500 soldados que restam no país. “Este movimento, que também opera na Síria, poderá ser agora usado para dar uma espécie de contra resposta àquilo que aconteceu em Damasco.”
“A acontecer, o embate com Israel acontecerá sempre com uma capa, que será a proteção dos palestinianos”, conclui o professor da Portucalense. “A capa escolhida será sempre essa, porque o único outro grupo que poderia unir a região tem a oposição da Turquia que são os curdos. A questão dos curdos é mais difícil, a palestiniana é mais unificadora.”
(Bandeira do Irão junto aos escombros em que se transformou o consulado iraniano em Damasco, atingido por mísseis FIRAS MAKDESI / REUTERS)
Artigo publicado no “Expresso Online”, a 3 de abril de 2024. Pode ser consultado aqui