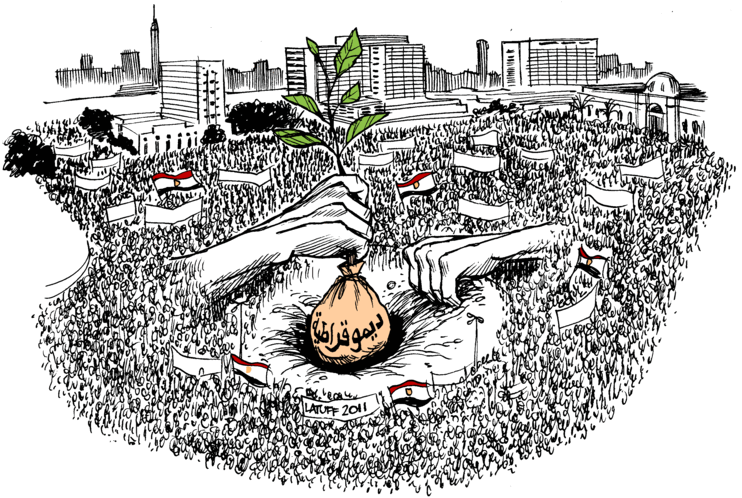Mais de 15 mil fogos florestais, num ano anormalmente quente e seco, estão na origem de um dos piores desastres naturais que a Austrália já viveu. Passado um ano, o país tem em mãos a tarefa da regeneração de milhões de hectares de terra queimada. “A natureza precisa de nós, agora mais do que nunca”, diz ao Expresso um responsável do World Wildlife Fund-Austrália. A partir de Portugal há pessoas a apoiar a recuperação de coalas apanhados pelo fogo

Se para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo o ano de 2020 foi tragicamente inesquecível, para muitos australianos foi-o duplamente. Ainda o novo coronavírus não tinha surpreendido fora da China e partes do país eram engolidas por gigantescos incêndios florestais.
A época dos fogos é, por natureza, impactante num país que é o sexto maior do mundo em superfície e o sétimo em termos de área florestal. Mas entre junho de 2019 e fevereiro de 2020, a estação dos fogos assumiu proporções inéditas — mais prolongada, extensa e grave.
15.000
incêndios deflagraram por todo o país
33
pessoas morreram nos fogos
19
milhões de hectares de matas e florestas foram reduzidos a cinza
Só no estado de Nova Gales do Sul, arderam 6.897.000 hectares — o território de Portugal mede 8,7 milhões de hectares.
“Estes incêndios florestais foram dos piores desastres naturais que a Austrália já viveu”, diz ao Expresso Darren Grover, coordenador de Paisagens Terrestres e Marinhas Saudáveis da organização ambientalista World Wildlife Fund — Austrália.
“Estima-se que 3000 milhões de animais tenham sido mortos ou deslocados e até 7000 milhões de árvores tenham sido destruídas ou danificadas. Embora a natureza já tenha começado a regenerar-se, muitas florestas levarão décadas a recuperar. Algumas podem até nunca voltar ao seu estado anterior.”
Um ano depois, a Austrália está a braços com a tarefa da reconstrução de mais de 3100 casas queimadas e da recuperação de milhões de hectares de área ardida. “Os incêndios florestais causaram uma perda impressionante para a natureza, que requer uma ação em larga escala, e o reconhecimento de que não podemos continuar com o business as usual”, defende Darren Grover.
Em outubro, a WWF-Austrália lançou um programa para cinco anos, orçado em 300 milhões de dólares (247 milhões de euros). “É um plano de ação arrojado para ajudar a resolver os problemas criados pelos incêndios e para garantir que o ambiente, as pessoas e a vida selvagem prosperem. O ‘Regenerar a Austrália’ será o maior e o mais inovador programa de recuperação da vida selvagem e de regeneração da paisagem, na história da Austrália. O programa ajudará a repovoar, reabilitar e restaurar a vida selvagem e habitats, impulsionar a agricultura sustentável e preparar o futuro da Austrália contra desastres climáticos.”
Uma batalha em quatro frentes
O programa ‘Regenerar a Austrália’ assenta em quatro eixos:
Plantar 2000 milhões de árvores, para estancar as perdas ao nível da biodiversidade e, ao mesmo tempo, proteger e restaurar os habitats nativos.
Apostar nas energias renováveis, para que se reduza o consumo de carbono no país e para que a Austrália se torne uma potência exportadora de energias renováveis.
Recorrer à inovação, mobilizando mentes que possam contribuir com soluções brilhantes para a regeneração do país.
Proteger os coalas. A meta deste eixo é a duplicação do número de coalas na costa leste até 2050.
Uma das imagens de marca da Austrália, os coalas foram uma das espécies mais atingidas pelos fogos. “O tamanho da população de coalas na Austrália é desconhecido. Eles são animais bastante tímidos e esquivos, o que torna difícil determinar o seu número com precisão”, explica Darren Grover.
“Antes dos incêndios florestais, prevíamos que os coalas no leste da Austrália se iriam extinguir até 2050, devido ao corte excessivo de árvores para o desenvolvimento agrícola e urbano. Agora a situação piorou.”
Um estudo encomendado pela WWF-Austrália apurou que mais de 60 mil coalas foram afetados pelos incêndios, incluindo mais de 41 mil na Ilha dos Cangurus, a sul do território continental, mais de 11 mil no estado de Victoria, quase 8000 em Nova Gales do Sul e quase 900 em Queensland.
Carros e cães são ameaças
“Infelizmente, os sortudos que sobreviveram aos incêndios ainda enfrentam ameaças de destruição de habitat e das mudanças climáticas”, alerta o responsável da WWF-Austrália.
“A destruição dos habitats para o desenvolvimento agrícola e urbano significa, para os coalas, passarem mais tempo no solo em busca de novo abrigo. Isso torna-os mais vulneráveis a serem atropelados por carros e atacados por cães, aumentando os seus níveis de stresse, o que pode levar a doenças como a clamídia.”
A WWF-Austrália dedica aos coalas uma atenção particular. Através do programa “Adote um coala”, é possível ajudar à recuperação de espécimes feridos: uma mensalidade de 15 dólares (€12) ajuda ao fornecimento de curativos e remédios e de 30 dólares (€24) contribui para a plantação de um corredor de árvores para proteger habitats ameaçados.
4
pessoas apoiam, a partir de Portugal, o programa “Adote um Coala”
A diminuição da população de coalas é um drama que tem vindo a avolumar-se por circunstâncias paralelas aos incêndios sazonais. “As alterações climáticas reduziram os níveis de nutrientes nas folhas dos eucaliptos, a principal fonte de alimento dos coalas. Também há fortes evidências do impacto das secas e das temperaturas extremamente altas sobre os coalas”, diz Darren Grover.
“No rescaldo dos incêndios florestais, é mais importante do que nunca proteger as colónias de coalas sobreviventes e as florestas que não arderam, especialmente contra a extração de madeira e a sua destruição.”
Na Austrália esta enorme catástrofe natural levou a discussão para o campo das alterações climáticas. Os fogos começaram no ano mais quente e mais seco de que há registo. E as previsões apontam para um aumento em 25% do risco de fogos extremos em 2050 e em mais 20% em 2100.
A WWF-Austrália está no terreno, mas subitamente todo o trabalho de campo ficou fortemente condicionado pelos confinamentos a que a pandemia de covid-19 obriga. “A WWF-Austrália vai testar drones dispersores de sementes para plantar árvores e criar novos corredores de habitat para coalas”, refere Darren Grover.
“Estamos também a defender leis ambientais mais fortes, que sejam devidamente aplicadas e financiadas para proteger as nossas florestas e bosques. Responder aos impactos dos incêndios florestais durante uma pandemia global tem sido um desafio, mas o nosso trabalho não pára. A natureza precisa de nós, agora mais do que nunca.”
Artigo publicado no “Expresso Online”, a 15 de janeiro de 2021. Pode ser consultado aqui