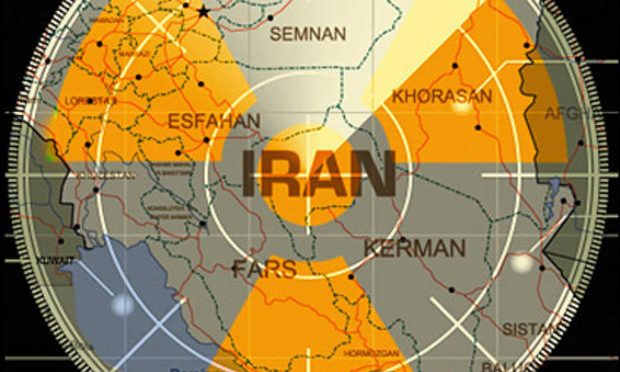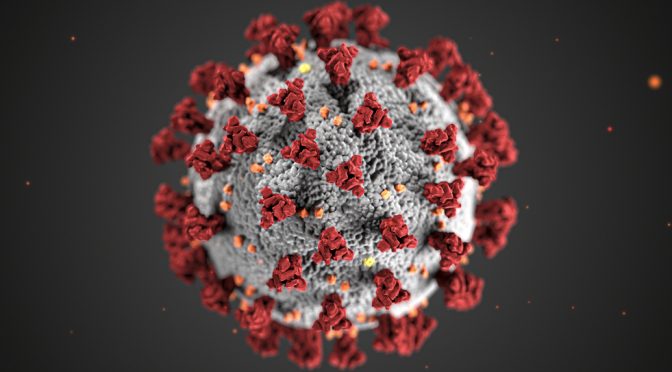Onze ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia — incluindo o português — querem que Bruxelas elabore um documento com opções de resposta ao plano de Israel para anexar partes da Cisjordânia palestiniana. “É importante haver clareza sobre as implicações legais e políticas da anexação”, alertam
Há cerca de 30 anos, comentando a postura da União Europeia durante a Crise do Golfo — desencadeada pela invasão iraquiana do Kuwait, em 1990 —, Mark Eyskens, então ministro dos Negócios Estrangeiros da Bélgica (e posterior primeiro-ministro), afirmou que a Europa era “um gigante económico, um anão político e um verme militar”.
Nos dias que correm, a questão da Palestina talvez seja dos assuntos onde essas dimensões são mais evidentes. A União Europeia (UE) é um importante parceiro económico de israelitas e palestinianos mas, em matéria política, revela-se incapaz de tomar iniciativas que contribuam para travar o desgaste contínuo da perspetiva de paz entre os dois povos.
Essa erosão pode conhecer novo capítulo se Israel for avante com a intenção de estender a sua soberania a até 30% da Cisjordânia ocupada, e em relação à qual ainda não se conhece uma posição de força por parte dos europeus.
“Falta uma estratégia política comum contra a violação contínua dos direitos humanos do povo palestiniano e, neste caso específico, de uma nova anexação ilegal de território palestiniano”, diz ao Expresso Giulia Daniele, investigadora no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, de Lisboa.
Recentemente, 11 ministros dos Negócios Estrangeiros europeus — entre os quais o português Augusto Santos Silva — deram conta desse desnorte e enviaram uma carta conjunta a Josep Borrell, chefe da diplomacia dos 27. Acreditam que Israel pode ser dissuadido de avançar com a anexação se for alvo de medidas punitivas e solicitaram uma lista de ações possíveis.
“Gostaríamos de ver um documento, elaborado em estreita consulta com a Comissão, que forneça uma visão geral das relações entre a UE e Israel, uma análise das consequências legais da anexação, bem como uma lista de possíveis ações como resposta”, lê-se na missiva enviada a 10 de julho.
“É importante haver clareza sobre as implicações legais e políticas da anexação”, continuam. “Compreendemos que este é um assunto sensível e que o tempo é importante, mas o tempo também é curto. Estamos preocupados que a janela para impedir a anexação se feche rapidamente.”
Para a UE, a anexação constitui a machadada final na solução de dois Estados (para dois povos), que continua a marcar a sua narrativa, ainda que no terreno essa seja uma realidade cada vez mais difícil de acontecer.
“Continuar a falar sobre a solução de dois Estados é irrelevante e fora do contexto atual, que demonstra como isso já não é possível nem praticável sob nenhum ponto de vista”, defende a investigadora do ISCTE. “Pelo contrário, analisar com mais profundidade os factos no terreno e levar em maior consideração o que está a acontecer dentro das sociedades israelita e palestiniana poderia ajudar a UE a consolidar o seu papel no debate atual.”
Uma questão moral e legal
Se Israel concretizar a anexação — estendendo a sua soberania às áreas dos colonatos judeus e às terras férteis do Vale do Jordão —, na prática uma Palestina independente ficará condenada a um rendilhado de pequenos territórios não contíguos que impossibilita um Estado viável.
Para lá da dimensão moral, a perspetiva de Israel tomar terras palestinianas é também uma questão legal, já que viola o direito internacional. “Qualquer violação do direito internacional deve ser condenada”, defende Giulia Daniele.
“Se essa prática continuar, é necessário tomar decisões para contrariá-la, como, por exemplo o uso de sanções, que já aconteceu em muitos outros contextos históricos. A UE deve ter a coragem de propor uma política própria no sentido de influenciar as decisões da agenda internacional e de condenar abertamente a continuação do regime de apartheid” que visa os palestinianos.
Além de Portugal, assinaram a carta enviada ao Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança a Bélgica, Irlanda, Itália, França, Malta, Suécia, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda e Finlândia.
Do rol, apenas Malta e Suécia reconhecem o Estado da Palestina — fizeram-no em 1988 e 2014, respetivamente. Entre os 27, há outros países que também reconhecem a Palestina a nível bilateral, mas alguns comportam-se hoje de forma contrária à posição que assumiram no passado.
É o caso da Hungria, que reconheceu a independência da Palestina em 1988 (antes de aderir à UE) e hoje, com o nacionalista e eurocético Viktor Orbán no poder, é um dos mais sólidos defensores dos interesses de Israel, dificultando dessa forma a obtenção de um consenso na UE.
A voz de 1080 deputados
“Todos sabemos que o papel dominante sempre foi e continua a ser o da política norte-americana, mas, ainda mais neste momento de protestos tanto em Israel como nos Estados Unidos, é importante pressionar a UE a avançar finalmente com um objetivo muito simples: a aplicação do direito internacional, ao abrigo do qual o plano de anexação é ilegal.”
Recentemente, duas tomadas de posição conjuntas a nível internacional foram apelaram nesse sentido. A 23 de junho, 1080 deputados de 25 países europeus — entre os quais cinco deputados portugueses — endereçaram uma carta aos governos e líderes europeus. “A aquisição do território pela força não tem lugar em 2020 e deve ter consequências proporcionais”, defenderam.
Uma semana antes, 47 peritos das Nações Unidas na área dos Direitos Humanos adotaram uma posição pública no mesmo sentido: “A manhã seguinte à anexação será a cristalização de uma realidade já de si injusta: dois povos a viver no mesmo espaço, governados pelo mesmo Estado, mas com direitos profundamente desiguais. Esta é uma visão de um apartheid do século XXI”.
Artigo publicado no “Expresso Online”, a 17 de julho de 2020. Pode ser consultado aqui