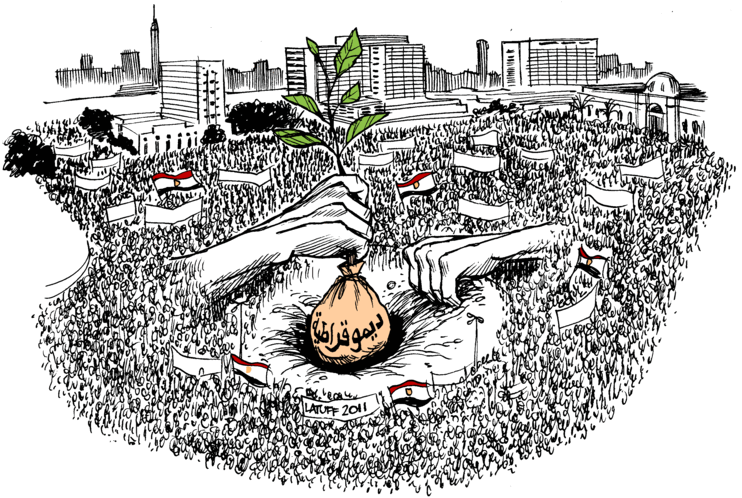Usados como peças de xadrez no tabuleiro geopolítico regional, cinco Estados podem ser os primeiros a beneficiar com a reaproximação saudita-iraniana

Arábia Saudita e Irão têm uma rivalidade antiga que moldou o Médio Oriente. Mais do que um acordo, o recente entendimento é, acima de tudo, uma medida de criação de confiança entre ambos. Apesar de não contemplar um roteiro para a resolução dos diferendos que os opõem, há potencial para acreditar que possa gerar estabilidade. Também há, contudo, especificidades que transcendem a vontade dos dois gigantes.
IÉMEN
Acordo é bom, mas falta ouvir os locais
Em guerra há quase dez anos, o Iémen tem sido uma peça no xadrez das rivalidades regionais, pelo que é o país onde o impacto do acordo pode ser maior. O Irão é aliado dos rebeldes huthis (xiitas) e a Arábia Saudita lidera uma operação militar regional de bombardeamentos ao país, visando o fim da era huthi e o regresso do Governo deposto, refugiado na cidade de Aden. Mas é ingénuo pensar que basta a vontade dos dois países para ditar a paz naquele território tribal, cuja governação o antigo ditador Ali Abdullah Saleh comparou a “uma dança sobre cabeças de serpentes”.
“Há um consenso de que o acordo diplomático entre a Arábia Saudita e o Irão é bom para o Iémen. Ao mesmo tempo, existe um entendimento de que a dimensão regional é só uma parte do conflito, que também tem uma dimensão local”, explica ao Expresso Veena Ali-Khan, investigadora do International Crisis Group para o Iémen. “Um acordo regional é um passo em frente, mas não é tudo; ainda é preciso um diálogo entre iemenitas.”
No terreno o país vive um cessar-fogo que sobreviveu ao seu término oficial, em outubro passado. Apesar de não ter sido renovado, as principais linhas da frente mantêm-se congeladas, havendo registo de ataques e combates aleatórios. Oficialmente, a trégua continua em vigor e os principais grupos em contenda têm-se privado de lançar ofensivas, o que indicia uma vontade de voltar a página do conflito e seguir em frente.
“Há um ambiente de reconciliação. Os huthis estão a falar com os sauditas, mas há sempre a possibilidade de o conflito se reacender. Os huthis saudaram o pacto, mas deixaram muito claro que um acordo entre Irão e Arábia Saudita não complementa um acordo entre huthis e sauditas.”
Recentemente, num posto de fronteira entre os dois países, as partes devolveram cadáveres de combatentes, num gesto interpretado como sinal de progresso entre ambos. Os sauditas receberam seis corpos e os huthis 58, naquele que foi o terceiro acordo do género.
Enquanto algumas feridas não saram e a política continua a marcar passo, acentua-se a grande catástrofe humanitária em que se transformou o Iémen. Terça-feira, o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas anunciou a suspensão do seu programa de prevenção da desnutrição. Tudo acontece num dos países mais pobres do mundo, altamente dependente da ajuda internacional e onde, segundo a UNICEF, uma criança morre a cada dez minutos.
Síria
Guerra não acabou, mas Assad manda
A guerra na Síria foi outro braço de ferro entre os dois rivais. O Irão foi um esteio para Bashar al-Assad, fazendo deslocar, desde o vizinho Líbano, combatentes do aliado xiita Hezbollah para defender o ditador. A Arábia Saudita, por seu lado, apoiou grupos da oposição. No entanto, 12 anos após o início do conflito, e ainda que não tenha formalmente terminado, Riade e Teerão deixaram de olhar para a Síria como uma guerra por procuração.
Com a ajuda dos bombardeamentos da Rússia, as forças de Assad recuperaram muito território. Hoje, mesmo países que, de início, estiveram do lado da oposição aceitam que reconhecer que Assad voltou a mandar no país é um atalho para limitar mais instabilidade na região. Três países árabes resistem nessa aproximação: Marrocos, Catar e Kuwait.
Em maio passado, esse consenso crescente de que o diálogo com a Síria é necessário foi coroado com a reintegração da Síria na Liga Árabe, de onde tinha sido suspensa no primeiro ano da guerra. Essa reabilitação regional de Assad aconteceu numa cimeira realizada na cidade saudita de Jeddah.
“O Irão não faz parte da Liga Árabe [é um país persa], mas esse regresso da Síria à organização faz parte da normalização entre os dois países”, diz ao Expresso Tiago André Lopes, professor de Relações Internacionais na Universidade Portucalense. “Há uma aceitação de que Bashar al-Assad venceu a guerra, e essa normalização do líder é consequência direta da normalização das relações entre Riade e Teerão.”
Na cimeira árabe de Jeddah, Assad comentou o regresso da Síria ao concerto árabe: “Espero que marque o início de uma nova fase de ação árabe pela solidariedade entre nós, pela paz na nossa região, por desenvolvimento e prosperidade em vez de guerra e destruição”. Para trás ficaram mais de 300 mil civis mortos, quase 340 ataques com armas químicas, 82 mil bombas de barril lançadas sobre zonas residenciais e dezenas de cercos a localidades ao estilo medieval. Mais de 13 milhões de pessoas tornaram-se deslocados ou refugiados.
Líbano
Polarização e crise não são prioridades
O anúncio do acordo entre sauditas e iranianos criou uma ilusão no Líbano. Com o país fortemente polarizado, a nível político, entre o movimento xiita Hezbollah e seus aliados (que representam a influência do Irão no país) e, no campo oposto, algumas fações apoiadas pela Arábia Saudita, “quando o acordo foi inicialmente tornado público, ambos os lados tiveram a expectativa de que ajudasse a resolver o impasse político no país… a seu favor”, explica ao Expresso David Wood, analista do International Crisis Group para o Líbano.
Organizado mediante um sistema confessional, que determina que o Presidente do país seja sempre cristão maronita, o primeiro-ministro muçulmano sunita e o presidente do Parlamento muçulmano xiita, o Líbano está há dez meses sem conseguir eleger o chefe de Estado. A escolha cabe ao Parlamento, que já falhou 12 tentativas.
Este impasse político, num país que reconhece, oficialmente, 18 grupos religiosos, expõe uma classe política que age em função de agendas sectárias e não de um interesse nacional. Para agravar, o país atravessa uma grave crise económica — em abril, a taxa de inflação estava nos 269% — e vive na iminência de colapso financeiro, alimentado por altos índices de corrupção, incompetência e desvios de dinheiro público.
A recuperação económica está dependente de um empréstimo de 785 milhões de euros concedido pelo Fundo Monetário Internacional, que não avança devido às múltiplas crises que o país enfrenta. À semelhança do que se passa em relação ao Presidente, os políticos também não se entendem sobre o governador do Banco Central.
“O Líbano ainda não sentiu qualquer impacto tangível da reaproximação iraniano-saudita”, assegura Wood. “Na realidade, o país é uma prioridade muito menor para Riade e Teerão, em comparação com vários outros vizinhos. Por isso, é improvável que a reaproximação faça grande diferença no Líbano até que a Arábia Saudita e o Irão resolvam outros conflitos que consideram mais urgentes, a começar pela situação no Iémen.”
Esta falta de urgência em estabilizar o Líbano prende-se também com o peso desigual que o país tem para Riade e Teerão. Para esta, é uma das pontas do chamado arco xiita, com o qual a República Islâmica projeta influência no Médio Oriente.
Iraque
Arena de diálogo para amaciar
Antes da assinatura do acordo entre Riade e Teerão, em Pequim, foi em Bagdade que, durante dois anos, as partes partiram pedra para desbravar um caminho comum. Pela sua complexidade étnica e religiosa, o Iraque tem fações naturalmente próximas de ambos os países. Essa circunstância contribuiu para transformar este país num campo de batalhas por procuração após a queda do ditador Saddam Hussein e, mais recentemente, numa arena de diálogo. Entre 2020 e 2022, realizaram-se cinco rondas de conversações que serviram para clarificar pontos de vista e criar uma prática regular de comunicação.
Com o Irão, o Iraque partilha 1600 quilómetros de fronteira e uma população de maioria xiita, que foi reprimida nos tempos do sunita Saddam e chegou ao poder nos anos da guerra iniciada em 2003. Mais ainda, é um país atravessado pelo arco xiita de influência iraniana na região. Muitos grupos armados recebem apoio direto da Guarda Revolucionária Iraniana, algo que ficou exposto quando, a 3 de janeiro de 2020, o general Qasem Soleimani — herói nacional no Irão, tido como cérebro da estratégia militar do país para o Médio Oriente — foi assassinado no aeroporto de Bagdade por drones dos Estados Unidos. Em retaliação, Teerão bombardeou uma base americana no Iraque.
Já a Arábia Saudita, que nunca teve um grau de envolvimento militar no Iraque semelhante ao do Irão, partilha uma fronteira de 800 quilómetros, onde chega a sentir vulnerabilidade. Riade tem maior afinidade com a comunidade sunita, profundamente tribal, e representa um potencial de grandes investimentos que Teerão não consegue acompanhar. Para os sauditas, o acordo com o Irão funciona também como salvaguarda, na eventualidade de escalada na sempre tensa relação entre Teerão e Washington.
Bahrain
A curta distância dos dois gigantes
Este arquipélago do Golfo Pérsico é o único reino da Península Arábica que tem uma monarquia reinante sunita e uma população de maioria xiita, por vezes apontada como potencial quinta-coluna do Irão. Esta circunstância tornou o país vulnerável a interferências do gigante xiita, como sucedeu durante a Primavera Árabe (2011) — Riade interveio em defesa da dinastia Al-Khalifa e Teerão dos manifestantes —, e condena-o a ser um permanente palco de competição ideológica e geopolítica entre os dois gigantes.
Em 2016, o Bahrain foi lesto a solidarizar-se com a Arábia Saudita e a cortar relações com o Irão no dia seguinte a Riade tê-lo feito. Desde então, acentuou as suas divergências em relação a Teerão e reconheceu o Estado de Israel, tornando-se um dos protagonistas dos Acordos de Abraão, promovidos pelo então Presidente americano Donald Trump.
Ao estilo de um efeito dominó, Bahrain, Jordânia e Egito são apontados como os países árabes que estão na calha para normalizar relações diplomáticas com o Irão. “As autoridades egípcias já afirmaram que a melhoria do relacionamento entre o Cairo e Teerão depende de como progredir a relação entre o Irão e a Arábia Saudita”, explica o académico iraniano Javad Heiran-Nia. Da relação Riade-Teerão parece depender o degelo do Médio Oriente.
Quem fica a perder?
ISRAEL
O Irão é o elemento central da política externa de Israel, que o vê como ameaça existencial (devido ao programa nuclear) e circunstancial (pelo apoio a grupos palestinianos). Os Acordos de Abraão, com que o Estado hebraico iniciou uma aproximação ao mundo árabe, visaram também isolar o Irão. Com quatro países a bordo, a Arábia Saudita era candidata. “A pressão está sobre Riade”, diz Tiago Lopes. “Terá de escolher se dá prioridade ao Irão, para reconstruir o grande espaço islâmico, se a Israel, numa lógica de estabilização da região.”
TURQUIA
“A Turquia perde espaço político no Médio Oriente com a aproximação entre Irão e Arábia Saudita”, comenta o docente da Universidade Portucalense. “No mundo sunita, sempre foi vista como poder mediador e moderado. Com a normalização, deixa de poder fazer a ponte, porque não há nada para moderar.” Tiago Lopes recorda a recente cimeira da NATO, em Vílnius, onde após colocar entraves à adesão da Suécia, Ancara acabou por ceder. “A Turquia decidiu voltar à sua política de ambiguidade, que é ter relações com o Ocidente, mas também não estragar o relacionamento que tem com a Rússia.”
RELACIONADO Amigos de ocasião para apagar fogos regionais no Médio Oriente
Artigo publicado no “Expresso”, a 4 de agosto de 2023. Pode ser consultado aqui