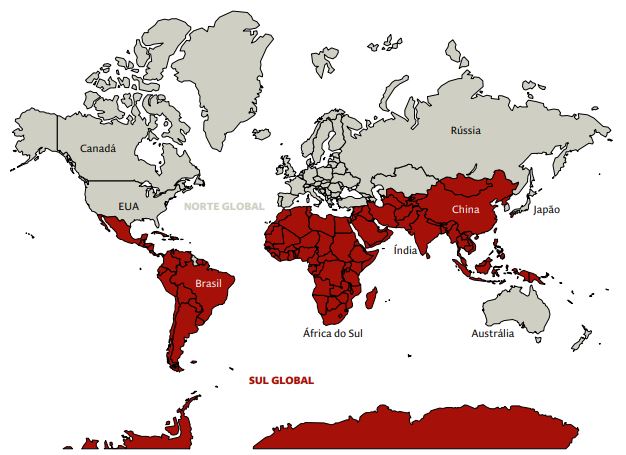Os dois países têm uma relação baseada em valores, interesses e na culpa pelo Holocausto
Quando o dia 29 de novembro de 1947 amanheceu e começou a contagem decrescente para a votação, na Assembleia-Geral das Nações Unidas, do plano de partilha da Palestina num Estado judeu e noutro árabe, os judeus não tinham a certeza de que o escrutínio estivesse ganho. Para que o sonho se tornasse realidade, dois terços dos 57 membros da organização — dez deles países muçulmanos — teriam de dizer “sim”.
Nos dias prévios à votação, parte da estratégia da Agência Judaica — uma espécie de Governo oficioso dos judeus da Palestina — passou por identificar países indecisos ou contrários à sua pretensão e exercer a pressão possível, de forma direta ou via terceiros. Um dos alvos foi a Libéria, dos poucos Estados africanos independentes, que era hostil à divisão da Palestina.
A Libéria era quase propriedade da Firestone, a fabricante de pneus criada em 1900, em Nashville, Tennessee, que ali possuía 400 mil hectares de plantações de árvores de borracha. Pressionado pela Casa Branca, o diretor Harvey Firestone fez saber ao Presidente da Libéria, William Tubman, que um voto contra o Estado judeu faria perigar futuros investimentos. A Libéria trocou o voto e contribuiu para a maioria de 33 países que viabilizou o nascimento de Israel.
Compensar sobreviventes
O Presidente dos Estados Unidos era Harry Truman, um dos líderes aliados que participaram na Conferência de Potsdam (Alemanha) sobre o pós-guerra, dois anos antes. “Vi alguns lugares onde os judeus foram massacrados pelos nazis. Seis milhões de judeus foram mortos: homens, mulheres e crianças. É minha esperança que tenham uma casa onde possam viver”, afirmou.
Truman era a voz do sentimento de culpa partilhado por muitos americanos relativamente ao Holocausto e à inação internacional que permitiu todo aquele horror. Uma forma de compensar os sobreviventes era dar-lhes um Estado na terra com que sonhavam. Quando, a 14 de maio de 1948, os judeus declararam a independência do Estado de Israel, os Estados Unidos reconheceram-na no próprio dia.
Passados mais de 75 anos, a solidez da relação entre Israel e os Estados Unidos ficou provada na visita-relâmpago que Joe Biden realizou a Israel, a 18 de outubro, 11 dias após o bárbaro ataque do Hamas. Biden e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, estão longe de se admirarem. Quando foi eleito, o americano demorou a telefonar ao israelita, no que foi entendido como uma manifestação de distanciamento. Mas em contexto de crise — como o 7 de outubro —, é indiferente quem está no poder em Washington ou Telavive para a aliança se impor.
“O apoio, em 1947, ao estabelecimento de Israel, pelos Estados Unidos e também pela União Soviética e pela maioria dos membros da ONU, teve que ver com o Holocausto, embora essa não tenha sido a única razão”, diz ao Expresso Natan Sachs, diretor do Centro para Política do Médio Oriente do Brookings Institution. “Esta é uma relação de longa data, que tem que ver com um sentimento de valores partilhados em torno da democracia e de ameaças do terrorismo, sobretudo depois do 11 de Setembro. Há também uma afinidade generalizada com a ideia de Israel como país de refugiados que ali constroem uma vida nova. A narrativa em si tem grande influência no imaginário americano.”
Segundo a Agência Judaica, em 2023 havia 15,7 milhões de judeus em todo o mundo. A esmagadora maioria vivia em Israel (7,2 milhões) e nos Estados Unidos (6,3 milhões). As sondagens dizem que cerca de 75% dos judeus americanos votam no Partido Democrata e que a maioria defende dois Estados.
A máscara de Netanyahu
Domingo passado, dois dias após conversar com Biden, ao telefone, e de o ter ouvido defender “uma solução de dois Estados com a segurança de Israel garantida”, Netanyahu deixou cair a máscara. “Não vou comprometer o controlo total da segurança israelita sobre todo o território a oeste da Jordânia [Cisjordânia e Faixa de Gaza incluídas]. E isto contraria um Estado palestiniano”, escreveu na rede social X.
“Não creio que a Administração Biden tenha sido equívoca quanto ao seu apoio a esse tipo de horizonte político [dois Estados]. A questão é mais como lá chegar. Neste momento, as condições entre israelitas e palestinianos são tais que esta é uma possibilidade muito distante”, acrescenta Sachs.
À semelhança do eleitorado, “a maioria dos líderes democratas desde o Presidente Clinton disse apoiar os dois Estados”, diz ao Expresso Joel Beinin, professor emérito de História do Médio Oriente, na Universidade de Stanford (Califórnia). “Exceto Clinton, que fez muito pouco e demasiado tarde, nenhum fez por que isso acontecesse. Biden também não. Numa eleição acirrada como a deste ano, não arriscará perder um voto por causa disso”. A seu ver, “enquanto Netanyahu for primeiro-ministro, desafiará Biden nesta questão, e Biden terá medo de parecer fraco”.
A proteção do veto
Beinin diz que Israel é um parceiro especial dos Estados Unidos também pelo seu papel “na manutenção da hegemonia imperial americana, não apenas no Médio Oriente, mas a nível global”. Ainda que, nos últimos anos, a Casa Branca tenha escolhido o Pacífico como prioridade estratégica, Israel não é percecionado em Washington como um fardo. “Enquanto os Estados Unidos puderem contar com Israel no Médio Oriente, será mais fácil mudar para o Pacífico.”
Ao longo dos anos, a influência dos Estados Unidos sobre Israel tem-se feito de múltiplas formas. Nos anos 90, exerceu-se, em especial, através de ajudas financeiras, sob a forma de garantias de empréstimos. Hoje, diz Sachs, já não há tanto dinheiro envolvido. “Os Estados Unidos fornecem uma grande quantidade de ajuda militar, que é gasta nos Estados Unidos, na indústria das armas, que depois vão para Israel.”
Há ainda a cobertura que a diplomacia americana garante aos interesses israelitas na ONU. “Muitas vezes, vetaram resoluções desfavoráveis a Israel no Conselho de Segurança.” Foi o que aconteceu a 8 de dezembro, relativamente a uma resolução que apelava ao “cessar-fogo humanitário imediato” em Gaza.
A 23 de dezembro de 2016, Barack Obama rompeu com essa prática de décadas e, numa decisão que enfureceu Israel, ordenou a abstenção americana numa resolução que defendia que os colonatos israelitas na Cisjordânia são uma violação do direito internacional.
Sachs não gosta do adjetivo “incondicional” para rotular a relação privilegiada. “Há um apoio muito forte, em parte porque Israel é muito popular entre o povo americano. Se olharmos para as sondagens, mesmo agora, quando há mais críticas a Israel da esquerda e da geração mais jovem, Israel ainda é esmagadoramente popular nos Estados Unidos.”
(IMAGEM Bandeiras dos Estados Unidos e de Israel DEVIANT ART)
Artigo publicado no “Expresso”, a 26 de janeiro de 2024. Pode ser consultado aqui e aqui