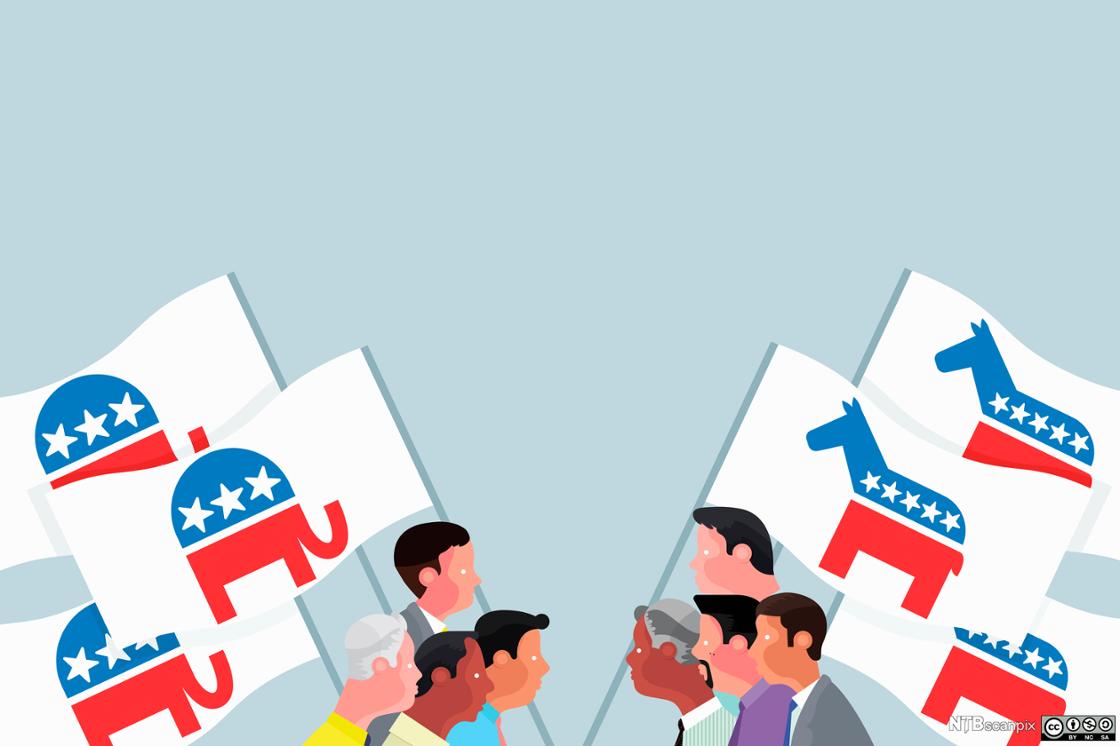O partido de Benjamin Netanyahu lidera as sondagens. Mas nem todos à direita querem que ele continue no poder
Nos últimos dois anos, Israel organizou, em média, eleições legislativas de meio em meio ano. As próximas, as quartas, realizam-se na próxima terça-feira. Uma sondagem do Instituto de Democracia de Israel indica que apenas 29% do eleitorado acreditam que o impasse político que tem originado tantos sufrágios seja, por fim, ultrapassado.
Benjamin Netanyahu, que se tem mantido ao leme do país — apesar da instabilidade política e do julgamento por corrupção — é, mais uma vez, o favorito à sua própria sucessão. O primeiro-ministro pôs o país nas bocas do mundo pela rapidez com que levou à prática o processo de vacinação contra a covid-19 e espera capitalizar com isso.
“Não creio que as eleições sejam um referendo à atuação de Netanyahu perante a pandemia. A eficácia da vacinação tem sido apontada como um sucesso. Eu argumentaria ainda que o bloqueio de Israel à vacinação dos palestinianos nos territórios ocupados tem servido para captar mais alguns votos. Nesse sentido, Netanyahu tem sido bem-sucedido, ao passar a ideia de que Israel não é responsável pela administração da vacina a esta população, mesmo que esta decisão possa comprometer a imunidade de grupo, considerando a circulação diária de trabalhadores palestinianos”, diz ao Expresso Marta Silva, investigadora na área dos estudos da sociedade israelita.
Porém, “a instabilidade na liderança política dos últimos anos deve-se à sua incapacidade em resolver problemas estruturais que afetam os israelitas no dia a dia e que poderão ter mais peso na hora do voto: o aumento do custo de vida e o desemprego. Estes problemas têm-se acentuado com a adoção de um programa cada vez mais neoliberal e com a privatização de vários serviços públicos”.
Direita maioritária
As sondagens dizem que o partido de Netanyahu (Likud, direita) continuará a ser o mais votado entre as 39 formações em que os 6.578.084 eleitores poderão votar. Mas num país onde, desde a independência, os Governos sempre foram de coligação, uma vitória eleitoral só será real se levar esse partido à formação de um Executivo apoiado por pelo menos 61 deputados dos 120 que compõem o Parlamento (Knesset).
O conjunto dos partidos à direita (que inclui a direita tradicional, a nacionalista, a extrema-direita e os religiosos ultraortodoxos) tem garantida uma maioria de votos confortável, mas nem todos aceitam que Netanyahu continue a mandar no país. É o caso do partido Yisrael Beiteinu (nacionalista secular), que não aceita a colagem de Netanyahu às formações religiosas, e também do partido que é a novidade destas eleições: o Nova Esperança, que resulta de uma cisão no seio do Likud e foi fundado, em dezembro passado, por Gideon Sa’ar, antigo ministro de Netanyahu.
O espetro político é dinâmico e reinventa-se a cada eleição. A novidade, desta vez, é uma cisão no Likud
Em Israel, o espetro político é dinâmico e reinventa-se a cada eleição. No escrutínio de 9 de abril de 2019, o primeiro desta série de quatro, a novidade foi a coligação Azul e Branco (centro), nascida mês e meio antes para combater Netanyahu. Acabou engolida pelo jogo deste último e foi crucial na viabilização do seu último Governo. Pagou um preço por isso: viu dois dos três partidos que a constituíam abandonarem o projeto e caiu a pique nas sondagens, que não lhe dão mais de quatro deputados.
Aos 71 anos, Netanyahu é o israelita que mais tempo serviu como primeiro-ministro. Apesar do desgaste — patente nas dissidências dentro do seu Likud —, não dá mostras de querer abandonar o palco.
“Netanyahu não sente pudor em liderar coligações com partidos de extrema-direita, ortodoxos e religiosos, alguns deles com mensagens perigosas e até abertamente racistas, com uma postura agressiva em relação à expansão dos colonatos e defensores de uma presença maior da religião na vida pública e política”, comenta Marta Silva.
Por outro lado, o governante é mestre na arte de “identificar ameaças externas e internas de cada vez que enfrenta o escrutínio político ou necessita de lidar com problemas domésticos. Sabe manipular os receios de grande parte da população, nomeadamente no que toca ao eleitorado palestiniano em Israel”, que é 20% da população.
“Sabe que partidos árabes-israelitas nunca foram convidados a integrar uma coligação, apesar de serem uma alternativa moderada e secular aos ultraortodoxos. Este elemento psicológico de sempre encontrar um bode expiatório para mascarar os problemas que não consegue resolver tem-no ajudado a manter-se no poder”, conclui a académica.
(FOTO Benjamin Netanyahu, no Fórum Económico Mundial de Davos, a 25 de janeiro de 2018 FLICKR DO WORLD ECONOMIC FORUM)
Artigo publicado no “Expresso”, a 19 de março de 2021. Pode ser consultado aqui