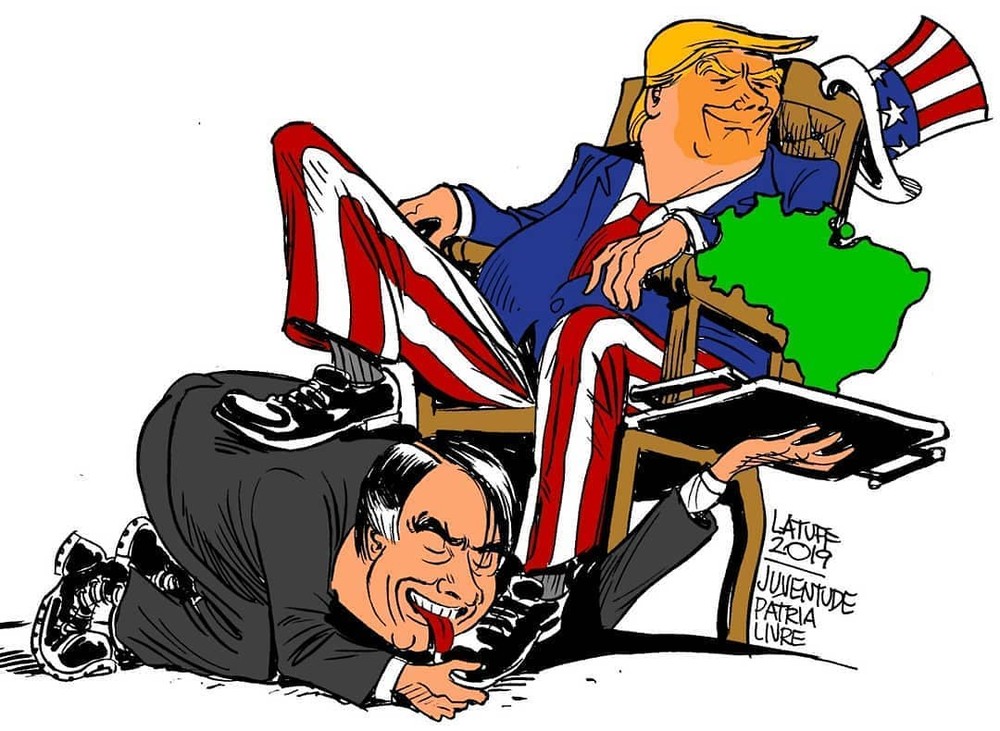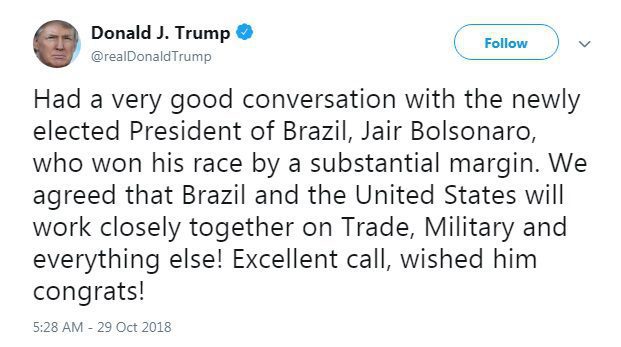Donald Trump cumpre, na madrugada desta quarta-feira, uma tradição com mais de 200 anos e faz o seu terceiro discurso sobre o Estado da União. Dos 45 Presidentes norte-americanos, só dois nunca o fizeram. O recorde do discurso mais longo pertence a um dos cinco estadistas ainda vivos

O discurso sobre o Estado da União que Donald Trump irá proferir esta terça-feira à noite (2h de quarta em Portugal Continental), perante o Congresso dos Estados Unidos, é uma prática quase tão antiga quanto a própria federação norte-americana. Foi George Washington (Presidente entre 1789 e 1797) quem, a 8 de janeiro de 1790 — tinha o país apenas 14 anos —, primeiro se dirigiu a uma sessão conjunta do Congresso. “Caros cidadãos do Senado e Câmara dos Representantes”, assim iniciou ele a sua alocução, dando o mote para uma tradição política que só em 1947 — quando começou a ser transmitido pela televisão — passaria a ser oficialmente designada “Estado da União”.
Três anos antes, em 1787, “o povo dos Estados Unidos” dotara-se de uma Constituição, a qual, no seu artigo II, enumerava as obrigações do Presidente. “Ele deve de tempos a tempos dar ao Congresso informação sobre o Estado da União, e pôr à sua consideração medidas que considere necessárias e convenientes”, era uma delas.
Assim apressou-se a fazer George Washington, no Federal Hall, na cidade de Nova Iorque. À época, Washington D.C. ainda não existia, a Casa Branca só começaria a ser construída em 1792 e a primeira sessão conjunta no atual Capitólio só ocorreria a 11 de novembro de 1800. Neste dia, John Adams (1797-1801) entraria para a História como o primeiro Presidente norte-americano a discursar na atual capital.
A George Washington deve-se também o caráter anual desta intervenção, ainda que nem todos os seus sucessores se tenham dignado comparecer pessoalmente no Congresso. Se os dois primeiros Presidentes fizeram-no — George Washington, de forma generosa, com uma média de 2080 palavras por discurso e John Adams, mais comedido, com apenas 1790 (a mais baixa de sempre) —, os chefes de Estado seguintes optaram por enviar mensagens escritas.
Entre 1801 e 1913 — período em que a Casa Branca teve 25 inquilinos —, a mensagem chegou ao Congresso de forma escrita. A Thomas Jefferson (1801-1809), em particular, incomodava-o a semelhança entre a aparição do Presidente diante dos representantes do povo, no início de cada sessão, e a prática monárquica dos britânicos, que discursavam a cada novo Parlamento. Por isso, optou por não discursar “in loco”.
A tradição do discurso presencial foi recuperada em 1913 por Woodrow Wilson — que faltaria em 1919 e 1920 por razões de saúde. Ao longo dos anos, essa passaria a ser a fórmula preferencial dos Presidentes, ainda que, de forma intermitente, mensagens escritas continuassem a chegar ao Congresso — a última das quais em 1981, com Jimmy Carter a submeter um discurso quatro dias antes de Ronald Reagan lhe suceder no cargo.
O formato atual estabilizou a partir de 1934, com Franklin Delano Roosevelt (1933-1945). Mas no total, desde 1790, já foram feitos mais discursos por escrito do que oralmente: 130 contra 102.
Se John Adams foi o Presidente mais sucinto, já William Howard Taft (1909-1913) foi o mais palavroso, com uma média de 22.614 palavras por texto. A esta discrepância não será alheio o facto de o primeiro ter sempre discursado de viva voz e o segundo ter sempre enviado mensagens escritas.
Individualmente, o discurso mais curto foi o primeiro, de George Washington, em 1790, com um total de 1089 palavras. O mais longo foi feito em 1995, por Bill Clinton (1993-2001), com 9190. Já a comunicação escrita mais comprida foi a de 1981, assinada por Jimmy Carter, totalizando 33.667 palavras.
Entre aqueles que sempre optaram pelo discurso presencial, Bill Clinton foi quem mais falou, com uma média de 7426 palavras em oito discursos — superior à do tribuno Barack Obama (2009-2017) com uma média de 6824 palavras em igual quantidade de alocuções.
Ainda no capítulo das curiosidades, desde 1964, o discurso que mais tempo demorou a ser lido — exatamente 1h 28m 49s — foi o último proferido por Bill Clinton, a 27 de janeiro de 2000. Em muito menos tempo — 47m 49s —, George W. Bush (2001-2009) ‘despachou’ uma das intervenções mais importantes dos últimos anos. A 29 de janeiro de 2002 — três meses após o 11 de Setembro —, traçou o “eixo do mal” (Irão, Iraque e Coreia do Norte) que haveria de orientar a guerra ao terrorismo internacional que se seguiria.
Vencedor das eleições presidenciais em 1932, 1936, 1940 e 1944, Franklin D. Roosevelt foi quem mais vezes se dirigiu presencialmente ao Congresso. Fe-lo por 10 vezes em 12 possíveis: em 1944, adoentado, falou aos microfones desde a Casa Branca e em 1945 dirigiu-se por escrito, três meses antes de morrer. Em contraponto, dois Presidentes nunca fizeram qualquer discurso no Congresso: William Henry Harrison (1841) morreu de pneumonia exatamente um mês após tomar posse como 9º Presidente e James Garfield (1881) foi assassinado seis meses após iniciar funções.
Pouco dado à História e a tradições, Donald Trump já discursou por duas vezes, repetindo, em ambas, uma nuance inédita: “Sr. Presidente [do Congresso], Sr. Vice-presidente, Membros do Congresso, Primeira Dama dos Estados Unidos, meus caros americanos”. Nunca antes, naquele contexto, um Presidente tinha distinguido a mulher.
Esta madrugada, Trump cumprirá a tradição pela terceira vez. Inicialmente previsto para 29 de janeiro último, o discurso foi cancelado por Nancy Pelosi, a democrata que preside ao Congresso, dada a persistência do “shutdown” — o mais longo encerramento parcial do Governo federal de sempre —, provocado por um braço de ferro entre Presidente e Congresso a propósito do financiamento do muro junto à fronteira com o México. O convite foi reendereçado após Trump aceitar reabrir o Governo — só até 15 de fevereiro.
Artigo publicado no “Expresso Diário”, a 5 de fevereiro de 2019. Pode ser consultado aqui