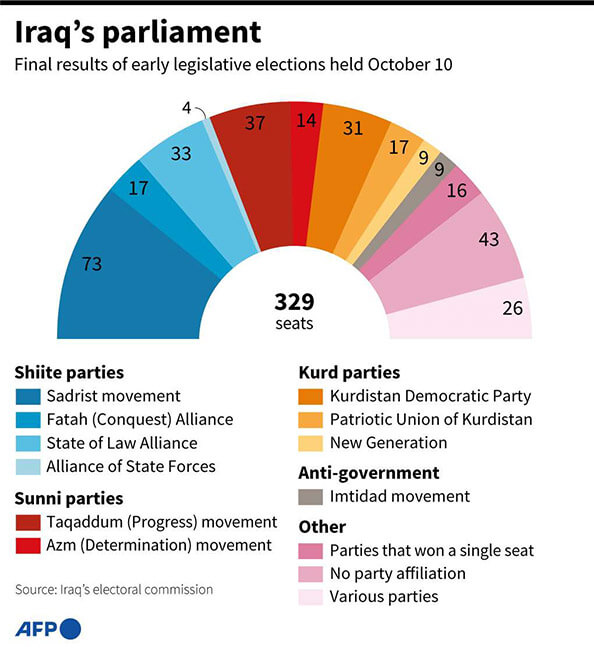Em três meses, o conflito na Faixa de Gaza assumiu uma dimensão regional, com vários Estados a envolverem-se em trocas de fogo. A Palestina é o argumento útil, mas vários países atacam no interesse de agendas próprias

A ofensiva de Israel na Faixa de Gaza destapou o vespeiro da conflitualidade no Médio Oriente. Desde o início da guerra, a 7 de outubro, nove Estados da região já dispararam contra vizinhos. Se países como o Líbano e a Síria têm uma grande exposição ao problema israelo-palestiniano, atores internos no Iraque e no Iémen parecem agir por controlo remoto.
O Irão saiu da sombra e passou a protagonista, bombardeando três países, um deles o Paquistão, uma potência nuclear. A Turquia confirmou que mantém o foco na questão curda. E até a discreta Jordânia alvejou um vizinho.
Israel ➨ Faixa de Gaza
O ataque terrorista do Hamas a Israel, a 7 de outubro, entrou para a memória coletiva do povo judeu como uma espécie de 11 de Setembro, pela sua surpresa, dimensão, impacto emocional e pela vulnerabilidade que evidenciou um país reconhecido pela eficácia dos seus serviços de informação.
Israel retaliou contra a Faixa de Gaza, o território palestiniano controlado pelo grupo islamita, inicialmente com bombardeamentos aéreos posteriormente combinados com uma ofensiva terrestre. No próprio dia do ataque, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse à nação que Israel não parará até “destruir as capacidades do Hamas”.
Faixa de Gaza ➨ Israel
Desencadeada a resposta militar de Israel, o disparo de foguetes desde Gaza não cessou. Na terça-feira passada, o Hamas disparou 25 rockets contra território israelita a partir do norte do território palestiniano, que tem sido o foco principal da intervenção militar.
Ainda que a maioria dos foguetes tenham sido intercetados pelo Iron Dome, o escudo defensivo de Israel, ou caído em descampados, o seu disparo revela capacidade desafiante do Hamas e é, para as comunidades israelitas próximas da fronteira, um reviver permanente do terror vivido a 7 de outubro.
Líbano ➨ Israel
Mal começou a guerra em Gaza, a fronteira norte de Israel tornou-se numa frente de conflito, com troca de fogo de parte a parte e vítimas mortais ocasionais dos dois lados. O sul do Líbano é um bastião do Hezbollah, uma milícia xiita (e também partido político, com deputados e ministros) cujo nascimento está intrinsecamente ligado à invasão israelita do sul do Líbano, em 1982, e subsequente ocupação, até ao ano 2000.
A luta contra a ocupação israelita da Palestina e também contra a presença militar dos Estados Unidos no Médio Oriente são prioridades para o Hezbollah. Os ataques ao longo da fronteira com Israel são, por isso, frequentes, mas com a guerra em Gaza tornaram-se diários e mais intensos.
Israel ➨ Líbano
Para Israel, a sua fronteira norte é um local de tensão permanente desde que se retirou do sul do Líbano. Desde 7 de outubro, as forças israelitas têm não só alvejado posições do Hezbollah como também já atacaram nos subúrbios de Beirute, para eliminar um alto responsável do Hamas.
Este estado de guerra forçou a transferência de milhares de habitantes do norte de Israel para locais mais seguros.
Na fronteira entre Israel e Líbano, que foi demarcada pela ONU (Linha Azul), existe, desde 1978, uma missão de capacetes azuis (UNIFIL), que não tem, porém, dissuadido a troca de fogo de parte a parte.
Israel ➨ Síria
Os ataques israelitas em território sírio não são inéditos e, desde 7 de outubro, já ocorreram por diversas vezes, visando, entre outros, o Aeroporto Internacional de Damasco.
Os alvos de Israel, para além de posições do exército sírio, são prioritariamente grupos armados apoiados pelo Irão e combatentes do Hezbollah libanês, que foram cruciais para a sobrevivência política do Presidente Bashar al-Assad, após os protestos da Primavera Árabe e a guerra civil que se lhe seguiu.
A Síria mantém com Israel uma disputa territorial em torno dos Montes Golã, que Israel ocupou na guerra de 1967, anexou através de uma lei de 1981, mas que os sírios continuam a reivindicar.
Iémen ➨ Israel
No Iémen quem manda são os hutis, um grupo que conquistou o poder pela força em 2014, mas que não é reconhecido como um interlocutor legítimo pela comunidade internacional.
Estes rebeldes iemenitas, que controlam a costa ocidental do país, declararam apoio aos palestinianos e mostraram-no ameaçando navios em trânsito pelo Mar Vermelho com origem ou a caminho de portos em Israel.
Em retaliação ao assédio dos hutis às embarcações que percorrem esta via marítima, por onde passa 12% do comércio mundial, forças dos Estados Unidos e, por uma vez, também do Reino Unido já bombardearam posições dos hutis dentro do Iémen.
Irão ➨ Iraque
A 3 de janeiro, um duplo atentado suicida reivindicado pelo Daesh, na cidade iraniana de Kerman, provocou 94 mortos. O Irão retaliou esta semana e um dos alvos foi Erbil, na região autónoma do Curdistão iraquiano (norte), onde Teerão disparou 11 mísseis balísticos contra o que diz ser um centro de espionagem da Mossad (serviços secretos de Israel).
O Iraque, cuja população é maioritariamente xiita, como o Irão, ainda alberga tropas norte-americanas que ali ficaram após ajudarem no combate ao Daesh. Não raras vezes, os militares dos EUA investem contra milícias locais ligadas ao Irão e são eles próprios um alvo das mesmas, como tem acontecido desde 7 de outubro.
Esta semana, o primeiro-ministro do Iraque defendeu a saída das tropas norte-americanas do país.
Irão ➨ Síria
Paralelamente ao ataque na região iraquiana de Erbil, os Guardas da Revolução Islâmica, uma unidade de elite das Forças Armadas iranianas, atacaram também dentro da Síria, com a qual o Irão não tem fronteira.
Quatro mísseis balísticos foram lançados desde a província de Khuzestan, a oeste do Irão, na direção de posições do Daesh em Idlib, numa resposta direta aos atentados em Kerman.
Nesta região do noroeste da Síria, persiste ainda um foco rebelde de contestação ao regime sírio, que é apoiado pelo Irão. Neste ataque, noticiou a agência iraniana IRNA, Teerão disparou “nove mísseis de vários tipos” contra “grupos terroristas em diferentes áreas dos territórios ocupados na Síria”.
Turquia ➨ Iraque
O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, tem sido dos líderes mais vocais contra o primeiro-ministro de Israel, ao ponto de já ter dito que Benjamin Netanyahu “não é diferente de Hitler”. Mas paralelamente ao seu apoio à Palestina, há uma questão maior no posicionamento da Turquia na região: o independentismo curdo.
Dentro de portas, os curdos são uma ameaça separatista que Ancara tenta combater também nos países da vizinhança onde vivem minorias curdas.
No sábado passado, caças turcos alvejaram posições no Curdistão iraquiano (norte), onde a Turquia tem várias bases militares. Na véspera, um ataque a uma dessas bases atribuído ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla inglesa) provocou nove mortos entre os militares turcos.
Turquia ➨ Síria
Os curdos foram o alvo de bombardeamentos turcos também na Síria, dentro do mesmo espírito que levou Ancara a atacar no Curdistão iraquiano.
Segundo o Ministério da Defesa da Turquia, foi alvejado um total de 29 localizações — incluindo “cavernas, bunkers, abrigos e instalações petrolíferas” — associadas ao PKK e às Unidades de Proteção Popular (YPG, na sigla inglesa). Esta organização armada da região do Curdistão sírio teve um papel central na coligação liderada pelos EUA que derrotou o Daesh na Síria.
Dos quatro países do Médio Oriente que têm populações curdas — Turquia, Síria, Iraque e Irão —, a Síria é a que tem a minoria mais pequena.
Irão ➨ Paquistão
No dia seguinte a ter atacado no Iraque e na Síria, o Irão bombardeou também o Paquistão. Os dois países partilham uma fronteira de 900 quilómetros e um inimigo comum: os separatistas do Balochistão, uma região rica em gás e minérios, atravessada pela fronteira entre ambos.
Na terça-feira, o Irão usou drones e mísseis para alvejar posições do Jaish al-Adl, um grupo sunita composto por baloches envolvido em ataques dentro do Irão, numa área remota e montanhosa dessa região separatista. Morreram duas crianças e três civis ficaram feridos.
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Hossein Amir-Abdollahian, esclareceu que os alvos dos bombardeamentos não foram paquistaneses, mas “terroristas iranianos presentes em solo paquistanês”. A 15 de dezembro, 11 polícias iranianos tinham sido mortos num ataque a uma esquadra, perto da fronteira com o Paquistão.
Paquistão ➨ Irão
Islamabade respondeu ao ataque do Irão mandando chamar o seu embaixador em Teerão e disparando mísseis contra a província iraniana de Sistão e Balochistão. O bombardeamento, que teve como alvo outro grupo separatista — a Frente de Libertação Baloche —, provocou nove mortos (nenhum tinha nacionalidade iraniana).
Os ataques entre estes dois países originaram posições de condenação de parte a parte e acusações de violação da soberania, mas a relação não congelou.
No mesmo dia em que o Irão atacou o Paquistão, os dois países realizaram um exercício naval com navios de guerra, no Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico. E no dia seguinte (véspera da retaliação do Paquistão), os dois ministros dos Negócios Estrangeiros deitaram água na fervura e conversaram ao telefone.
Esta sexta-feira, o Governo paquistanês anunciou que o seu país e o Irão concordaram em diminuir as tensões após a troca de violentos ataques esta semana.
“Os dois ministros dos Negócios Estrangeiros concordaram que a cooperação e a coordenação no combate ao terrorismo e outras áreas de interesse comum devem ser reforçadas”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, no final de uma chamada telefónica entre os dois governantes.
Jordânia ➨ Síria
Não foram razões políticas que estiveram na origem de bombardeamentos atribuídos à Jordânia em território sírio, mas, ao estilo de uma guerra sem regras, entre os dez mortos que o ataque provocou havia crianças.
O alvo, na quinta-feira, foi a província de Sweida, no sudoeste da Síria, uma zona não muito distante da fronteira com a Jordânia. Terá sido um esforço para atingir o tráfico de drogas — nomeadamente da anfetamina Captagon, usada pelos terroristas do Daesh para facilitar a matança — e perturbar o seu fluxo para dentro do reino hachemita.
As autoridades de Amã não se pronunciaram sobre o caso, mas é conhecido que, no passado, o país já recorreu a ataques desta natureza para atingir grupos dedicados ao narcotráfico, bem organizados e armados.
No ano passado, o Governo do Reino Unido defendeu que o Captagon é uma “tábua de salvação financeira” para a máquina de guerra do regime sírio.
Artigo publicado no “Expresso Online”, a 19 de janeiro de 2024. Pode ser consultado aqui