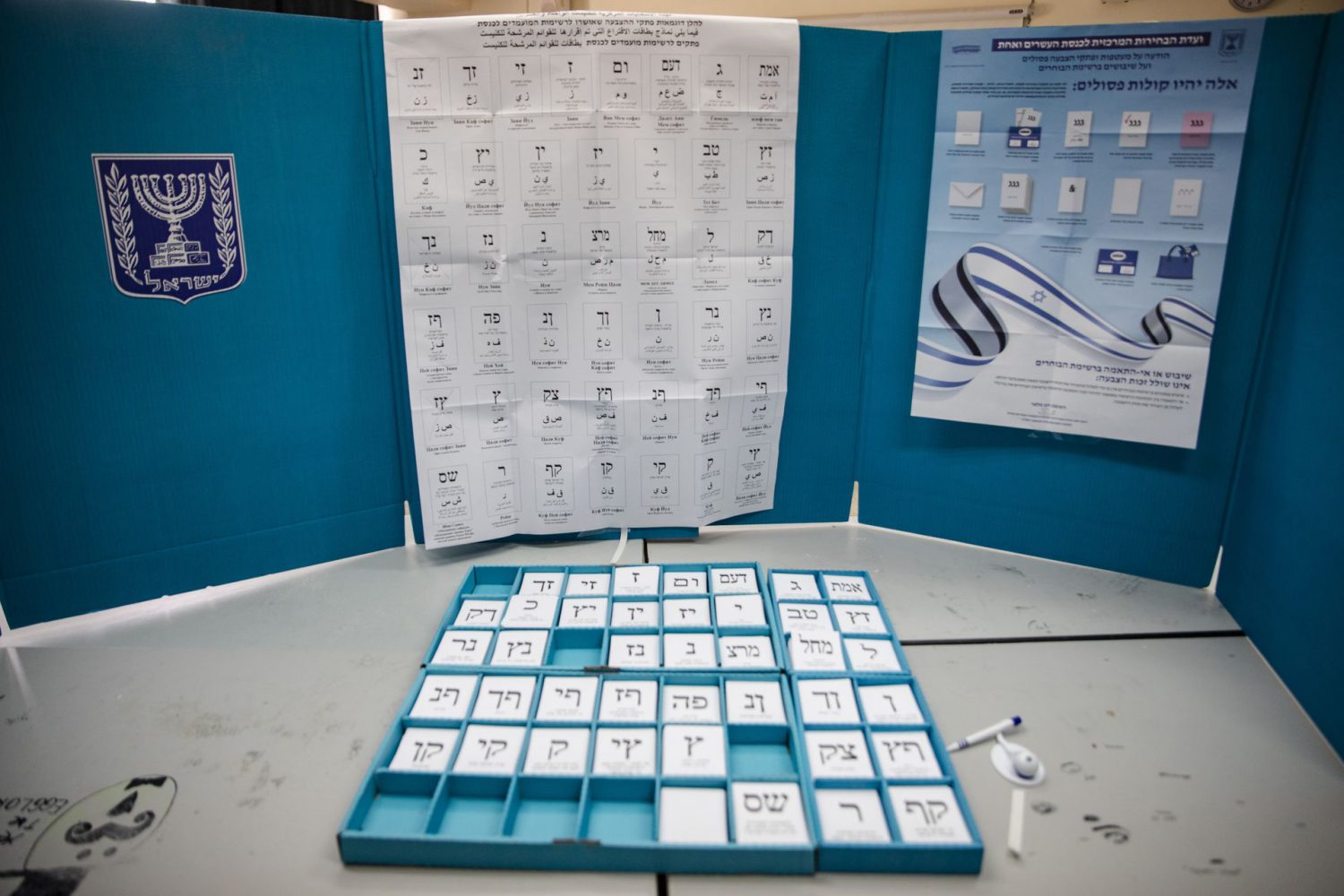Há 25 anos, o judeu Baruch Goldstein matou muito mais do que 29 palestinianos. O que então aconteceu “mudou drasticamente o cenário de uma perspetiva de paz — ainda que ilusória — entre palestinianos e israelitas”. Ou, como disse ao Expresso outro analista, o seu legado é “um míssil contra o processo de paz”
Hebron é uma cidade palestiniana onde ir à escola exige das crianças cada vez mais coragem. No centro daquela que é uma das cidades mais antigas do mundo — há várias referências a Hebron na Bíblia — vivem colonos judeus radicais que, não raras vezes, tentam intimidar os jovens insultando-os e levantando obstáculos à sua passagem a caminho da escola.
Até há cerca de um mês, nalgumas zonas mais sensíveis, nos percursos entre casa e escola os estudantes eram escoltados por observadores internacionais de duas organizações — a Presença Internacional Temporária em Hebron (TIPH) e o Programa de Acompanhamento Ecuménico na Palestina e Israel (EAPPI). Lado a lado com as crianças, os voluntários funcionavam como ‘escudos humanos’ perante o assédio dos colonos.
A 28 de janeiro último, o primeiro-ministro de Israel disse que não renovaria o mandato da TIPH, no terreno desde 1997. “Não vamos permitir a presença continuada de uma força internacional que age contra nós”, disse Benjamin Netanyahu. Invocando “questões de segurança”, também a EAPPI debandou da cidade, alegando sentir-se alvo de uma campanha de assédio por parte do grupo sionista de extrema-direita Im Tirtzu.
Para preencher esse vazio, ativistas da organização local Juventude Contra os Colonatos (YAS, na sigla inglesa) passaram a assegurar essas escoltas e a responder a situações de emergência. Recentemente, estes “Observadores dos Direitos Humanos”, como se intitulam, foram chamados a casa de uma família palestiniana que viu soldados israelitas entrarem pelo telhado para levar o filho de 13 anos, a quem acusavam de ter atirado pedras. Frequentemente confrontados na rua pelos colonos, estes “coletes azuis” têm nas câmaras de vídeo uma “arma”, com as quais registam tudo aquilo que — dizem — Israel não quer que se veja.
A necessidade de observadores internacionais em Hebron decorre de uma chacina que ocorreu faz esta segunda-feira precisamente 25 anos e que entrou para a História como o pior ataque terrorista levado a cabo por judeus.
A 25 de fevereiro de 1994 — era sexta-feira e os muçulmanos cumpriam o mês do Ramadão (jejum) —, a Mesquita de Ibrahim (Abraão), no centro histórico de Hebron, encheu-se para a oração da manhã. Envergando uniforme militar, Baruch Goldstein, um judeu ortodoxo de 37 anos, nascido em Nova Iorque (EUA) e residente no colonato de Kiryat Arba, nos arredores da cidade, entrou no templo e disparou sobre os fieis: matou 29 e feriu outros 125. Morreu no local, espancado por sobreviventes.
“O que aconteceu naquele dia mudou drasticamente o cenário de uma perspetiva de paz — ainda que ilusória — entre palestinianos e israelitas”, comenta ao Expresso Giulia Daniele, investigadora no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE (Lisboa). “Embora o início da segunda Intifada seja, formalmente, o ano 2000, este massacre marcou o início do rápido aumento da violência que fez jorrar muito sangue na Palestina.”
A matança de Goldstein aconteceu escassos cinco meses após a assinatura do Acordo de Oslo, nos jardins da Casa Branca, em Washington D.C. (EUA), selado com um histórico aperto de mão entre Itzhak Rabin (primeiro-ministro de Israel) e Yasser Arafat (líder palestiniano). Era o primeiro sintoma de que o processo de paz não era consensual. A machadada final não tardaria: a 4 de novembro de 1995, Itzhak Rabin, um dos protagonistas de Oslo, era assassinado em Telavive por um judeu ortodoxo.
“Desde o início, o Acordo de Oslo suscitou uma oposição frontal por parte dos sectores radicais tanto no campo israelita como no palestiniano. Ambos tentaram fazê-lo fracassar a qualquer preço”, explica ao Expresso Ignacio Álvarez-Ossorio, professor na Universidade de Alicante (Espanha). “No caso israelita, o Likud [partido de direita, atualmente liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu] e os grupos de colonos tiveram um papel central nesta tarefa. Tanto Goldstein, o autor do massacre de Hebron, como Yigal Amir, o assassino de Rabin, eram colonos que consideravam os territórios palestinianos parte da Terra Prometida ao ‘povo eleito’.”
Para os judeus, o Túmulo dos Patriarcas — que abriga os mausoléus dos patriarcas e das matriarcas do judaísmo, incluindo Abraão, que está na origem das três religiões monoteístas — é o segundo local mais sagrado, a seguir ao Muro das Lamentações, em Jerusalém. Para muitos muçulmanos, a importância da Mesquita de Ibrahim, situada no mesmo local do Túmulo dos Patriarcas, só é superada pelas cidades santas de Meca, Medina e Jerusalém. No interior, há espaços de oração separados para as duas sensibilidades religiosas. No exterior, quem controla o acesso é Israel.
“Dado o seu significado religioso e histórico”, alerta Giulia Daniele, “Hebron sempre foi uma fortaleza do extremismo ultraortodoxo e dos colonos, com a presença de grupos como Gush Emunim, Kach e Kahane Chai.” Para os judeus mais radicais, outro local de peregrinação na cidade é a sepultura de Baruch Goldstein, em Kiryat Arba, onde vivia. Neste colonato, um dos mais violentos e racistas, vivem à volta de 8000 pessoas. Já depois do massacre de 1994, num episódio particularmente ofensivo para com os próprios judeus, colonos desta comunidade grafitaram paredes de casas palestinianas com a frase: “Árabes para as câmaras de gás.”
Situada na Cisjordânia — território palestiniano ocupado por Israel em 1967 —, a cerca de 30 km para sul de Jerusalém, Hebron é a única grande cidade palestiniana cuja soberania, pelo Acordo de Oslo, não foi totalmente transferida para a Autoridade Palestiniana (AP). O seu estatuto foi regulado pelo Protocolo de Hebron de 1997, que instituiu a partilha da cidade: 80% da área, onde viviam 200 mil pessoas, foi entregue à AP (H-1) e os restantes 20% ficaram sob controlo israelita: hoje vivem ali cerca de 40 mil palestinianos e 800 colonos judeus, estes protegidos por uma força militar em número muito superior (H-2). É também na área H-2 que fica o Túmulo dos Patriarcas.
“O Protocolo de 1997 contemplou uma divisão da cidade completamente assimétrica”, explica o professor espanhol. “Obviamente, não é um acordo equilibrado, é mais um sinal de que o processo de paz não foi entre iguais, mas entre uma parte forte (Israel) e uma parte débil (a Autoridade Palestiniana).”
Na área controlada por Israel existe hoje uma situação de “apartheid” (separação) entre árabes e judeus. A discriminação começa, desde logo, pelo ordenamento jurídico que rege a vida de uns e outros: enquanto aos palestinianos são aplicadas leis militares, os colonos obedecem ao direito civil.
Esmagadoramente maioritária, a população árabe está, porém, em queda, vergada às dificuldades quotidianas colocadas pelo ocupante: “checkpoints” que dificultam a circulação, recolheres obrigatórios, menores detidos, propriedades vandalizadas, oliveiras queimadas pelos colonos, ruas vedadas. Naquelas em que os palestinianos podem andar, há linhas pintadas no chão ou divisórias em betão a mandar uns pela esquerda e outros pela direita.
“Esta política de ‘apartheid’, mais visível na peculiaridade de Hebron evidencia de forma muito significativa o objetivo final da limpeza étnica que Israel tem vindo a conduzir desde 1948 no sentido de aumentar, cada vez mais, a população israelita nos territórios palestinianos e, por outro lado, expulsar a população indígena”, conclui Giulia Daniele. “O que está a acontecer em Hebron não é um caso isolado, há muitos outros semelhantes, mas é o caso mais emblemático da lógica de ‘apartheid’ usada por Israel para dividir e fragmentar tanto o território como a população palestinianos.”
Em Hebron, uma das ações de protesto mais persistentes pugna pela reabertura da Rua Shuhada, outrora a principal artéria comercial da cidade e hoje um espaço fantasma, símbolo maior da ocupação e da discriminação. A sua interdição aos palestinianos — que tem contribuído para a asfixia económica da cidade — é uma consequência direta do massacre de 1994.
“Em vez de serem penalizados pelo seu comportamento, os colonos obtiveram um tratamento favorável de todos os governos israelitas”, diz Ignacio Álvarez-Ossorio. “Independentemente da sua cor política, deram-lhes todo o tipo de facilidades para que continuem a colonizar o território palestiniano, apesar de essa colonização representar um míssil contra o processo de paz.”
(Foto: Capa da edição de 26 de fevereiro de 1994 do jornal norte-americano “The New York Times”, em que noticia o massacre de Hebron ARQUIVO THE NEW YORK TIMES)
Artigo publicado no “Expresso Diário”, a 25 de fevereiro de 2019. Pode ser consultado aqui