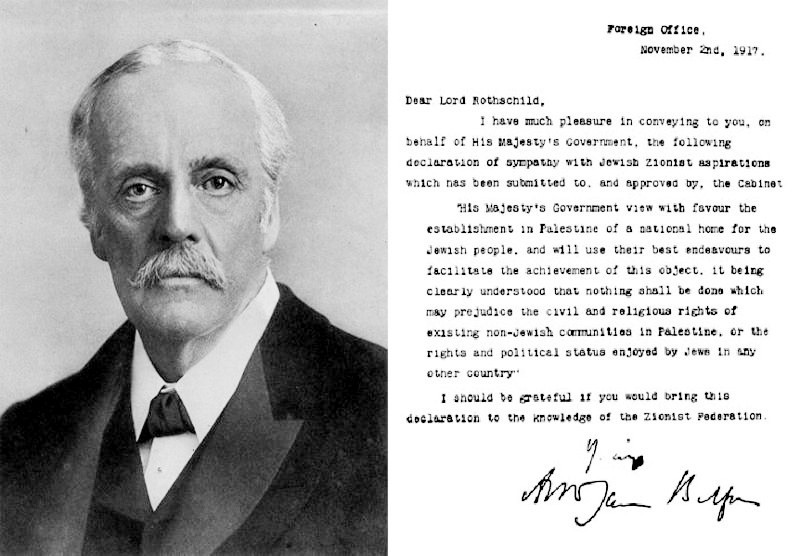Ahed Tamimi, a palestiniana de cabelos rebeldes tornada famosa após atingir à estalada um soldado israelita, vai ser presente a tribunal esta terça-feira. O seu caso revela a persistência palestiniana na luta contra a ocupação israelita e expõe a dualidade com que Israel aplica a lei nos territórios que controla consoante se trata de alguém israelita ou palestiniano

“Morte para Ahed Tamimi”, “não há lugar neste mundo para Ahed Tamimi”. Pela calada da noite, no passado dia 1 de fevereiro, paredes da aldeia palestiniana de Nabi Saleh, perto de Ramallah, no território ocupado da Cisjordânia, foram grafitadas com ameaças a uma filha da terra. Os habitantes não viram quem vandalizou a aldeia, mas têm uma suspeita: “Os colonos escreveram que Ahed deve ser morta para assustar os habitantes de Nabi Saleh”, defendeu Bassem Tamimi, pai da jovem visada, em declarações ao sítio Mondoweiss. Nas redes sociais, acrescentou, um grupo de colonos já tinha declarado que iria esperar pela libertação da rapariga no exterior da prisão de HaSharon, onde está detida, para matá-la. “Temo pela minha filha. Não só por ser palestiniana, mas porque a sua cara tornou-se tão conhecida que toda a gente sabe com exatidão quem ela é e como se parece.”
Ahed Tamimi — 17 anos feitos a 31 de janeiro — foi presa a 19 de dezembro após um vídeo em que surge a esbofetear e pontapear um soldado israelita se ter tornado viral nas redes sociais. As imagens foram captadas quatro dias antes, pela mãe da jovem, Nariman, que também está detida, acusada de “incitamento”. Não era a primeira vez que Ahed surgia de punho cerrado, ameaçando bater em militares armados até aos dentes. Esta terça-feira, será presente a um juiz para responder por aquelas estaladas e pontapés e por outras afrontas ao longo dos anos.
Ahed não é a primeira mulher palestiniana a ser detida por Israel no âmbito de protestos antiocupação. Nem tão pouco a primeira menor. Este domingo, por exemplo, foi libertada Razan Abu Sal, oriunda do campo de refugiados de Arroub, entre Belém e Hebron (Cisjordânia), condenada a 16 de janeiro a quatro meses de prisão e uma multa de 2500 shekels (580 euros) pelo arremesso de pedras. Razan tem… 13 anos. Mas várias razões contribuem para que o caso de Ahed seja especial, ao ponto de ter centrado atenções em todo o mundo como nenhum outro anteriormente.
“Ahed Tamimi tem estado, desde os oito anos de idade, na fila da frente das manifestações semanais do comité popular da sua aldeia contra a ocupação militar israelita, em geral, e contra o colonato de Halamish, em particular, que usa ilegalmente as fontes de água dos palestinianos”, explica ao Expresso Giulia Daniele, investigadora no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE (Lisboa).
Em Nabi Saleh, a revolta palestiniana contra a ocupação israelita tem um alvo específico: o colonato de Halamish, uma comunidade de judeus ortodoxos estabelecida em 1977 que não para de crescer às custas de hectares de terra confiscados aos palestinianos. Em 2009, os colonos apoderaram-se da nascente de Ein el Qaws, perto da aldeia, obrigando os habitantes a procurarem fontes alternativas para irrigar oliveiras e árvores de fruto.
As manifestações contra a ocupação ganharam então um caráter mais regular e Ahed tornou-se uma presença permanente e cada vez mais indiscreta. Em 2012, a Turquia atribuiu-lhe o Prémio Handala para a Coragem na sequência de imagens onde ela surge a confrontar militares israelitas que tinham levado preso o seu irmão. Quando foi recebê-lo, Ahed teve direito a um encontro com Recep Tayyip Erdogan, então primeiro-ministro e hoje presidente da Turquia.
Um segundo aspeto que faz de Ahed especial, diz Giulia Daniele, decorre do facto de ela pertencer à família Tamimi, um clã muito ativo na luta contra a ocupação, por força do seu impacto na aldeia onde vive. Bassem, o pai de Ahed, já foi, também ele, preso e condenado a prisão pela justiça israelita.
A farta cabeleira de Ahed — tão rebelde como ela —, os seus olhos azuis e os meios que utiliza nos protestos também contribuem para a composição do ícone. “Ela não aparenta ser uma jovem ativista palestiniana, não cai nos cânones que Israel e o Ocidente em geral atribuem às mulheres palestinianas. Como é possível que uma jovem com aquele aspeto possa lutar contra os soldados israelitas utilizando uma máquina fotográfica ou um cartão vermelho?” O recurso a câmaras fotográficas ou de filmar é frequente nas manifestações semanais antiocupação em aldeias como Bilin, Nilin ou Kafr Qaddum: visam registar o uso excessivo da força com que Israel retalia os protestos.
Giulia Daniele identifica ainda uma quarta razão para o destaque dado a Ahed: ela é a prova de que “a luta popular e não-violenta palestiniana continua, apesar da ocupação ilegal israelita se tornar, dia após dia, mais violenta e mais enraizada — parece infinita”.
Dois pesos, duas medidas
Ahed está a ser julgada num tribunal militar, tratada como uma ameaça à segurança de Israel. “Em muitos casos, os palestinianos são julgados por acusações falsas ou ficam presos sem qualquer acusação”, as chamadas “detenções administrativas”, muito frequentes. “Aos palestinianos aplica-se a lei militar, enquanto aos colonos israelitas, que ali moram ilegalmente, tal como em Jerusalém Oriental, aplica-se a lei civil”, refere Giulia Daniele. “Obviamente, tratando-se de tribunais diferentes, há também diferentes penalizações e tratamentos.”
Ahed responde por 12 acusações, algumas delas — como o arremesso de pedras e a interferência nos deveres de um soldado — relativas a episódios passados anos antes da bofetada que a pôs atrás das grades. Arrisca uma pena de prisão entre os 12 e os 14 anos. Pelo mesmo “crime” — uma bofetada a um soldado israelita —, e por cinco outras condenações (entre elas o arremesso de pedras, o ataque a um polícia israelita e conduta desordeira), Yifat Alkobi, uma colona judia de Hebron, “não foi presa uma única vez”, escreveu o diário israelita “Haaretz”, a 5 de janeiro. “A agressora [judia], que deu uma bofetada a um soldado que tentava impedi-la de atirar pedras, foi levada para interrogatório mas libertada sob fiança no mesmo dia, e autorizada a ir para casa” — impune.
A diferença de tratamento entre a palestiniana Ahed e a israelita Yifat expõe a dualidade de sistemas legais que Israel aplica nos territórios que controla, consoante o acusado é israelita ou palestiniano. No caso de Ahed, sabe-se hoje que agiu movida pela revolta, ao saber que um primo de 15 anos tinha sido alvejado na cabeça, uma hora antes, por um agente da segurança israelita. Mohammed sobreviveu, mas perdeu parte do crânio e tem a cara desfigurada.
Na perspetiva de Giulia Daniele, autora do livro “Women, Reconciliation and the Israeli-Palestinian Conflict: The Road Not Yet Taken” (Routledge, 2014), Ahed Tamimi é uma palestiniana na linha de outras mulheres carismáticas que têm contribuído para uma forma feminina de protestar no conflito israelo-palestiniano. São exemplos Hanan Ashrawi, figura central dos Acordos de Oslo e do nascimento da Autoridade Nacional Palestiniana, Amal Khreishe, líder da Sociedade das Mulheres Trabalhadoras Palestinianas para o Desenvolvimento (PWWSD) e Naila Ayesh (diretora do Centro para os Assuntos das Mulheres na Faixa de Gaza).
“Não só há uma presença feminina nestes protestos, como também uma presença histórica e crucial para a relevância do movimento nacional palestiniano na sua complexidade”, diz Giulia Daniele. “A partir da Nakba [o êxodo dos palestinianos após a criação de Israel, a que chamam “catástrofe”] em 1948, o movimento das mulheres palestinianas desempenhou um papel fundamental na luta contra os ocupantes israelitas. Na sua especificidade, elas tiveram de protestar contra uma dupla opressão: uma externa – a ocupação militar israelita – e uma interna – a própria sociedade patriarcal.”
Conclui Giulia Daniele: “Hoje, o papel das mulheres palestinianas é muito importante, sobretudo ao nível das bases, embora seja impossível falar de um único movimento, dado haver uma variedade de perspetivas e práticas políticas entre as diferentes organizações de mulheres. Há diferenças entre ativistas laicas e religiosas, entre ativistas da Faixa de Gaza e da Cisjordânia, entre as mais jovens e as mais velhas, entre as do mundo rural e as de áreas urbanas”. Todas, porém, partilham dois grandes objetivos: o fim da ocupação militar israelita e o direito à autodeterminação do povo palestiniano.
Artigo publicado no “Expresso Diário”, a 12 de fevereiro de 2018 e republicado no Expresso Online, no dia seguinte. Pode ser consultado aqui e aqui