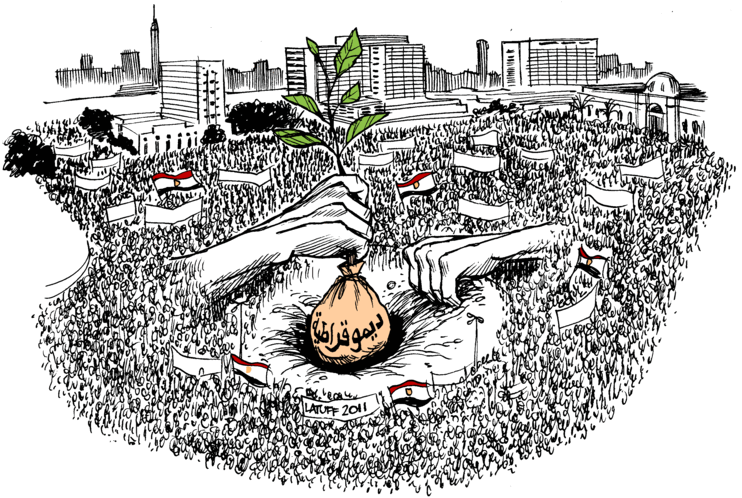A instabilidade na Tunísia, a ausência de Estado na Líbia e a tensão militar entre Marrocos e Argélia podem alimentar fluxos migratórios na direção da Península Ibérica. Ao Expresso, o diretor do programa para o Norte de África do International Crisis Group diz que “um aumento vertiginoso da imigração ilegal para Portugal não é provável para já”, mas… esta terça-feira o tema será discutido numa conferência organizada pelo Observatório do Mundo islâmico, em Lisboa
Nos últimos anos, o Mediterrâneo tornou-se um cemitério para migrantes desesperados que arriscam a vida (e em muitos casos perdem-na) em frágeis embarcações para tentar chegar às costas da Europa. Um fluxo migratório tem-se feito sentir com maior intensidade junto às fronteiras da Europa de Leste, com milhares de pessoas escondidas em florestas (onde já existem campas de migrantes que morreram ao frio) à espera de oportunidade para pôr o pé em território da União Europeia.
De forma mais discreta e menos numerosa, há cada vez mais embarcações provenientes do continente africano a lançarem-se na direção da Península Ibérica e a chegarem à costa algarvia.
“Por enquanto, o número de tentativas para chegar ao Algarve é limitado. Não é possível falar numa verdadeira rota de imigração ilegal a partir de Marrocos. Portugal já recebeu cerca de 100 migrantes provenientes de Marrocos dessa forma e parece haver um ligeiro aumento este ano comparado com 2020”, diz ao Expresso Riccardo Fabiani, diretor do programa para o Norte de África do International Crisis Group.
“Ao longo deste ano, já foi possível observar um aumento (comparativamente a 2020) de embarcações provenientes de Marrocos para Espanha. Vale a pena lembrar também que a rota do Mediterrâneo Ocidental é a segunda mais importante, depois da rota entre Líbia/Tunisia e Itália.”
Maioria dos migrantes é magrebina
Uma constatação importante para se perceber e conseguir prever a evolução deste fenómeno prende-se com o facto de a maioria dos migrantes que usam a rota do Mediterrâneo Ocidental ser magrebina. “Isso revela que a situação política e económica no Norte de África está a piorar e que esta instabilidade já tem impacto na população e nos fluxos migratórios para a Europa”, explica Fabiani, que esta terça-feira irá desenvolver o tema na conferência “Norte de África: tensões e conflitos”, organizada pelo Observatório do Mundo Islâmico e realizada na Biblioteca Arquiteto Cosmelli Sant´Anna, em Lisboa (18h30), com transmissão online aqui.
“Há várias explicações para este fenómeno. Em primeiro, a situação económica no Norte de África é cada dia mais difícil, especialmente por causa da covid-19 mas também porque a esses países falta um modelo de desenvolvimento capaz de oferecer um número suficiente de empregos, sobretudo para os jovens”, desenvolve o investigador do International Crisis Group. “Em segundo, nos últimos anos, a promessa de abertura política e democracia desapareceu.”
- TUNÍSIA: Dez anos após o movimento da Primavera Árabe, o país onde tudo começou continua sem consolidar a sua democracia e sem conseguir estabilidade. Invocando a urgência em combater a corrupção, em julho passado, o Presidente Kaïs Saïed dissolveu o Parlamento e concentrou em si os principais poderes do Estado. “A maioria da população está desiludida com a democracia, que não produziu os efeitos esperados de desenvolvimento económico e de combate à corrupção”, comenta Fabiani.
- LÍBIA: É outro país que ainda não encontrou o seu rumo após a queda do ditador Muammar Kadhafi, há dez anos. Duas autoridades políticas disputam o poder, condenando a sociedade a uma ausência de perspetivas que se arrasta. “Assistimos a um impasse político devido às divisões crescentes entre as fações líbias relativamente às eleições [legislativas e presidenciais] previstas para 24 de dezembro”, neste país rico em petróleo.
- MARROCOS: Em novembro de 2020, a Frente Polisário pôs termo a um cessar-fogo que durava há dez anos e retomou a luta armada contra Marrocos em nome da autodeterminação do território do Sara Ocidental. Este conflito contamina a relação entre Marrocos e a vizinha Argélia (que abriga milhares de refugiados sarauís). “Estas tensões militares entre Marrocos e a Frente Polisário e um risco cada dia maior de uma guerra entre Argélia e Marrocos podem alimentar nova vaga migratória”, alerta Fabiani.
“Embora um aumento vertiginoso da imigração ilegal para Portugal não seja provável para já, há uma hipótese de a desestabilização do Norte de África poder levar mais pessoas a tentar chegar a Espanha e a Portugal, e tornar a gestão da imigração ilegal nessa região muito mais complicada do ponto de vista político e logístico”, alerta Fabiani.
A estratégia de Portugal
A chegada ao Algarve de embarcações com migrantes marroquinos levou Portugal, em agosto do ano passado, a encetar conversações com Marrocos com vista à criação de uma rede de migração legal, dada a necessidade de Portugal relativamente a mão de obra estrangeira para determinadas atividades.
“O Governo português parece apostar numa estratégia preventiva face ao risco de um aumento da imigração ilegal e negocia com Marrocos um acordo para permitir a imigração legal deste país para Portugal. Parece-me uma estratégia inteligente mas também um sinal de que o problema da imigração clandestina poderia se tornar mais perigoso nos próximos anos.”
Com os migrantes a procurarem rotas alternativas para tentarem para chegar à Europa, a abordagem da União Europeia mantém-se a mesma de sempre: desembolsar milhões para conter o problema na margem sul do Mar Mediterrâneo. “A estratégia nunca mudou: a UE continua a apoiar os Estados ‘tampão’ do Norte de África para gerir os fluxos provenientes da África subsariana e para monitorizar o litoral e assim impedir tentativas de travessia para a Europa”, conclui Fabiani.
“Trata-se de uma estratégia focada na segurança e no controlo das fronteiras e que não presta muita atenção aos outros fatores por detrás deste fenómeno, como o desemprego, a instabilidade, as alterações climáticas e a falta de desenvolvimento económico.”
(FOTO Refugiados tentam atravessar o Mediterrâneo num insuflável, desde a costa da Turquia até à ilha grega de Lesbos MSTYSLAV CHERNOV / WIKIMEDIA COMMONS)
Artigo publicado no “Expresso Online”, a 30 de novembro de 2021. Pode ser consultado aqui