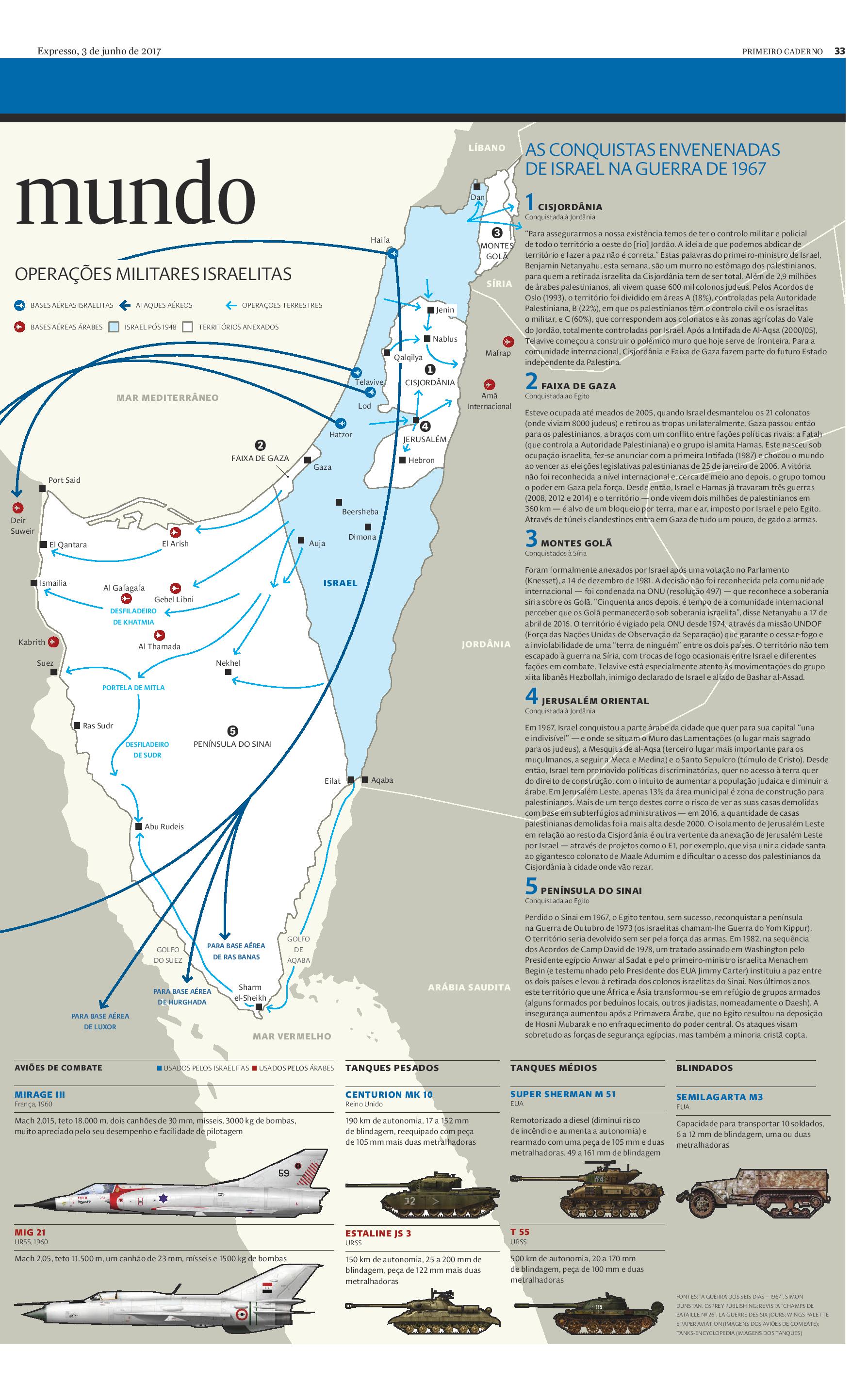Entre domingo e quinta-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos desdobrou-se em contactos em Israel, Sudão, Bahrain, Emirados Árabes Unidos e Omã. Donald Trump precisa de um sucesso ao nível da política externa, comenta ao Expresso um cientista político israelita
O principal interesse é de Israel mas as despesas parecem estar a cargo dos Estados Unidos. Duas semanas após o anúncio da normalização da relação diplomática entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, mediada pela Casa Branca, o Estado judeu tem novos alvos árabes em mira. Esta semana, as autoridades de Sudão, Bahrain e Omã foram sondadas acerca da possibilidade de seguirem o exemplo dos Emirados. A abordagem foi feita não por um governante ou diplomata israelita mas por um dos principais governantes da Administração norte-americana: o secretário de Estado Mike Pompeo.
“A tempo das eleições, Donald Trump quer apresentar ao povo norte-americano pelo menos um sucesso ao nível da política externa”, diz ao Expresso Ely Karmon, investigador do Instituto de Política e Estratégia, de Herzliya (Israel). “Ele não foi bem sucedido com os europeus, nem com a China, Coreia do Norte e Irão. Esta é uma possibilidade que lhe permitirá dizer: ‘Eu trouxe a paz, não ao Médio Oriente mas pelo menos entre Israel e alguns países árabes’.”
No universo de 22 países árabes, apenas três reconhecem o cialmente o Estado judeu: Egito (1979), Jordânia (1994) e Emirados Árabes Unidos (2020). Para o cientista político israelita, o Sudão pode ser o próximo. “Está muito interessado em normalizar a sua relação com os Estados Unidos, deixar de ser considerado um Estado pária e sair da lista de países que apoiam o terrorismo. Possivelmente, este é um incentivo americano para convencer o Sudão a iniciar a normalização com Israel.”
Segundo a publicação noticiosa “Sudan Tribune”, as autoridades de Cartum apelaram a que os EUA desvinculem os dois processos. Em comunicado posterior às conversações com Pompeo, o Governo sudanês fez saber que “no que respeita ao pedido dos EUA no sentido da normalização das relações com Israel, o primeiro-ministro [Abdallah Hamdok] explicou ao secretário do Estado que o período de transição no Sudão é liderado por uma ampla coligação com uma agenda específica que visa concluir o processo de transição, alcançar a paz e a estabilidade no país antes de realizar eleições livres”.
O Sudão vive uma fase de transição que decorre da deposição de Omar al-Bashir, a 1 de abril de 2019, após 30 anos de poder, e essa parece ser a prioridade do Conselho Soberano (composto por seis civis e cinco militares) quem manda atualmente no país.
Inegável é que, num passado recente, os dois países têm vindo a esboçar uma aproximação. A 3 de fevereiro, Abdel Fattah al-Burhan foi ao encontro do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, quando este realizava uma visita o cial ao Uganda. Então, o gabinete de Netanyahu fez saber que “ficou acordado o início de uma cooperação que conduzirá à normalização dos laços entre os países”.
“Apesar do Sudão ter participado em guerras contra Israel, algo mudou no ano passado, após a revolução”, comenta Ely Karmon. “O novo governo mudou a política e está a tentar que o país seja membro de uma coligação sunita mais moderada.”
O peso do Irão
Depois da visita ao Sudão, Mike Pompeo seguiu para o Bahrain, um pequeno reino ribeirinho ao Golfo Pérsico particularmente permeável a promessas de mais segurança. “Uma das razões que leva o Bahrain a querer ter relações diretas com Israel é o facto de se sentir ameaçado pelo Irão”, diz o israelita. “Talvez seja o Estado mais ameaçado pelo Irão.”
O país vive a singularidade de ter no poder uma família real sunita enquanto a maioria da população ser xiita (como o Irão). No Bahrain, “há muitos grupos xiitas contrários ao regime que são nanciados e apoiados pelo Irão”, recorda Ely Karmon.
À semelhança do que aconteceu no Sudão, as declarações públicas das autoridades do Bahrain não foram no sentido de uma adesão imediata à proposta de Pompeo. Segundo a agência noticiosa o cial local, o Rei Hamad bin Isa Al-Khalifa “realçou a importância da intensificação de esforços para se acabar com o conflito israelo-palestiniano de acordo com a solução de dois Estados” que leve ao “estabelecimento de um Estado palestiniano independente com Jerusalém Oriental como capital”.
Apesar do discurso oficial, é inegável que, nos últimos anos, o Bahrain tem dado sinais de abertura em relação a Israel. Em 2017, o monarca denunciou o boicote árabe a Israel e afirmou que os seus súbditos são livres de visitar o Estado judeu. No ano passado, o ministro dos Negócios Estrangeiros reafirmou o direito à existência de Israel e, em dezembro, Shlomo Amar, o rabino chefe de Jerusalém, participou num evento inter-religioso no Bahrain.
Omã, de bem com todos
A última viagem de Mike Pompeo neste périplo levou-o a Omã, um sultanato que nas últimas décadas, sob a liderança do Sultão Qaboos, que morreu a 10 de janeiro passado, após mais de 50 anos no poder, tem adotado uma política de coexistência pacífica com todos os países da região, Israel e Irão incluídos.
Omã tem relações amigáveis com Israel desde os anos 1960, de forma especialmente secreta. Ainda assim, em 1994, o primeiro-ministro Yitzhak Rabin visitou o país, naquela que foi a primeira deslocação conhecida de um líder israelita a um país do Golfo. E em 2018, também Benjamin Netanyahu foi recebido em Muscate.
Relativamente ao Irão, Omã também tem um histórico de não hostilidade. Não tomou parte na guerra Irão-Iraque e atuou como mensageiro entre Washington e Teerão durante as negociações internacionais relativas ao programa nuclear iraniano.
“Omã tem um novo líder [Haitham bin Tariq Al Said, primo de Qaboos] que não tem o mesmo prestígio do anterior e que tem de levar em consideração a estabilidade do seu regime e do próprio país”, alerta Ely Karmon. “E tem relações sensíveis e economicamente importantes com Teerão. Poderá não querer colocar-se na mira do Irão.”
Esta sexta-feira, Mike Pompeo regressou aos Estados Unidos com cansaço acumulado e aparentemente de mãos vazias. De nenhum dos países sondados, o governante norte-americano leva notícias sonantes que possam ser utilizadas, a curto prazo, como bandeira eleitoral.
(FOTO: Bandeiras de Israel e dos Estados Unidos, no aeroporto Ben Gurion, em Telavive, para dar as boas-vindas ao Presidente dos EUA Barack Obama, a 20 de março de 2013 EMBAIXADA DOS EUA EM ISRAEL)
Artigo publicado no “Expresso Online”, a 28 de agosto de 2020. Pode ser consultado aqui