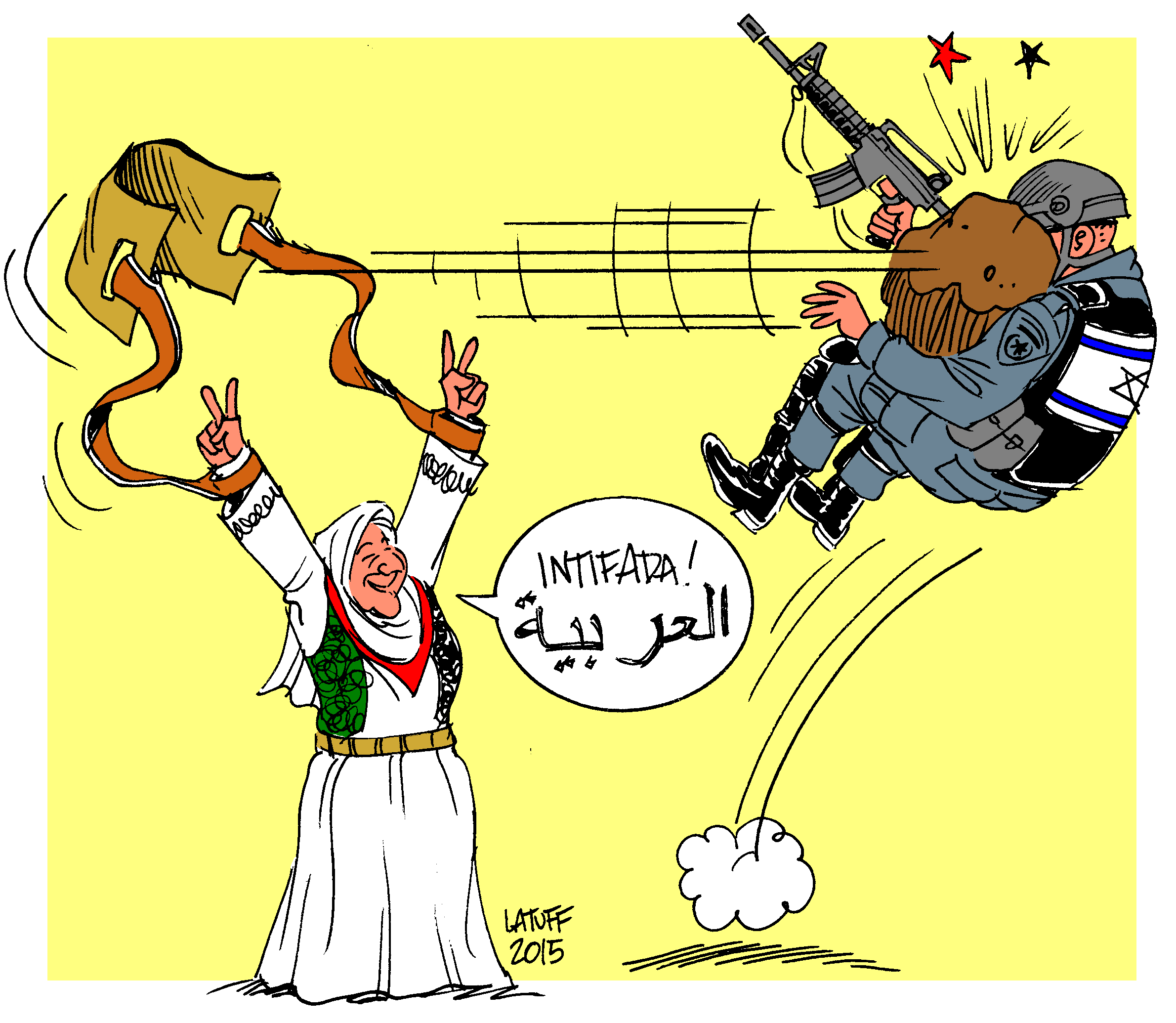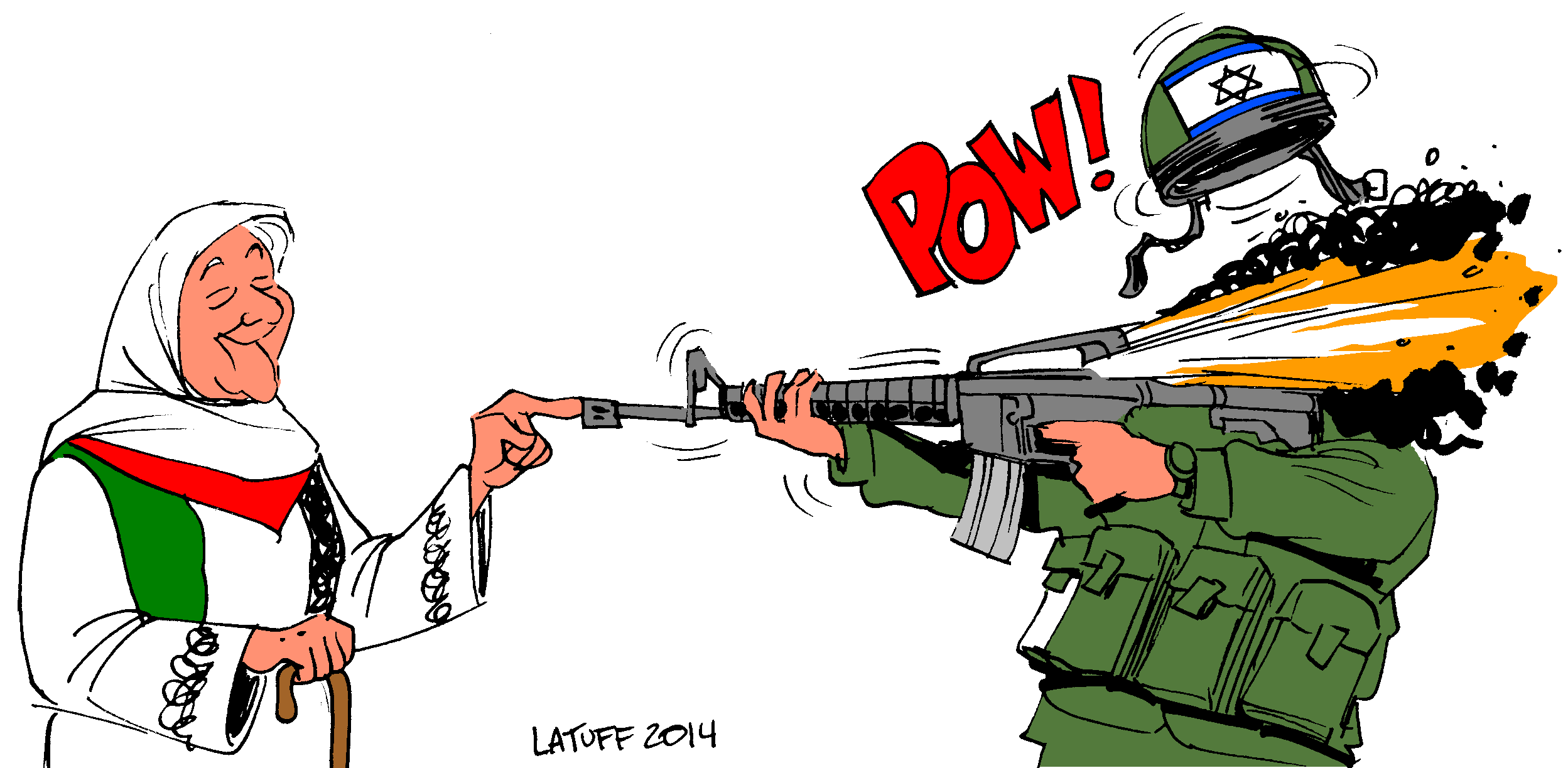Determinada em libertar-se das amarras sociais que a condenavam a uma vida submissa, uma jovem saudita meteu-se num avião a caminho da Austrália em busca de asilo. Intercetada na Tailândia, temeu pela vida. Sem sair do aeroporto, barricou-se num quarto de hotel, abriu conta no Twitter e gritou por ajuda — 48 horas depois saía em liberdade
“A minha conta oficial será entregue aos meus amigos mais próximos caso eu desapareça, para que as informações reais sobre o meu caso sejam atualizadas e documentadas, para que as restantes provas sejam publicadas e para que a voz das raparigas como eu nunca seja abafada.”
O tom desta mensagem publicada no domingo no Twitter por uma saudita de 18 anos não podia ser mais inquietante. Mais ainda quando, ao percorrer as suas mensagens, se percebia que aquela conta tinha sido criada apenas no dia anterior com o objetivo indisfarçável de pedir ajuda. A utilizadora era Rahaf Mohammed al-Qunun, uma estudante na Universidade Ha’il (nordeste da Arábia Saudita), em fuga a um futuro que lhe haviam traçado.
Aproveitando umas férias com a família no Kuwait, Rahaf ganhou coragem e, no sábado, apanhou um voo para Banguecoque, a capital da Tailândia. Ao contrário do que é possível no seu país natal, não necessitou de autorização de um homem da família para comprar bilhete e subir a bordo.
Rahaf tencionava chegar à Austrália, mas a escala tailandesa não foi pacífica. Chegada ao Aeroporto Suvarnabhumi, viu ser-lhe apreendido o passaporte — aparentemente porque não tinha bilhete de regresso, reserva de hotel ou qualquer programa turístico —, o que a impediu de seguir viagem para a Austrália, onde tencionava pedir asilo. Temendo ser deportada para junto da família, barricou-se num quarto de hotel no aeroporto e abriu conta no Twitter. A sua história começou então a circular a reboque da “hashtag” #SaveRahaf.
A jovem acusa a família de abusos, “incluindo espancamentos e ameaças de morte por parte de homens da família, que também a forçaram a ficar no seu quarto durante seis meses por ter cortado o cabelo”, informa a Human Rights Watch. “É evidente que ela procura proteção internacional”, acrescenta a organização humanitária. “Al-Qunun pode estar em sérios riscos se regressar para junto da família. Na Arábia Saudita, ela também enfrenta possíveis acusações criminais, numa violação aos seus direitos básicos, por ‘desobediência parental’, que podem originar castigos desde regressar a casa do seu guardião até à prisão, e por ‘prejudicar a reputação do reino’ nos seus pedidos de ajuda públicos.”
No Twitter, Rahaf foi divulgando provas da sua identidade, desmentindo notícias que iam saindo sobre si na imprensa saudita e publicando imagens do pequeno quarto onde resistia e onde o colchão, uma mesa e uma cadeira bloqueavam a abertura da porta, em caso de invasão forçada. E foi fazendo apelos ao mundo: “Quero a ONU! Quero a ONU! Quero a ONU!”.
Em meia dúzia de horas tinha os principais órgãos de informação internacionais de olhos postos na sua história — a videojornalista australiana Sophie McNeill, que trabalha para a australiana ABC, conseguiu entrar para dentro do quarto — e uma senadora australiana a trabalhar no seu caso: “A Austrália tem de ajudar esta jovem urgentemente! A sua vida está em perigo após ela renunciar ao Islão e fugir a um casamento forçado. Nós podemos emitir documentos de viagem de urgência para que ela apanhe um voo para a Austrália e procure segurança. Já apelei ao Governo para que haja rapidamente!”, escreveu no Twitter a senadora Sarah Hanson-Young.

A partir do seu quarto, Rahaf confirmou que procura “proteção” de um país terceiro, especialmente “Canadá, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido”. O impacto mediático do caso, que transbordou as redes sociais, levou a um decisão rápida por parte das autoridades tailandesas: “Se a jovem não quiser partir, ela não será enviada contra a sua vontade” para a Arábia Saudita, esclareceu o major general Surachate Hakparn esta segunda-feira.
A aparente facilidade com que o caso parecia resolver-se levantou dúvidas em relação à sinceridade das palavras do general. A confiança aumentou quando foi dada “luz verde” a uma delegação do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados para visitar Rahaf no quarto. Pouco depois surgia a notícia de que a jovem poderia sair — ficaria à guarda das Nações Unidas. “Ela já saiu do aeroporto com a ONU”, informou o general. “Ela não está mais detida pelos serviços de imigração.”
Até sair da Tailândia, Rahaf não pode respirar de alívio, apesar do rápido e positivo desfecho de um caso que tinha tudo para correr mal. Em abril de 2017, numa situação muito semelhante, a saudita Dina Ali Lasloom foi forçada a regressar a casa durante uma escala nas Filipinas, igualmente a caminho da Austrália.
A odisseia de Rahaf ganhou uma dimensão acrescida dado estar ainda recente na memória o brutal assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi, um crítico do regime de Riade, que colocou o reino saudita no radar do (in)cumprimento dos direitos humanos.
Após ser nomeado príncipe herdeiro da coroa saudita, em junho de 2017, Mohammed bin Salman (MbS), hoje com 33 anos, “libertou” as sauditas de algumas amarras para anunciar ao mundo o início de uma nova era social no reino, designadamente permitindo que passassem a conduzir automóveis.
A fuga de Rahaf revela que o principal problema subsiste: o sistema de tutela familiar que subordina as mulheres à vontade de um homem — seja pai, marido, irmão ou mesmo filho — para decisões como estudar ou viajar para o estrangeiro. Estas obrigações duram a vida inteira. Para o Estado, as mulheres são permanentemente menores — até jovens destemidas como Rahaf Mohammed al-Qunun o provarem que não.
(IMAGENS Rahaf Mohammed al-Qunun, no interior de um quarto de hotel, no aeroporto de Banguecoque, na Tailândia TWITTER)
Artigo publicado no “Expresso Online”, a 7 de janeiro de 2019. Pode ser consultado aqui