A esperança na mudança não se concretizou. E a ocorrência de uma segunda vaga de protestos revela que na rua árabe subsiste a insatisfação
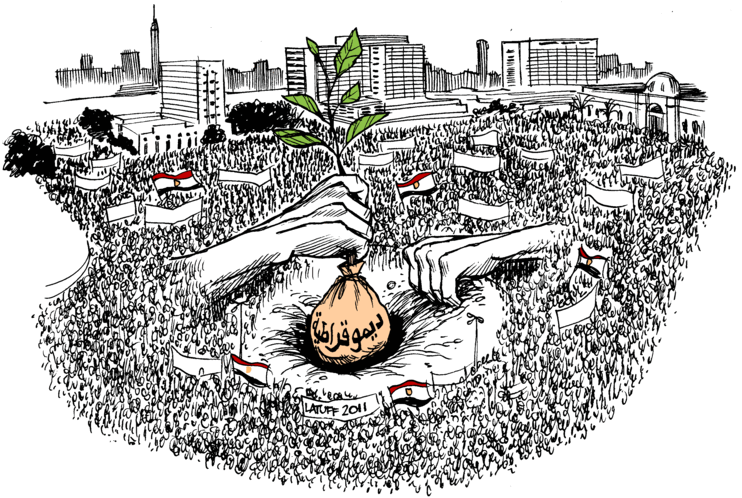
A pandemia acabou com os protestos nas ruas da Argélia mas, na rede social Twitter, Said não se cala. Este argelino, que se notabilizou como ativista digital durante as manifestações pacíficas de 2019-2020, motivadas pela vontade de Abdelaziz Bouteflika de se recandidatar a um quinto mandato presidencial, continua a disparar vídeos, fotos e informação de todo o tipo, demonstrativos de tudo quanto o leva a rejeitar o regime — seja o atraso da vacinação contra a covid-19 seja o tratamento dado a manifestantes que estão presos. “Seguramente que os protestos recomeçarão em força a seguir à pandemia”, garante ao Expresso. “Haverá marchas gigantescas.”
Até aparecer o novo coronavírus, a Argélia era um dos países que protagonizavam uma espécie de segunda vida da primavera árabe — o movimento de contestação popular que explodiu em 2011 e derrubou quatro ditadores: Zine El Abidine Ben Ali, na Tunísia, Hosni Mubarak, no Egito, Muammar Kadhafi, na Líbia, e Ali Abdullah Saleh, no Iémen.
Contrato social falido
“As revoltas de 2011 puseram em marcha exigências populares, no sentido da responsabilização de governos, que continuam a colocar os regimes autocráticos sob pressão, por todo o Médio Oriente. Quanto às manifestações populares da segunda vaga — na Argélia, Sudão, Líbano e Iraque —, têm raízes diferentes e seguem trajetórias particulares. Mas partilham com os protestos de 2011 a rejeição generalizada de um contrato social falido e conseguiram desafiar governantes autocráticos e até confrontar os militares”, diz ao Expresso Eugene Rogan, professor de História Contemporânea do Médio Oriente na Universidade de Oxford (Reino Unido).
Na Argélia os protestos visaram um regime caduco. No Líbano começaram depois de o Governo taxar serviços de comunicação como o WhatsApp e cedo atingiram o sistema confessional que define a organização política. No Iraque os alvos foram a corrupção e o peso das milícias. E no Sudão, onde há uma transição política em curso, a revolta começou após a triplicação do preço do pão.
Aprender com os erros
Se em 2011, estes quatro países — traumatizados por guerras civis não muito longínquas — não reagiram à primavera árabe, hoje são a prova de que a insatisfação se mantém nas ruas. Segundo o historiador norte-americano, há espaço para os árabes continuarem a sonhar. “Resta ver se estes novos movimentos aprenderam as lições de 2011 sobre como conter o poder dos militares, organizar grupos de ação política capazes de assumir o poder após a queda dos governantes autocráticos, institucionalizar a mudança política através de uma reforma constitucional, evitar soluções armadas para problemas civis. Resta ver se terão mais êxito ou mostrarão mais resistência a forças contrarrevolucionárias do que os movimentos de 2011.”
Hisham pagou caro o envolvimento nos protestos no seu Egito natal. Simpatizante da Irmandade Muçulmana, foi preso após a formação islamita — que venceu as primeiras eleições livres, a seguir à revolução — ter sido arredada do poder por um golpe militar liderado pelo atual Presidente, Abdul Fatah Al-Sisi. “Estive preso 366 dias”, conta ao Expresso. Saiu do Egito e viveu uns anos na Turquia. Hoje mora no Reino Unido. “Pedi asilo aqui e concederam-mo. Em 2025, terei cidadania britânica. Depois poderei viajar até ao Egito com passaporte do Reino Unido. Ninguém me poderá tocar.”
O peso dos mais jovens
Engenheiro de formação, Hisham está a oito meses de terminar um mestrado em Inteligência Artificial, na Universidade de Plymouth. “Depois talvez consiga lecionar em universidades, aqui.” Aos 38 anos, traça na sua mente todo um futuro que lhe está vedado no seu país. “Neste momento, nada no Egito é aconselhável enquanto a democracia não regressar.”
A odisseia de Hisham evidencia feridas abertas durante a primavera árabe: a perseguição a vozes da oposição e a falta de perspetivas dos jovens. “Nas sociedades árabes o verdadeiro desafio é o crescimento demográfico, o peso político dos que têm menos de 30 anos”, diz Eugene Rogan. “Governos autocráticos incapazes de proporcionar aos jovens um bom futuro, dependentes da repressão para permanecer no poder, ver-se-ão desafiados por revoltas populares demasiado grandes para serem controladas.”
Dez anos passados, a esperança de um novo Médio Oriente, mais livre e democrático, não se materializou. Líbia, Síria e Iémen foram engolidos por guerras intermináveis. Dos quatro países que viram ditadores depostos, apenas a Tunísia concretizou um processo de transição democrática.
“A Tunísia, sem dúvida, lançou as bases da democracia há dez anos. O progresso político é uma realidade. Nesse aspeto, a revolução cumpriu a sua promessa. O problema é que esta abertura política, que se deu de forma brutal, não foi acompanhada de progresso social e económico”, comenta ao Expresso a politóloga marroquina Khadija Mohsen-Finan, autora do livro “Tunisie, l’Apprentissage de la Démocratie — 2011-2021” (Tunísia, a aprendizagem da democracia, sem edição portuguesa). “A vida das pessoas não melhorou, pelo contrário. Para os tunisinos a democracia tornou-se obstáculo à mudança e não é essencial, tendo em conta as suas dificuldades quotidianas.”
O peso dos mais jovens ??????????????
Um dos aspetos que tornam o processo tunisino único decorre da atuação do partido islamita Ennahda, vencedor das primeiras eleições livres, que optou por fazer pontes com as demais forças — o que a Irmandade Muçulmana não fez no Egito —, chegando ao ponto de abdicar da sua agenda religiosa.
Se em 2011, os partidos islamitas emergiram como sucessores naturais das ditaduras, hoje não é certo que isso se repita. “No Líbano e no Iraque, os manifestantes apelaram a uma política não-sectária. Além disso, a Irmandade Muçulmana foi fortemente reprimida na maioria do mundo árabe, a seguir à contrarrevolução de 2013 no Egito. Na Argélia e no Sudão, os protestos permaneceram essencialmente seculares, em termos de liderança e orientação”, conclui Rogan. “Já não parece que uma onda islâmica vá seguir-se aos protestos contra os governos autocráticos.” Aos dez anos, a chamada primavera árabe reinventa-se.
O QUE ACONTECEU
TUNÍSIA — A 14 de janeiro de 2011 Ben Ali fugiu do país, após 28 dias de protestos e 23 anos de poder. Iniciou-se uma transição democrática na qual têm prevalecido o diálogo e a propensão para o consenso. Os militares nunca interferiram.
EGITO — Hosni Mubarak não resistiu à contestação na Praça Tahrir e a Irmandade Muçulmana emergiu da clandestinidade para vencer as primeiras eleições livres. Em 2013, um golpe militar sentenciou os islamitas e devolveu o poder a um homem-forte, o general Sisi.
LÍBIA — Ao fim de 42 anos no poder, Muammar Kadhafi foi morto numa rua de Sirte, quando o país levava meses de protestos. Seguiu-se a guerra civil (que continua, com interferência externa), alimentada pelo carácter tribal da sociedade.
IÉMEN — Acossado pelas ruas, Ali Abdullah Saleh negociou a saída do poder. A rivalidade entre tribos, a existência de grupos separatistas e de um braço da Al-Qaeda alimentaram uma guerra que subsiste, com consequências humanas catastróficas.
SÍRIA — Bashar al-Assad combateu a contestação popular com o fogo das armas, dando origem a uma guerra civil que arrastou vários países da região e não só.
BAHREIN — Os protestos populares foram esmagados com a ajuda dos tanques da vizinha Arábia Saudita, que entrou no país em socorro dos Al-Khalifa.
(FOTOS De cima para baixo e da esquerda para a direita: Protestos no Egito (Praça Tahrir), Tunísia, Líbia, Iémen, Síria e Bahrain (Praça da Pérola) WIKIMEDIA COMMONS)
Artigo publicado no “Expresso”, a 15 de janeiro de 2021. Pode ser consultado aqui





