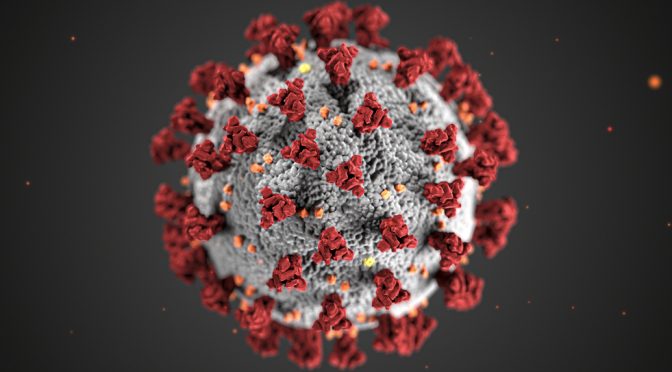A organização do festival não gosta, mas a política sobe ao palco da Eurovisão, ano após ano. O certame de 2023 em Liverpool não será exceção. Ao estilo de aperitivo para a primeira semifinal, esta terça-feira à noite, na qual a portuguesa Mimicat disputará um lugar na final, seguem-se dez interrogações de caráter político, comentadas por Tiago André Lopes, professor na área das Relações Internacionais e grande fã do concurso musical
1. A Ucrânia repetirá a vitória do ano passado?
Ainvasão russa continua, mas é pouco provável que o triunfo da Ucrânia, obtido com o coração, no evento de 2022 em Turim — realizado menos de três meses após o início da guerra —, se repita em Liverpool.
“A vitória da Ucrânia parece-me muito improvável este ano. Ao nível dos júris, não parece de todo que a Ucrânia esteja na corrida. Julgo que vão privilegiar canções mais previsíveis de serem premiadas”, diz Tiago André Lopes, professor de Comunicação para a Diplomacia, na Universidade Portucalense. “Mas não ficarei surpreso se, na votação do público, o bloco de leste votar de forma expressiva na Ucrânia”. O país invadido concorre com o tema “Heart Of Steel”, dos Tvorchi.
Afinal, no ano passado, foi precisamente a preferência do público europeu o segredo da vitória da Ucrânia. “Stefania”, da banda Kalush Orchestra, foi a canção mais pontuada no televoto, com 28 dos 39 países participantes a dar os 12 pontos à Ucrânia (Portugal foi um deles).
Porém, ao nível dos júris, a Ucrânia só obteve a pontuação máxima de cinco países do bloco de leste: Letónia, Lituânia, Moldávia, Polónia e Roménia. O júri português atribuiu 8 pontos à canção ucraniana (e o ucraniano deu 10 à portuguesa).
2. A Rússia participa nesta edição?
Não, nem a sua aliada Bielorrússia. Foram ambas suspensas pela União Europeia de Radiodifusão (EBU), a entidade que organiza a Eurovisão, mas por razões diferentes.
A 25 de fevereiro de 2022, no dia seguinte ao início da invasão russa da Ucrânia, a EBU emitiu um comunicado excluindo a Rússia do festival de Turim. “A decisão reflete a preocupação de que, à luz da crise sem precedentes na Ucrânia, a inclusão de uma inscrição russa no concurso deste ano trouxesse descrédito à competição”, explicou a organização. Esta posição levou os três canais russos membros da EBU a ameaçarem desfiliar-se, ao que a União respondeu com a suspensão.
Já a emissora estatal de rádio e televisão bielorrussa BTRC está suspensa desde 28 de maio de 2021, como resposta à “supressão da liberdade de imprensa” no país.
A penalização da Rússia, em particular, tem consequências abrangentes. “A Rússia era um país que contribuía muito significativamente para a EBU, e a sua suspensão fez com que a inscrição [no festival] subisse de preço”, explica Tiago Lopes. “Há países que não conseguiram comportar os custos e optaram por não ir este ano.” Bulgária, Macedónia do Norte e Montenegro são exemplos. O mesmo aconteceu com Portugal em 2013, durante o resgate financeiro pela troika.

3. Há mais países ausentes?
A EBU é composta por organizações de radiodifusão oriundas de 56 países (incluindo os dois suspensos). Em Liverpool participarão apenas 37, logo há bastantes que ficam de fora. A última vez em que concorreram 37 canções foi em 2014. Desde então, houve sempre mais.
Na história da Eurovisão, o recorde de participantes está nos 43, registados em três edições: 2008 (Belgrado), 2011 (Dusseldorf) e 2018 (Lisboa).
Este ano, para lá das questões financeiras, há razões de peso a justificar ausências. A conservadora Hungria, por exemplo, está em declarada rota de colisão com a exuberância que a Eurovisão tem vindo a assumir.
“A Hungria participou pela última vez em 2019, na mesma semifinal de Conan Osíris. Joci Pápai, que já era um repetente na Eurovisão, ficou muito perto da final, mas não passou. Depois, a Hungria retirou-se do certame e uma das razões invocadas foi a de que o festival se tornara uma parada LGBT, e o país não compactuaria com isso.”
Tiago André Lopes recua até 2012 para recordar outra manifestação de grande conservadorismo em relação ao festival. “O anfitrião foi o Azerbaijão, país conservador, de maioria islâmica xíita, como o Irão”, onde cerca de 15% da população é de etnia azeri. “O Irão considerou que o Azerbaijão estava a perverter a sua alma ao receber um espetáculo desta natureza. Em protesto, o embaixador retirou-se e a embaixada iraniana em Baku fechou portas durante o mês de maio para não ser contaminada pelo espírito da Eurovisão.”
4. Em Liverpool, haverá temas com letras políticas?
“A canção da Ucrânia não tem nada que ver com guerra, mas alguns países levam canções cujas letras estão, claramente, contaminadas pela guerra”, diz Tiago Lopes. “A Croácia faz uma paródia aos ditadores.”
Em palco, cinco homens apresentam-se ao estilo de um espetáculo de travestismo e cantam sobre uma “mamã” que “comprou um trator” e “beijou um idiota”, numa alusão implícita ao trator oferecido pelo Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, ao homólogo russo, Vladimir Putin, a 7 de outubro de 2022, como presente pelo seu 70.º aniversário.
“Toda a atuação do grupo croata [Let 3] é muito bizarra e é uma crítica direta a esses dois ditadores.” Com um histórico de provocações, a banda confirmou, numa entrevista, tratar-se de “uma canção contra a guerra. O nosso único desejo é que a guerra acabe o quanto antes e que a paz e o amor emerjam.”
Outra música política é a balada da Suíça, “Watergun”. “Remo Forrer canta sobre o modo como passamos de brincar às guerras, em crianças, para de repente estarmos numa guerra, e numa guerra real onde não se brinca com pistolas de água.”

5. Grécia e Chipre vão continuar a dar 12 pontos um ao outro?
É um clássico na Eurovisão que até já motiva apupos dos fãs na plateia. Desde que Chipre se estreou no certame, em 1981, cabem nos dedos de uma mão as vezes em que Grécia e este país insular do Mediterrâneo não deram pontuação máxima ao outro. Na origem desta preferência está a invasão turca da ilha de Chipre, em 1974, que dividiu o território numa parte grega (Estado soberano, membro da UE e com direito a participar no festival) e numa zona turca (um país que só a Turquia reconhece).
“Grécia e Chipre não são caso único”, diz Tiago Lopes. “Roménia e Moldávia, tradicionalmente, também partilham votos. Mesmo o bloco nórdico — Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia — tende a trocar a votação máxima entre si. E também acontecia entre a Rússia e Bielorrússia.” Há também solidariedade natural entre países do Báltico ou dos Balcãs.
Há dez anos, a Rússia protagonizou um dos episódios mais indigestos da história da Eurovisão. No festival de Malmö, na Suécia, o júri russo deu 12 pontos à canção do Azerbaijão (que ficaria em segundo lugar), enquanto os azeris não atribuíram pontos à música russa (que ficou em quinto).
A questão escalou a hierarquia e chegou ao primeiro plano da política. Em Moscovo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, já então Sergei Lavrov, disse que foram “roubados 10 pontos” à Rússia. “Esta ação ultrajante não ficará sem resposta”, prometeu. Em Baku, o Presidente Ilham Aliyev ordenou uma investigação aos zero pontos dados à Rússia e uma recontagem de votos.
Esta lógica de blocos regionais e o impacto que tem nas votações levaram Ancara a bater com a porta da Eurovisão. “A Turquia está contra o sistema de votação, porque considera que, tal como Portugal, é prejudicada por ter poucos vizinhos.” A última participação turca foi em 2012, pela voz de um cantor judeu.

6. Há países árabes a participar na Eurovisão?
Atualmente não, mas já houve e poderá voltar a haver. Entre os 56 países membros da EBU, há sete árabes: Argélia, Jordânia, Líbia, Egito, Tunísia, Marrocos e Líbano. Apenas uma vez um deles participou na Eurovisão: Marrocos, em 1980, em Haia. Em 19 participantes, a canção de Samira Bensaid ficou em penúltimo lugar.
“Não correu muito bem, mas, curiosamente o espetáculo em Marrocos, e em particular na Argélia, é muito popular”, diz o professor. “A saída de Marrocos teve um efeito negativo para a Turquia. No ano em que participou, Marrocos, obviamente, deu-lhe 12 pontos.” Além da solidariedade islâmica, “as sonoridades marroquina e turca estão muito próximas”.
7. Há um padrão de votação entre Portugal e Espanha?
“Há um padrão enviesado a favor de Espanha. Tradicionalmente, Portugal dá votações altas, sem dar votações máximas.” A última edição da Eurovisão confirmou a desafinação entre os dois países ibéricos: Madrid deu a “Saudade, saudade”, de Maro, 4 votos do público e 0 do júri. Lisboa deu a “SloMo”, de Chanel, 10 votos através do televoto e 12 do júri. “É mais comum Portugal dar votação alta a Espanha do que o contrário.”
É também frequente “Portugal dar votações máximas a países de leste, porque as comunidades de leste em Portugal mobilizam-se para votar. Moldávia, Roménia, Bulgária já tiveram, várias vezes, votações muito significativas”.
Nos últimos anos, Portugal e Espanha não têm beneficiado dos votos de países onde têm comunidades migrantes significativas. “Andorra é um país muito pouco regular no que troca a Eurovisão, o que é pena para Portugal, porque, por norma, Andorra vota significativamente em Portugal e Espanha, que são as comunidades maiores.”
O mesmo se passa com o Luxemburgo, onde a maior comunidade estrangeira é a portuguesa: este país, que já venceu a Eurovisão cinco vezes, participou pela última vez em 1993.

8. Qual o único Estado que a EBU não pressiona para ir à Eurovisão?
O Vaticano. É membro da EBU através da Radio Vaticana, mas nunca arriscou uma participação no festival. “Seria complicado para o Vaticano escolher uma canção e estar ao lado de vários tipos de atuações que desafiam os limites e que já levaram a várias reclamações”, diz Tiago Lopes.
Um exemplo aconteceu na Eurovisão de Lisboa, em 2018. “Nesse ano, pela primeira vez, foram dados os direitos de transmissão à China, que lhe foram retirados após a primeira semifinal. A canção da Irlanda tinha uma coreografia em palco que retratava um amor homossexual entre dois homens. Houve um corte na emissão chinesa e a canção não passou. Quando a imagem voltou, já estava outra em palco. A EBU não gostou desta discriminação com base na sexualidade e retirou os direitos de emissão à China para a segunda semifinal e para a grande final.”
Outro caso polémico ocorreu no evento de Malmö, em 2013. “A canção da Finlândia terminava com um beijo entre duas mulheres. Houve vários países — Rússia, Arménia, Azerbaijão — que reclamaram contra esse beijo.”
9. Porque há cinco países com entrada direta na final?
São conhecidos como os Big Five (cinco grandes) e estão para a Eurovisão como os cinco membros permanentes estão para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Espanha não disputam as semifinais e têm lugar assegurado na final de cada festival, com o anfitrião de cada ano.
Nenhum dos cinco foi o país que mais vezes ganhou a Eurovisão: França e Reino Unido venceram cinco vezes, Itália três e Alemanha e Espanha duas vezes. A campeã do festival é a Irlanda (7 vezes), seguida da Suécia (6).
“Os Big Five são uma necessidade”, explica Tiago Lopes. “A EBU precisa de ter estados que contribuam mais do que os outros. A Eurovisão é um espetáculo pesado do ponto de vista financeiro e, apesar de parte significativa dos custos ficar para o canal de televisão do país anfitrião, há gastos que ficam do lado da EBU.”
A passagem direta para a final pode não ser uma passadeira para os Big Five. “Uma vez que não atuam nas semifinais, curiosamente, acabam por ficar prejudicados. Como estão automaticamente na final, não passam pelo filtro, não passam pelas discussões que durante várias semanas animam os fãs. Acabam por gerar menos interesse e ter mais dificuldade para atrair a atenção na final. É uma benesse que pode virar-se um bocadinho contra eles.”
Nos últimos anos, Reino Unido e, sobretudo, Alemanha têm marcado presença nos últimos lugares: em 2015, os alemães receberam 0 pontos e em 2021 foi a vez dos britânicos ficarem em branco.
10. Haverá invasões de palco em Liverpool?
Não há análise política que consiga prever essas surpresas. Na edição de Lisboa, a invasão de palco durante a atuação da britânica SuRie (cerca do minuto 1:40) foi o maior percalço que manchou a realização da RTP.
O invasor, que conseguiu arrancar o microfone das mãos da cantora britânica, autodenomina-se Dr ACactivism e tem currículo em matéria de interrupção de grandes eventos de palco. No ano anterior, por exemplo, este “filósofo, ativista e DJ/MC sedeado em Londres”, como se apresenta n rede social Twitter, tinha invadido o palco durante a final do concurso “The Voice”, no Reino Unido.
Em 2010, em Oslo, um intruso que invadiu o palco durante a atuação de Espanha quase se tornou um verdadeiro figurante, tal foi a demora dos seguranças em tirá-lo dali. Jaume Marquet i Cot, catalão nascido em 1976, era já experiente na “arte”, com investidas no palco dos prémios Goya, no court de Roland Garros, numa pista de Fórmula 1 e em vários relvados de futebol.
Uma das mais célebres aconteceu em Lisboa, durante a final do Euro 2004, entre Portugal e a Grécia. “Jimmy Jump”, como é popularmente conhecido, correu pelo relvado do Estádio da Luz com uma bandeira da Catalunha na mão e arremessou-a contra a cara de Luís Figo. O futebolista português protagonizara a maior das traições, na opinião de muitos adeptos, ao trocar o Barcelona pelo Real Madrid.
(FOTO PRINCIPAL Na impossibilidade da Ucrânia organizar a Eurovisão, por vencer em 2022, a edição deste ano fica a cargo do segundo classificado, o Reino Unido PETER KNEFFEL / GETTY IMAGES)
Artigo publicado no “Expresso Online”, a 9 de maio de 2023. Pode ser consultado aqui