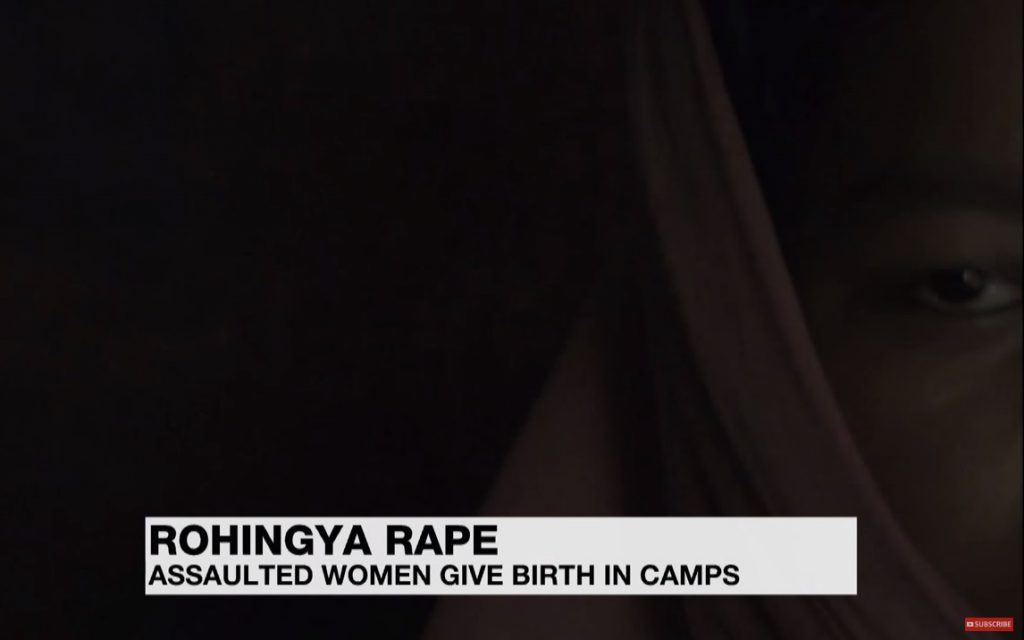Perseguidos em Myanmar ou refugiados no Bangladesh, pagam a traficantes para que os tirem dali
Rezuwan não teve a coragem da irmã. Abandonada pelo marido e com duas filhas a seu cargo, Hatamonesa pagou 100 mil tacas bengalis (€900) a um traficante para que a metesse num barco e a resgatasse da vida difícil no campo de refugiados de Kutupalong, no Bangladesh.
A 25 de novembro de 2022, Hatamonesa e uma filha de cinco anos estavam entre os cerca de 180 ocupantes de uma embarcação, maioritariamente rohingyas, que zarpou da zona de Teknaf. Para trás deixou a filha mais velha, entregue ao cuidado de familiares que não ousaram seguir com ela.
Foi o caso do irmão Rezuwan, de 25 anos, casado e pai de uma bebé de um ano. “É muito perigoso. Aqueles barcos são impróprios para navegar e os traficantes tentam meter mais e mais pessoas lá dentro para ganharem mais dinheiro”, conta ao Expresso. “É como jogar à moeda: se tivermos sorte, sobrevivemos, se não tivermos…”
Do campo foi acompanhando a odisseia da irmã. “Dias após terem partido, o homem do barco disse ao traficante, através de um telefone satélite, que o motor tinha parado. De início não nos disseram nada e tentaram resolver o problema. Mas quando a situação se descontrolou, falaram connosco para pedirmos ajuda à comunidade internacional. Para ser sincero, não acreditei neles. Nem imaginava que tivessem um telefone satélite. Pensei que era apenas uma artimanha para extorquirem mais dinheiro às famílias.” Acabou por chegar à fala com o barqueiro e inteirou-se da real situação do barco.
Um mês à deriva
O plano da irmã era chegar à Indonésia e depois seguir para a Malásia ou outra “terra humanitária, onde a filha pudesse ir à escola e depois à universidade e ela própria tivesse uma vida diferente”. Assim que tivesse condições, tentaria que a filha mais velha se lhes juntasse.
Tudo foi posto em causa depois de o barco ter ficado à deriva entre a baía de Bengala e o mar de Andamão. A angústia durou mais de um mês, sem que nenhum país à volta respondesse à urgência e abrisse as fronteiras.

Em águas tailandesas, alguns atiraram-se à água na esperança de serem resgatados por pescadores ou pela Marinha. Depois, a corrente levou o barco para águas indianas, onde, por fim, desembarcaram, a 26 de dezembro, na zona de Aceh, na ponta norte da ilha de Samatra. Não sobreviveram à odisseia 26 pessoas. Desde então, Rezuwan vai tendo notícias da irmã de longe a longe, através de telefonemas de três minutos facilitados pela ONU.
O desespero em que vive esta minoria muçulmana — que no seu país, Myanmar, é perseguida e no Bangladesh, para onde fugiu, vive em campos de refugiados — leva os rohingyas a recorrerem aos barcos como tentativa de fuga para uma vida mais segura e digna.
“Em Myanmar dizem que sou bengali, no Bangladesh sou rohingya. Não sou reconhecido por nenhum país. Vou para onde?”
Em 2022, segundo a ONU, 3545 rohingyas lançaram-se ao mar em 39 embarcações — mais 360% do que no ano anterior. Desembarcaram 3040, morreram ou desapareceram 348 e, no final do ano, havia ainda 157 no mar. Quase 45% dos embarcados eram mulheres e crianças.
Este fenómeno encerra uma ironia: 32% dos barcos foram intercetados em Myanmar (e os ocupantes presos, incluindo crianças). A Malásia acolheu 25%, a Indonésia 24%, 10% dos barcos voltaram ao Bangladesh, 5% foram para a Tailândia e 3% para o Sri Lanka.
Um povo sem cidadania
A perspetiva de terem futuro nestes países é uma ilusão. Sem reconhecimento legal, este povo não tem passaporte que lhe permita emigrar. “Em Myanmar dizem que sou bengali, no Bangladesh sou rohingya. Não sou reconhecido por estes países. Aliás, por nenhum. Vou para onde, então?”
Rezuwan chegou ao campo em 2017, fugido à repressão ordenada pela junta militar contra o seu povo. Em duas semanas, cerca de 700 mil rohingyas cruzaram a fronteira com o Bangladesh, triplicando a população de refugiados na região de Cox’s Bazar (Sueste). Até lá, foram três dias a pé, com seis familiares, incluindo a mãe e um irmão com deficiência. Hoje vivem todos numa estrutura coberta por um toldo, com paredes de bambu e chão em cimento.
Passados cinco anos, a situação provisória dos rohingyas é cada vez mais definitiva. “Somos um milhão nos campos, mas só uns cinco mil trabalham para organizações não governamentais a troco de 100 dólares [€94]. Não tenho trabalho profissional. Ganho algum a ajudar jornalistas.”
Muitos rohingyas vão nos barcos tentar arranjar trabalho e tirar as famílias da miséria, fugindo a uma situação cada vez mais explosiva. “Tornámo-nos um fardo para o Bangladesh, a maioria não nos quer aqui muito mais tempo. Não veem avanços a nível do repatriamento. E há falta de interesse pelo nosso problema. Somos muito poucos. Está a fazer-se tarde. O meu avô morreu sem ver a sua identidade reconhecida, o meu pai também.”
Rezuwan acha que não vai escapar ao mesmo fado, mas não se deixa derrotar. Calcorreou os campos durante dois anos e recolheu contos populares rohingyas da boca dos mais velhos. Traduziu-os e publicou o livro “Rohingya Folktales: Stories from Arakan”, garantia de que aquele património sobreviverá ao desaparecimento de sucessivas gerações de contadores de histórias e à inexistência legal do seu povo.
(FOTO Um barco que transportou refugiados rohingyas permanece ancorado no Mar de Andamão depois do desembarque dos ocupantes numa praia em Aceh, na Indonésia, a 8 de janeiro de 2023 KENZIE EAGAN / UNHCR)
Artigo publicado no “Expresso”, a 3 de março de 2023. Pode ser consultado aqui e aqui