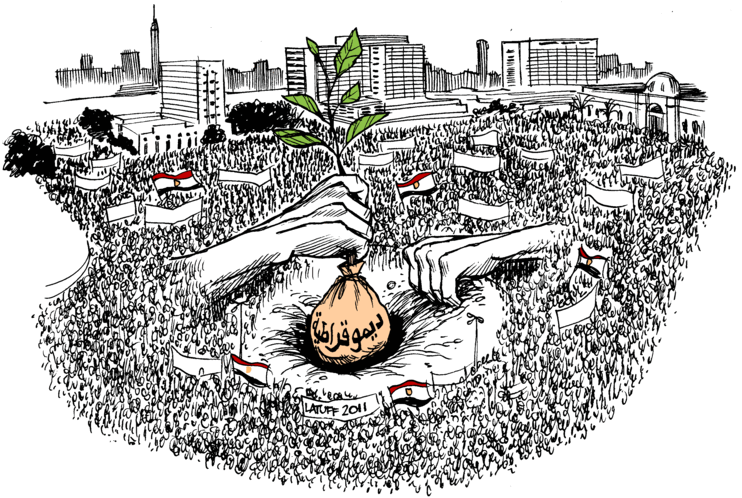A condenação generalizada à invasão russa de território da Ucrânia não teve repercussão num conjunto de países. A maioria deles é castigada, há anos, por sanções económicas aplicadas pelos Estados Unidos
BIELORRÚSSIA
A entrada de tropas russas na Ucrânia concretizou-se por três frentes, uma das quais a partir de território bielorrusso. O país liderado por Aleksandr Lukashenko, que está no poder desde 1994 — longevidade que lhe vale o epíteto de “o último ditador da Europa” —, é um sólido aliado da Rússia.
Entre 10 e 20 de fevereiro, a realização de exercícios militares entre forças russas e bielorrussas contribuiu fortemente para a escalada da tensão na região. E com razão, já que no dia depois de terminarem, Moscovo reconheceu a independência das repúblicas separatistas ucranianas de Donetsk e Luhansk, ao que se seguiu a invasão da Ucrânia.
A permanência das tropas russas em território bielorrusso terminadas as manobras militares conjuntas indiciava o pior. A Bielorrússia deve lutar pela “sua independência” e contra a “ditadura”, apelou então a líder da oposição Svetlana Tikhanovskaya — tida pelo Ocidente como a vencedora das presidenciais de 2020 e que vive exilada —, considerando que a soberania do seu país estava ameaçada pela presença militar russa.
No próximo domingo, poderá ser dado mais um passo no crescente domínio de Moscovo sobre Minsk. Os bielorrussos estão convocados para se pronunciarem num referendo sobre alterações à Constituição e entre os assuntos em questão está a possibilidade de o Presidente Lukashenko autorizar a instalação de armas nucleares russas naquela antiga república soviética.
VENEZUELA
“A Venezuela está com Putin e com a Rússia, está com as causas corajosas e justas do mundo, e vamo-nos aliar cada vez mais”, reagiu, de forma inequívoca, Nicolás Maduro, às notícias da invasão russa da Ucrânia. O Presidente venezuelano acrescentou que a NATO e os Estados Unidos querem acabar militarmente com a Rússia por estarem “habituados a fazer o que querem no mundo”.
Na semana passada, quando da passagem por Caracas do vice-primeiro-ministro russo Yuri Borisov, os dois países assinaram um acordo de cooperação militar. Maduro defendeu que este compromisso “confirmou o caminho para uma poderosa cooperação militar entre Rússia e Venezuela para defender a paz e a soberania”.
As relações entre Moscovo e Caracas estreitaram-se sobretudo com Hugo Chávez, o antecessor de Maduro que ocupou o Palácio de Miraflores entre 1999 e 2013. Então, o venezuelano aproveitou o boom do petróleo, de que a Venezuela é produtora, e comprou aos russos centenas de milhões de dólares em armamento e equipamentos militares.
Para a Venezuela, a Rússia é um mercado que permite contornar o efeito das sanções internacionais decretadas ao país. Este alinhamento entre os dois países já se fez sentir noutras crises. Em 2008, a Venezuela foi dos poucos países a reconhecer a independência das regiões da Abecásia e da Ossétia do Sul, em território da Geórgia.
SÍRIA
O grande aliado da Rússia na conturbada região do Médio Oriente tornou-se o segundo Estado em todo o mundo a reconhecer a independência de Donetsk e Luhansk. A decisão confirma a solidez da relação entre estes dois países.
É na Síria — em Tartus — que Moscovo tem a sua única base militar que lhe permite o acesso aos mares quentes (no caso o Mediterrâneo) e por isso navegáveis. A conservação deste local estratégico, num país que está em guerra desde 2011, justifica o apoio direto e incondicional da Rússia a Bashar al-Assad, que deve a Vladimir Putin a sua permanência no poder.
No atual contexto, foi a vez do regime sírio colocar-se ao lado das opções belicistas de Moscovo. “A Síria apoia a decisão do Presidente Vladimir Putin de reconhecer as repúblicas de Luhansk e Donetsk”, afirmou Faisal Mekdad, o ministro sírio dos Negócios Estrangeiros. “O que o Ocidente está a fazer contra a Rússia é igual ao que fizeram contra a Síria durante a guerra terrorista.”
À semelhança da Venezuela, também a Síria reconheceu, no passado, as ex-repúblicas georgianas da Abecásia e da Ossétia do Sul como Estados independentes.
NICARÁGUA
Daniel Ortega, na presidência da Nicarágua desde 2007, esteve com a Rússia desde a primeira hora desta crise. “O Presidente Putin deu hoje um passo com o qual o que fez foi reconhecer algumas repúblicas que, desde o golpe de 2014, não reconheceram os governos golpistas [na Ucrânia] e estabeleceram o seu governo e lutaram”, disse na segunda-feira, na sequência do reconhecimento russo da independência de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia.
Ao mencionar o golpe de 2014, Ortega referia-se à deposição do então Presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, na sequência das manifestações populares que duraram meses e que ficaram conhecidas como Euromaidan. Este protesto saiu, pela primeira vez, às ruas de Kiev na noite de 21 de novembro de 2013, após a decisão do Governo de suspender a assinatura de um Acordo de Associação entre a Ucrânia e a União Europeia (UE). Hoje, Yanukovych vive exilado na Rússia.
Para o líder da Nicarágua, a UE e os Estados Unidos “vêm cercando e ameaçando a Rússia” desde 2014. “A Ucrânia está a procurar uma maneira de entrar na NATO, e entrar na NATO é dizer: vamos à guerra com a Rússia. Isso explica porque a Rússia age do jeito que age. Está simplesmente a defender-se.”
A boa relação entre a Rússia e a Nicarágua decorre muito da experiência guerrilheira de Daniel Ortega, na década de 1980, nas fileiras da Frente Sandinista (marxista). Na cadeira do poder, continua a verbalizar a sua oposição à influência dos Estados Unidos na América Central e — como o revela o problema da Ucrânia — em todo o mundo.
Os EUA, por seu turno, consideraram fraudulentas as eleições presidenciais de 7 de novembro do ano passado, na Nicarágua — que oficialmente Ortega venceu com 76% dos votos — e impuseram sanções a representantes do Estado.
CUBA
É outro país castigado por sanções internacionais, que vive sob embargo dos Estados Unidos desde 1958. Já com a ofensiva russa sobre a Ucrânia em curso, uma delegação parlamentar da Rússia, encabeçada pelo presidente da Duma (Parlamento), Vyacheslav Volodin, realizou uma visita de dois dias à ilha que é governada pelo Partido Comunista há mais de 60 anos.
“A determinação dos Estados Unidos em impor a progressiva expansão da NATO até às fronteiras da Federação Russa constitui uma ameaça à segurança nacional deste país e à paz regional e internacional”, defendeu o Ministério cubano dos Negócios Estrangeiros, num comunicado divulgado pouco antes da chegada dos políticos russos. “Cuba defende uma solução diplomática através do diálogo construtivo e respeitoso.”
A visita à ilha caribenha foi facilitada por uma decisão, esta semana, da câmara baixa da Duma, no sentido de adiar para 2027 o pagamento devido por Havana de algumas tranches da dívida cubana. Em causa está uma verba de 2300 milhões de dólares (2000 milhões de euros), concedidos pela Rússia a Cuba entre 2006 e 2019, para investimentos nas áreas da energia, dos metais e em infraestruturas de transportes.
NAURU
Antes de qualquer explicação, impõe-se localizar este país no mapa-mundo. Independente do Reino Unido desde 1968, Nauru é uma ilha do Pacífico que, em 1999, aderiu às Nações Unidas. Nesta organização, Nauru representa também os interesses da Ossétia do Sul, uma ex-república separatista da Geórgia que autoproclamou a sua independência em 2008, prontamente reconhecida pela Rússia.
A relação privilegiada entre Nauru e a Ossétia do Sul começou a ganhar forma em 2009 quando a pequena ilha seguiu a posição de Moscovo e também procedeu ao reconhecimento da soberania desse território, e também da Abecásia.
Hoje, esse precedente faz com que Nauru seja apontado como já tendo reconhecido a independência das regiões secessionistas ucranianas de Donetsk e Luhansk, embora não haja conhecimento de qualquer declaração governamental nesse sentido.
A expectativa surge em função da relação próxima que Nauru tem desenvolvido com a Rússia. Para um território com poucos recursos, qualquer assistência económica é sempre bem-vinda e gera consequências políticas — foi o que aconteceu entre os dois países. O início desta proximidade terá sido uma conferência de doadores, em 2005, organizada pelas autoridades de Nauru para apresentação da sua Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável e angariação de financiamento. A Rússia correspondeu como nenhum outro país.
A relação foi sendo sucessivamente alimentada com outros cheques. Segundo o jornal russo “Kommersant”, em 2009 — pouco antes da ilha reconhecer a independência das duas repúblicas do Cáucaso —, Moscovo desembolsou 50 milhões de dólares (45 milhões de euros) em ajuda humanitária a Nauru.
(FOTO Visita de Vladimir Putin e Bashar al-Assad, Presidentes da Rússia e da Síria, à Catedral Ortodoxa de Damasco, a 7 de janeiro de 2020, na Síria KREMLIN)
Artigo publicado no “Expresso Online”, a 26 de fevereiro de 2022. Pode ser consultado aqui